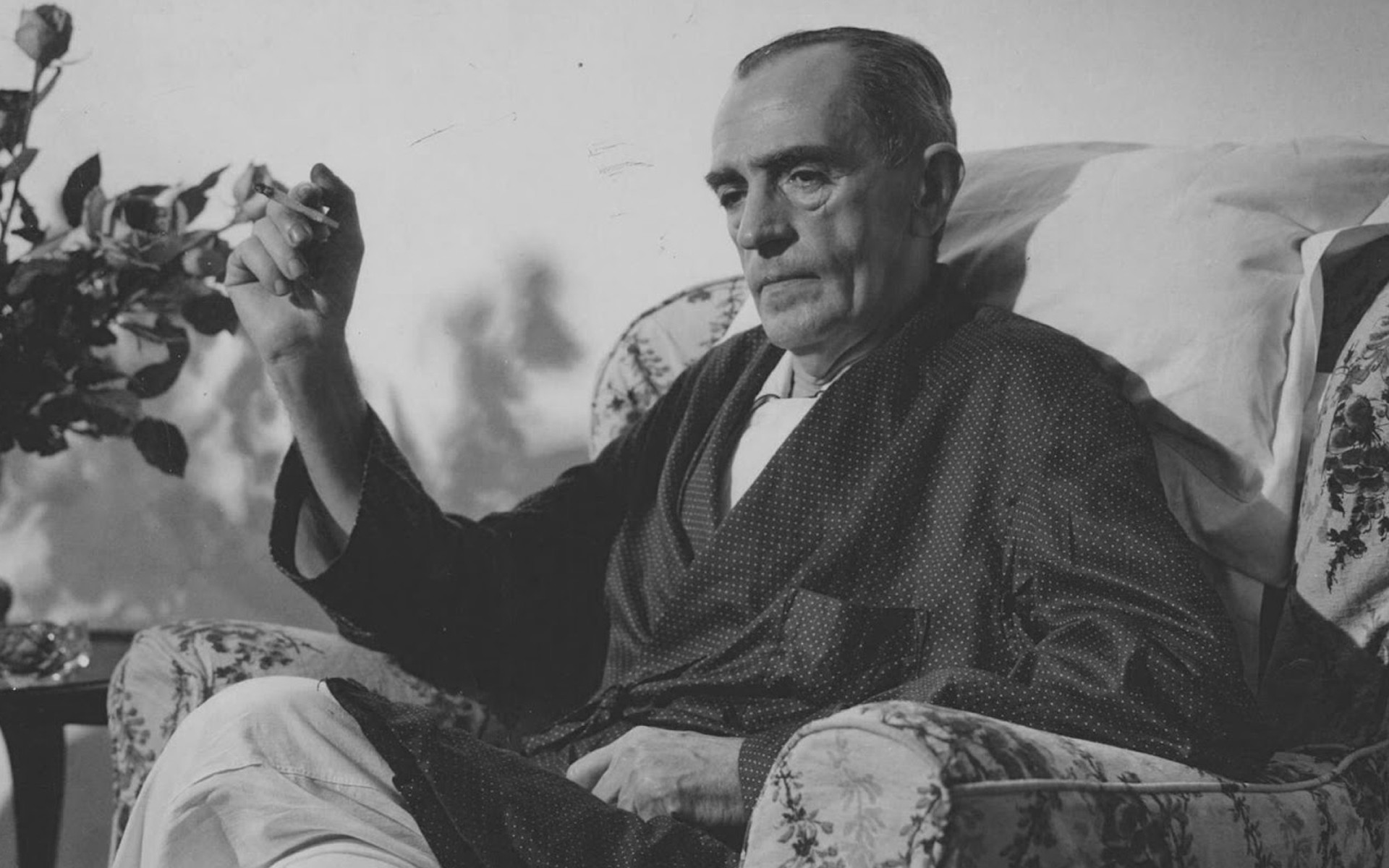
O trecho abaixo é parte da introdução do livro O drama ético na obra de Graciliano Ramos: leituras a partir de Jacques Derrida, de Gustavo Silveira Ribeiro. A obra foi recém-lançada pela Editora da UFMG.
***
A herança não é jamais dada, é sempre uma tarefa. Permanece diante de nós, tão incontestavelmente que, antes mesmo de querê-la ou recusá-la, somos herdeiros, e herdeiros enlutados, como todos os herdeiros.
Jacques Derrida, Espectros de Marx
Sob as três sílabas que compõem a palavra herança abrigam-se muitos sentidos e algumas questões. De maneira geral o termo assinala, se reduzido, por assim dizer, a seu estado de dicionário, o conjunto de bens, materiais e imateriais, que um indivíduo ou uma comunidade recebe daqueles que os precederam. No entanto, muito mais do que um simples verbete, o vocábulo é também um conceito (quiçá muitos conceitos) e uma metáfora. Discorrer sobre a herança é já discorrer, como parece ser óbvio, sobre o passado e a memória, o luto e a morte. E é falar também sobre a vida, sobre sua relação inevitável com o que foi e as perspectivas que necessariamente se abrem a ela para o que será. Pensar a herança, portanto, quer dizer pensar, ao mesmo tempo e de maneira indissociável, a tradição e o novo, o mesmo e o outro.
Junto a G. W. F. Hegel e Walter Benjamin, o filósofo franco-argelino Jacques Derrida foi um dos poucos pensadores a ver na questão da herança algo mais complexo e interessante do que apenas um modo de se relacionar com o que ficou para trás. Nas suas mãos o termo transformou-se em dispositivo conceitual, presente em muitas das suas principais contribuições à história do pensamento ocidental. O autor chega a afirmar que, sem uma reflexão específica sobre a questão da herança e do herdeiro, o próprio trabalho da desconstrução não seria possível. Tomando e analisando sempre os conceitos elaborados ao longo de séculos da história da filosofia como base de seu projeto teórico, a desconstrução procurou revelar os não-ditos que repousam entre as diversas estruturas do pensamento, surpreender o “momento dogmático” (DERRIDA, 2004c, p. 11) [nota 1] de cada um desses conceitos, resistindo, com isso, à preponderância da razão, do mesmo, do um e, numa visão de conjunto, da própria metafísica. Obviamente, a desconstrução se vê como herdeira daquilo mesmo que desconstrói, na medida em que, ao receber da tradição o conjunto de conceitos com os quais trabalha (não só apontando as suas fissuras e contradições, mas também criando a partir deles, de sua crítica e desdobramento, os seus próprios conceitos) ela – a desconstrução – se debruça sobre eles como quem toma sobre si o encargo de cuidar de um espólio, dos restos de uma vida: é preciso inventariá-la, filtrá-la, separando aquilo que deve ser conservado daquilo que deve perecer, mas sempre – e é aqui que a herança e a desconstrução se encontram – sempre se trata de receber e reelaborar o passado, de alguma maneira homenageando-o e distanciando-se dele.
Derrida entreviu a ligação profunda da herança com o presente, com o mundo dos vivos, e extraiu daí algumas reflexões. A mais importante delas, e que até agora não foi explorada diretamente neste ensaio, tem a ver com a noção de escolha, ou seja, com o trabalho ativo que é necessário fazer para que a herança (seu rito de passagem, suas consequências políticas, sua força simbólica) possa existir. Herdar pressupõe, assim, uma escolha, e uma dupla escolha, uma injunção que reúne em si passividade e ação. Em primeiro lugar, é a própria herança que escolhe aqueles que a vão receber, excluindo-os de qualquer decisão: “Não escolhê-la (pois o que caracteriza a herança é primeiramente que não é escolhida, sendo ela que nos elege violentamente)” (DERRIDA, 2004c, p. 12). Por outro lado, para que a herança, ou o ato de herdar, que lhe é próprio, se efetive, é preciso escolher: nem tudo o que chega do passado deve (ou pode) ser guardado. Novamente, conforme Jacques Derrida:
Ora, é preciso (e este é preciso está inscrito diretamente na herança recebida), é preciso fazer de tudo para se apropriar de um passado que sabemos no fundo permanecer inapropriável, quer se trate aliás de memória filosófica, da precedência de uma língua, de uma cultura ou de uma filiação em geral. Reafirmar, o que significa isso? Não apenas aceitar essa herança, mas relançá-la de outra maneira e mantê-la viva. Não escolhê-la (...), mas escolher preservá-la viva. (DERRIDA, 2004c, p. 12; grifo do autor)
O herdeiro, assim, é aquele que, a um só tempo, responde afirmativamente ao chamado, ao imperativo da herança, e escolhe, filtra, seleciona qual parte, ou partes, daquilo que recebeu seguirão adiante. Passividade e ação: o herdeiro deixa-se enredar pelo passado, passivamente reconhecendo e aceitando a carga que este deposita em seus ombros; ainda assim, sem abrir mão da crítica e do julgamento, ele deve de modo ativo escolher o que carregará – respondendo, assim, e só dessa maneira pode haver resposta – ao chamado que lhe foi dirigido.
Escolha, resposta, afirmação. Todas essas palavras, intrinsecamente relacionadas à ideia da herança, apontam numa direção comum, indicam uma mesma questão que lhes é subjacente: o problema da ética. Persistindo no raciocínio derridiano que de alguma maneira tem nos orientado até aqui, podemos depreender que ao dizer sim a uma herança específica, ao preferir atuar sobre ela, modificando-a, reelaborando-a (mas ainda assim, ou por isso mesmo, mantendo-a viva) o herdeiro – termo que aqui ocupa um lugar que caberia, talvez de maneira mais genérica e menos precisa, ao de sujeito – mergulha decisivamente no universo da ética, que é por excelência o campo da escolha, da afirmação de valores, do debate infindável em torno das intrincadas relações com a alteridade. Nesse sentido, e apesar da carga de contingência e passividade que de modo contraditório também marcam a noção de herança, o seu aspecto mais produtivo, e que a este trabalho fala algo mais diretamente, parece ser mesmo aquele que diz respeito à possibilidade da decisão e da resposta, à atitude de transformação e crítica que o herdeiro pode (e talvez deva) assumir diante do passado, do pensamento, de si e do outro. Para dizer em uma só palavra: é a relação entre a herança e a ética, com todas as implicações que tal aproximação necessariamente vai suscitar, o que nos interessa aqui.
Essa espécie de infidelidade paradoxal à herança, que ao mesmo tempo faz com que ela deva ser transformada e preservada, essa obrigação de escolha e crítica que o sentido ético do termo passa a exigir, nos servirá como ponto de referência, como norte a buscar para a concretização do esforço a que este ensaio se propõe: construir uma leitura da obra de Graciliano Ramos (dando especial atenção ao drama ético que nela se desenrola, tanto em sua porção abertamente ficcional quanto em seus textos de teor autobiográfico) calcada no diálogo contínuo com proposições e conceitos de Jacques Derrida, de modo não só a aproximar os dois autores mas também deixar algumas indicações mais amplas sobre as relações possíveis entre a literatura e a ética.
Na medida em que, como leitores, somos sempre herdeiros, pois que o ato da leitura, em si, pressupõe anterioridade e transmissão, elementos constitutivos da problemática da herança, o trabalho com textos literários e filosóficos deve se pautar pelos mesmos critérios com que o herdeiro – agora também um leitor – se debruça sobre o seu espólio. Assim, a leitura que propomos de Graciliano Ramos e Derrida pretende ser fielmente infiel às suas obras, desdobrando com atenção temas e episódios que nela estão anunciados e, também, criando (a partir dos pressupostos desses mesmos textos) conceitos, questões e categorias que nos sirvam para lê-los melhor.
Se a ligação de Derrida com o conceito de herança já está sumariamente esclarecida, é preciso ainda dizer porque tal noção tem algo que ver com a obra de Graciliano Ramos, antes de partirmos para o exame comparativo das obras desses dois autores que aqui nos interessam, e da fortuna crítica construída em torno delas. Como é óbvio, no caso do romancista alagoano não se tratará de mostrar como o conceito foi pensado, de maneira sistemática, no conjunto de seus textos. Menos que um tema e mais que uma simples referência, a herança em Graciliano se apresenta de maneira ambígua e enviesada como um problema teórico com o qual ficção tem de lidar. Um momento específico de seus livros de memórias pode ilustrar o que afirmamos.
Em Infância, volume que narra, como uma espécie de romance de formação (cf. MIRANDA, 2004, p. 52) [nota 2], os primeiros onze anos de vida do autor, a reavaliação do passado se coloca em primeiro plano. Tendo vivido uma infância que não se poderia chamar feliz, sem apoio familiar e sem brincadeiras, o autor-personagem apresenta o sofrimento por que passou sem querer deter-se exclusivamente no passado e nas sensações então vivenciadas. Numa perspectiva contrastiva, ele confronta as lembranças de outro tempo com os afetos do presente, numa tentativa de rever criticamente a criança que ele foi e o homem que agora – no tempo da escrita – é. Sem deixar de condenar os maus-tratos e abusos da “bárbara educação nordestina” (RAMOS, 2008, p. 538) [nota 3] que recebeu, ele procura no entanto não condenar tudo, não fazer tábula rasa de sua infância, ressaltando os muitos elementos desse período que nele permaneceram (voluntariamente permaneceram, e isso é o mais importante).
O desejo manifesto de rever o passado sem enquadrá-lo em julgamentos pré-determinados, sem defini-lo como algo apenas positivo ou apenas negativo, o trabalho cuidadoso com o passado que se caracteriza, ao mesmo tempo, pelo esforço crítico e pela necessidade da reafirmação, da ressignificação de episódios e personagens, em muito se assemelha com o trabalho que descrevemos antes associado à problemática da herança. Em ambos, trata-se de uma tarefa complexa, delicada, que envolve receber (ou recordar, no caso de Graciliano) uma massa de informações e valores pretéritos e com ela construir um novo objeto, um novo saber, no presente, e lançá-lo ao futuro.
NOTAS
[nota 1] DERRIDA, Jacques & ROUDINESCO, Elizabeth. De que amanhã... Diálogo. Trad. André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.
[nota 2] MIRANDA, Wander Melo. Graciliano Ramos (col. FolhaExplica). São Paulo: PubliFolha, 2004.
[nota 3] RAMOS, Graciliano. Memórias do cárcere. São Paulo: Record, 2008.