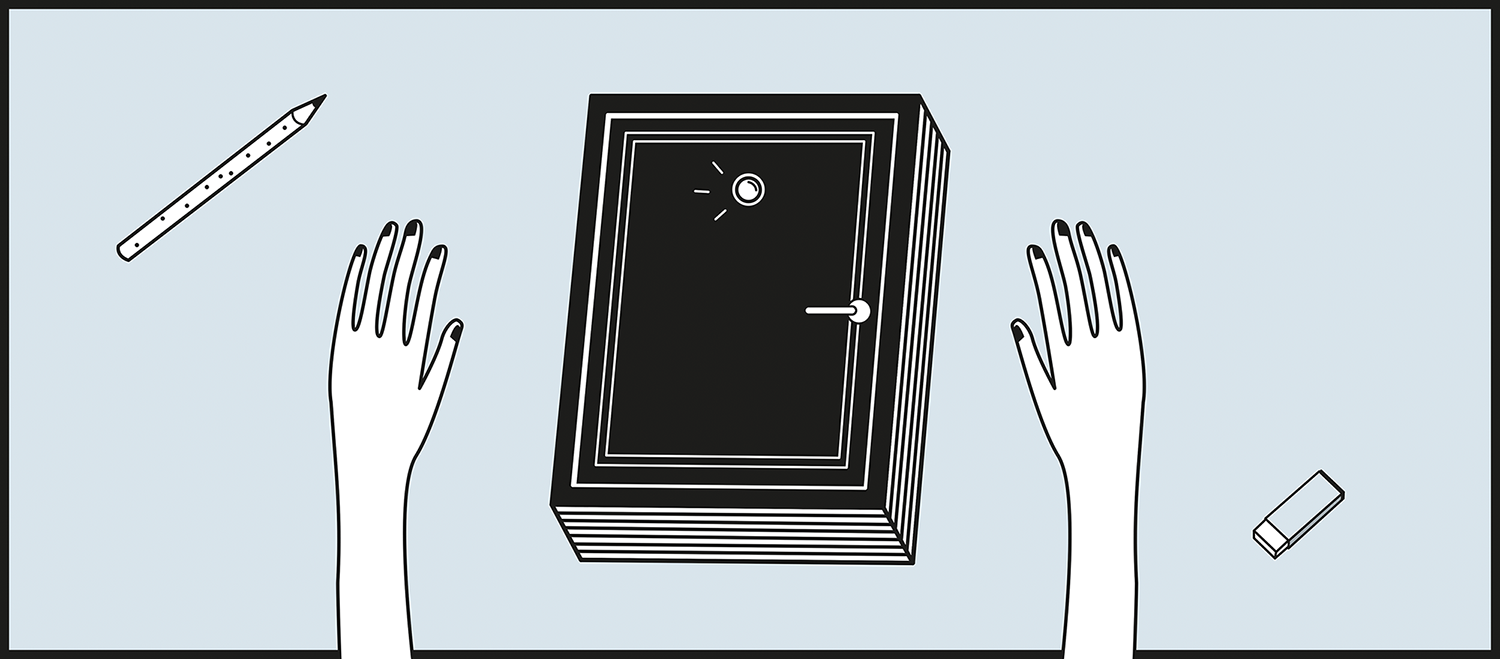
Ismar Tirelli Neto é poeta, roteirista e tradutor, e recentemente se mudou de Curitiba. Aqui, uma ficção sobre esse processo de despedida – um “conto-vivido”, como ele mesmo chama.
***
Há cerca de três anos, quando anunciei para os meus amigos que estava abandonando o Rio de Janeiro e me mudando para Curitiba, todos se mostraram incrédulos. Por quê? Por quê?, afligiam-se, e meu cardápio de motivos sensatos – qualidade de vida, aluguéis mais em conta, emprego assegurado na sucursal paranaense da firma onde eu então trabalhava etc. – não parecia convencê-los de todo. Pus-me então a trabalhar num motivo insensato. Adquiri o hábito de responder, sempre que me perguntavam por que eu estava de mudança para Curitiba, justamente para Curitiba, que estava indo para lá “aprender a morrer”.
Isso pareceu serená-los.
***
Uma pessoa habitua-se a dizer adeus. Os gestos voltam. Os do corpo e os da mente. Voltam, por assim dizer, de forma orgânica. Hasteia-se a mão. Os dedos estendem. Amarrado às falanges – proximais, médias, distais –, drapeja o adeus, bandeirola no vento, salgamos a batatinha com lágrimas. Bastante melancólica, a coisa toda.
Acotovelada pelo “adeus” – e.g.: Adeus, mundo cruel! –, a mente passa a computar os rombos. Vai falhando o mundo e sua crueldade. Lança-se a uma série de apagamentos estratégicos. Desfaz datas, rostos, detalhes comoventes. Torna inexato.
Uma pessoa habitua-se. Não aprende, não razoa. Habitua-se. Mesmo ao caráter solene e pesadão da palavra, habitua-se. Caso raro em que a palavra é tão solene quanto o ato. Há uma equivalência, um bote, partamos disso.
Estou dizendo adeus. Aceno uma palavra velha, palavra de antiquário. Aceno uma palavra embolorada. Nenhum esforço para torná-la atraente ao público jovem. Adeus, envelheço com ele, emboloro com ele, misturo-me à cacarecada. Posto no mundo para ser derrubado pelos elefantes.
Estou dizendo adeus a esta casa. Ao dizê-lo, colho as paredes em volta um pouco mais pálidas. Perda de azul, uma impessoalidade que se insinua. Meus olhos cravam-se em quinas, cantos, teias de aranha, manchas de café no carpete. Tudo quanto possa trair a presença de seus moradores. Isto não difere em nada de memorizar um corpo. Uma casca que me serviu, de que começo a me descolar.
Casas, cascas. Pareço ter fracassado em construir uma casca de palavras. Azar.
Estou dizendo adeus. Estou tomando providências. Reservei passagens de ônibus. Agendei visitas. Escrevi para nosso senhorio, alertei-lhe de nossos planos, justifiquei-me muito mais que o razoável. Sobre a mesa, um cardápio de motivos sensatos.
Mais oportunidades de trabalho, um circuito cultural vibrante, o vago desejo de pertencer a uma comunidade.
O nada vago desejo de me desenterrar de uma cidade.
Com isto, com esta operação impossível, não estou dizendo “até a próxima”. Dizendo adeus, compenetro-me de que não haverá “próxima”, compenetro-me de que a casa está se encaminhando, não só de volta ao meu senhorio, mas também para o “tempo não visitado”. Isto é de um poema do Drummond, um poema chamado Maud, uma sua conhecida falecida num desastre de avião.
Do tempo não visitado surge Maud
e volta
para o tempo não visitado.
***
Os meus mortos, por exemplo. Não são muitos. O meu quinhão. Não os convoco com a intenção de parecer sofrido. Antes para demonstrar que ainda estou buscando uma posição a assumir diante deles, com relação a eles.
Desde que meus mortos começaram a morrer – e há alguns anos eles não vêm dando trégua – habituei-me a pensar neles como habitantes do “tempo não visitado”. Repiso, não aprendi. Não aprendi nada. Impossível falar com honestidade de um aprendizado. A menos que possamos falar de um aprendizado dos olhos, das mãos, das pernas, do peso. Um hábito forma-se, borda-se na vida pela prática até a irreflexão.
Habituei-me também a pensar no tempo, nos tempos, como regiões. Retiro com palavras o tempo do informe. Ponho tempo com as palavras que dizem lugar, que significam em torno de lugar. Eu não sei por quê. Me tranquiliza.
Outro exemplo – bem batido – que me ocorre, volta e meia. A primeira frase do romance O mensageiro, de L. P. Hartley. “O passado é um país estrangeiro, lá fazem as coisas de forma diferente”.
Estou dizendo adeus, pragmatizo. Os gestos já são suficientemente melancólicos, não há necessidade de acrescentar nada. Como facilitar a passagem destes anos, lugares e rostos para a memória? Estes recintos de permeio, as peças de piso encerado que se colocam entre presença e ausência, o que são elas? Como nomeá-las? Luto?
Estou dizendo adeus. Isto não é novo, já faz anos que digo adeus. A pessoas que são lugares, a lugares que são anos.
Sentirei falta daqui, desta casa que deixaremos para breve, ela comporta alguns anos decisivos. As caixas não comportam.
***
Até onde sei, o Cortázar nunca chegou a escrever umas “Instruções para Despedir-se”.
***
“Comoção de minha vida”. Não, não, muito pouco suspiroso. Outra vez. “São Paulo! Comoção de minha vida...”.
Pronto. Agora, sim. Podemos começar. Deixamos, eu e o corretor, o edifício da Major Diogo rumo à tarde cinzenta e abafada. Ele menciona que há mais três apartamentos na minha faixa de preço para mostrar nas redondezas. Concordo em vê-los, afinal, estou aqui para isso. Ato contínuo, ele dispara ladeira acima. Busco emparelhar com ele, mas sua disposição não é páreo para mim.
Esta será apenas a primeira de muitas ladeiras que terei de subir aos trancos e barrancos no dia de hoje. Todas bastante reais, embora me golpeiem também com seu potencial metafórico. Fico a alguns passos de distância, mas sempre ao alcance da voz:
– Circulo mais que notícia ruim por essas bandas, não consigo sair dos três dígitos.
O corretor preenche bem sua camisa quadriculada. Pançudo como eu, porém muito mais alto. Deve ter uns cinquenta anos. Só de olhar, não há absolutamente maneira de saber se foram bem-vividos.
Agora o Misericordioso nos envia uma rua plana. O corretor diminui o passo, aproxima-se da guarita de um edifício. Apresenta-se à porteira, anuncia que está lá para mostrar o apartamento Tal para um cliente. Enquanto avançamos pelo hall de entrada, agora em ritmo menos atlético, ele acha por bem deter-se no fato de que estou bastante fora de forma. Pergunta se fumo, respondo que sim – muito mais do que deveria e há muito mais tempo que o “normal”. Sem nenhuma hesitação – as pessoas desprovidas de hesitação exercem sobre mim um fascínio mórbido –, conta que largou o cigarro há mais de trinta anos, após uma “situação em sua vida”.
Não demonstro nenhuma intenção de me aprofundar no assunto. Não preciso. Entramos no elevador:
– Um amigo meu, moço também. Começou a ficar sem fôlego, foi ver, era enfisema. Morreu três meses depois. Moço como você.
Agora somos três e não há maneira de desfazê-lo. Eu, este pateta, o amigo do enfisema. Não percebe o peso que nos deu. Penso, repetidamente e cheio de rancor: pateta, pateta, pateta. De fato, vejo semelhança entre o corretor e o personagem da Disney. A boca. Lábio de cima projetado sobre o inferior, dentes da frente separados, um sorriso desses que encharcam a voz, saem pingando.
Um homem que se entusiasma:
– Melhor do que isso, só dois disso!
Um homem que instrui:
– Não é bem um terraço, está mais para um solar.
Um homem honesto:
– Este está detonadinho.
Um homem com uma história para contar:
– Vinte anos de serviços prestados e me puseram na rua, sem mais nem menos. Passei um tempão sem saber o que fazer da vida até me aparecer esse curso de corretagem. Foi o que me salvou. Atuo na área há oito anos.
Salvação. Ora, eis um tema, um motivo a acompanhar. “Sem saber o que fazer da vida”, “foi o que me salvou”. Que me salvará a mim, Pateta? Será mesmo tarde demais para recomeçar? Não estarei, por assim dizer, muito fora de forma? Depois de quatro apartamentos inteiramente indiscerníveis entre si, o corretor conta que tem uma visita agendada em Santa Cecília dentro de uma hora. Pergunta se não quero acompanhá-lo, dar uma vista de olhos no imóvel antes da chegada do outro cliente. Estou exausto e deprimido o suficiente para propor irmos de Uber, eu pagando. Santa Cecília calha de ser o bairro onde estou hospedado, em casa de amigos cariocas que já vivem em São Paulo há uns cinco anos.

Durante todo o trajeto, o corretor não para de questionar as escolhas do motorista. Disparam-se nomes de ruas de cá para lá, de trás para frente. Estão esgrimindo suas cidades, a cidade de um e a cidade do outro. Para não me perder nelas procuro afundar no assento, dessintonizar, me entregar à paisagem, mas o dia está com cara de poucos amigos. Lúgubre como a cidade que queremos deixar.
Choverá feio durante todos os três dias de visitação. A essa altura, ainda não sei disso. A essa altura, espero abstratamente rever estas paisagens sob um sol brando e claro, a uma outra luz, a alguma luz. Porque eu sou uma pessoa frágil. É o que vivo escutando, de ladeiras, de pessoas. Temo inclusive olhar demais. As consequências disso. Demasia de viadutos, passarelas, escadarias, ladeiras. Um passo em falso, danou-se. Como tornar-se legível, linear numa cidade como essa? Onde é fixo? Onde entocar-se?
O apartamento de Santa Cecília é um encanto. Mobiliado, também. Compreendo melhor os espaços. Há lugar para nossos livros, paredes para nossos quadros. O edifício seduz com suas comodidades, lavanderia inclusa na taxa condominial, três cargas por semana, “só não fazem cortina e edredom”.
Vê-se, do solar, a estação de metrô mais próxima. O metrô, grande tentatore! Milhões de pessoas ensardinhadas em vagões metálicos, batalhando apoio, batalhando um bocado de ar. Meu coração chora por vocês. Por todos vocês que foram lançados sem aviso e sem querer nesta, a mais cruenta das Olimpíadas do Faustão.
Volto-me.
O proprietário – o inquilino anterior? – deixou para trás mais sobras do que seria de esperar. Produtos de higiene bucal, retratos de família no estrangeiro, uma pequena biblioteca de tomos jurídicos. Dentro de um dos armários, vejo uma caixinha para transporte de gatos. Mas não posso deixar meu desvairado amor pela humanidade me distrair agora.
Começo a pensar nos objetos da casa que estamos prestes a abandonar como sobras, coisas tocadas e remiradas por estranhos. Elas, as coisas, não sabem ainda o que são. Nem eu.
No decorrer dos próximos dias me pegarei pensando inúmeras vezes se não deveria estar rumando na direção contrária. A cada percalço – visitas desmarcadas em cima da hora, notificações de que os apartamentos encontravam-se indisponíveis minutos depois de os ter visitado –, ressurgirá com diabólica insistência a pequena cidade no litoral catarinense onde vivem meus sogros, os quais acabamos de visitar.
Não é para a praia que eu deveria estar indo? Para os deques, para o mar? Fora de temporada, vive-se bem lá. Verdadeiros casarões a preços acessíveis. Não, eu não preciso de cidades. Preciso é desta calmaria. Eu preencheria muito bem esta calmaria. Por que estou indo para o lado oposto?
Porque quero. Viver aqui seria, de fato, viver. O vibrante, o vário de uma grande metrópole. Seu dinamismo. Seu desvario. O deus ex machina espreitando a cada esquina.
Mas nada me chama afora isso. Um capricho. Querer. Desde quando querer basta para alguma coisa? Além do mais, há outras coisas que quero também, outros desejos que reconheço, que encontro sem muito escavar. Me alhear, por exemplo. Me alhear completamente. Sumir. Fechar a matraca. Não emigrar do meu roupão. Esquecer capitais e bandeiras. Burlar artigos de opinião. Atear fogo à biblioteca. Não ter mais que negar, não ter mais que acatar. Não ter que participar de coisa alguma nunca mais. Me desobrigar em definitivo de um mundo que está seguramente indo para o Diabo.
Nenhuma proposta de emprego irrecusável, nenhuma situação. Terei de contar com a bondade de estranhos. Para mal ou para bem, forjamos em Curitiba uma vida cabível. Pequena, sim, mas perfeitamente funcional. Como sou uma pessoa frágil, prezo muito estas pequenas vitórias. Pude largar o escritório, associar-me a uma pequena firma de tradução, realizei o antigo sonho de trabalhar em casa. Todas as veleidades de reconhecimento artístico devidamente jogadas no lixo, fui me tornando com o tempo um ermitão simpático, um sujeito “chá com bolachas”.
Sou um poeta “difícil” num país onde 44 % da população simplesmente não lê. Preciso ser realista. Não espero mais nada da vida afora talvez um sofá maior.
Realismo. É o que faz com que eu me apresente aos corretores unicamente como tradutor, afetando a máxima respeitabilidade.
***
Passamos a palavra ao amigo que me está hospedando:
– Engraçado, pensando por alto, nenhum amigo nosso que veio se estabelecer aqui voltou para o lugar de onde veio. Não que não tenham passado por maus bocados. Enfim, deve ser a promessa. A cidade promete tanto, que as pessoas pensam: “só mais um pouco, mais alguns meses, quem sabe algo de extraordinário...”.
Nas horas vagas, venho tentando traduzir um ensaio da Joan Didion para me exercitar, não na tradução, mas no adeus. Chama-se Goodbye to all that. Nele, a autora rememora os verdes anos vividos em Nova York.
“Eu ainda acreditava em possibilidades naquela altura”, diz ela em algum momento, “ainda tinha a sensação, tão peculiar a Nova York, de que algo extraordinário iria acontecer a qualquer momento, qualquer dia, qualquer mês”.
Eu não acredito mais em possibilidades. O extraordinário já não acontece, já não acontecerá. Eu não sei por que escolho voltar à vida, por que volto a perseguir o trio elétrico. A vida não me convenceu de todo.
Esta é a verdade.
É igualmente verdade que estou dizendo adeus a esta casa porque já me enxergava envelhecendo, morrendo nela. É igualmente verdade que comecei a dizer adeus a esta casa no instante em que percebi que poderia, de fato, irremissivelmente, passar nela o resto da minha vida sem que ninguém me impedisse, sem que ninguém viesse tentar me demover.
***
Não aprendi a morrer. Prova disso é que me meto pela primeira galeria que encontro pela frente para escapar ao toró. Caminho a esmo, os chinelos ensopados, enquanto a chuva não dá trégua. Acabo parando diante da vitrine de uma livraria muito bonita, cheia de velhos livros de arte. Fechada, infelizmente. Surpreendo-me pensando que devo voltar lá o quanto antes. Assim que estivermos instalados. Então compreendo – Já estou aqui. Já estamos aqui.
***
Ninguém pareceu realmente surpreso quando anunciei que estávamos, eu e meu marido, de mudança para São Paulo.
Todos ficaram surpresos com o deus ex machina sobrevindo à altura do Edifício Copan em meu último dia de visitações.
Caminho sob a marquise revolvendo uma imagem. Diante de um anfiteatro lotado, um homem sobre um palanque ergue a mão direita e começa a acenar lentamente.
Todos no anfiteatro repetem o gesto.
Vejo o anfiteatro acenando enquanto caminho sob a marquise. Salto cadáveres e poças d’água nas cercanias do Edifício Copan quando avisto de longe uma conhecida.
Uma conhecida simpaticíssima. Uma conhecida que pergunta o que vim fazer em São Paulo.
Uma conhecida que, ao saber de nossos planos, de nossas dificuldades em encontrar uma situação residencial realista na Desvairada, pergunta se não estaríamos interessados em ocupar seu apartamento próximo à Paulista por seis meses a partir de novembro, período ao longo do qual estará fora do país por motivos de trabalho.
“Só em São Paulo”, diriam alguns. Só em São Paulo uma pessoa pode ser resgatada assim tão dramaticamente pelas circunstâncias.
Então, estou dizendo adeus a uma cidade que não nos resgatará nunca. Uma cidade que não é pacata, apenas triste. Estou dizendo adeus aos dias cinzentos a perder de vista. Não apenas a esta casa, verdadeira “comoção de minha vida”, jazigo, suíte nupcial, escritório, perpetuação do quarto de menino. Não apenas aos poucos e fieis amigos que ficam. Não apenas às estoicas capivaras do Parque Barigui, ao Café Tiramisu, ao Sebo Fígaro.
Estou dizendo adeus à dona da padaria aqui do lado, onde, apesar de frequentá-la por três anos, nunca soube se era bem-vindo. A cada vizinho que me viu chegando cheio de sacolas de supermercado e mesmo assim deixou fechar a portar do elevador. Estou dizendo adeus à melancolia bronca de sua gente. Seu silêncio venenoso, seu amor irracional pelo protocolo.
Estou dizendo adeus a uma cidade que não perdeu uma oportunidade sequer de me torcer seu arrebitado nariz, de dar a ver que eu não tinha nada que fazer aqui. Vocês estavam certos. Não tenho mesmo.
Adeus, burgo cruel! Uma pessoa habitua-se, por fim.
Desenraizar-se de paisagens, de pessoas. Amadas ou odiadas. Em todo caso, profundamente vividas. Tão triste quanto possível. É o que nos quer dizer a permanência.
Damos ouvidos?
Os sons improváveis, ligeiramente metálicos que a vida faz. Seu costume de avançar, cega e rangente, mesmo quando não há nada lá. Eu avancei, eu avanço. Por halls, portarias, ladeira acima. Sei que não caí nos rombos deixados pelas pessoas e paisagens que desapareceram de mim. Sei que não estou lá dentro porque tenho olhos aqui fora. Porque vejo tudo continuando. Porque estas continuidades neutras, objetais, me lembram que eu próprio continuo, que tendo a continuar. Por assim dizer, de forma orgânica.
Eu não tinha um método para não cair. Eu não desenvolvi um método ao longo dos anos. Pode-se dizer que sobrevivi a tudo por milagre. Sim, é um milagre que um sujeito frágil como eu não tenha caído.
Subo num palanque ao centro deste texto, ao centro deste milagre, e aceno. Quase extático. Ter a despedida nos olhos, nas mãos, não conforma lição de nada. Uma pessoa habitua-se. Ela não aprende. Ela nunca aprende.
Ela cava mais uma toca em qualquer outra parte e torce.
***
Eu penso bastante no Rio de Janeiro.