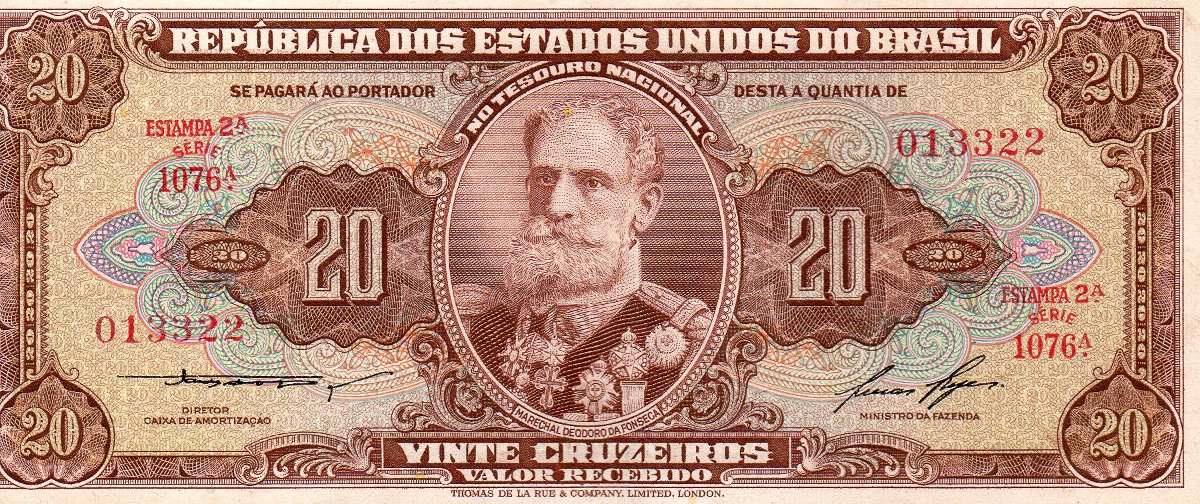
O próximo dia 15 marca os 130 anos da Proclamação. A efeméride já seria adequada para refletirmos sobre os sentidos da palavra “República” na nossa história, mas o atual cenário político deixa os contornos desse esforço mais fortes e urgentes.
Abaixo, um dos verbetes do Dicionário da República (Companhia das Letras), organizado por Heloisa Starling (UFMG) e Lilia Schwarcz (USP), que reúne 51 verbetes que orbitam em torno da palavra e das experiências relacionadas a esse tipo de estrutura política.
O verbete, assinado pelo professor e cientista político Fernando Filgueiras (UFMG), trata dos vícios da República, assunto sempre relacionado à temática da corrupção.
***
VÍCIOS DA REPÚBLICA
Uma República tem a sua existência assentada no império da lei e nas virtudes dos cidadãos. Encontramos na filosofia diversos argumentos que tomam essa direção. De um lado, a preocupação com as estruturas mais amplas das leis e instituições, como nos diversos argumentos de Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.). De outro, na potencial decadência decorrente de vícios republicanos que corroem o império da lei, como em Maquiavel (1469-1527).
Diversos pensadores republicanos apontarão esses dois elementos como pilares centrais da vida na pólis. No jargão mais contemporâneo, o império da lei deve configurar instituições sólidas, que delimitam estruturas de governo que busquem o bem comum. As virtudes representam microfundamentos do governo, tendo em vista uma moralidade que delimita comportamentos e ação pública.
Os vícios corrompem as instituições, promovem a decadência e criam contextos de crise e imprevisibilidade. A história da grandeza de Roma, por exemplo, que tanto mobilizou pensadores republicanos, é a história de um povo motivado pela fortuna, que cultivava as virtudes de uma vida pública. Os vícios, no entanto, representam aqueles momentos em que os microfundamentos da vida republicana se esvaem e corrompem o império da lei.
Salústio (86 a.C.-34 a.C.), escrevendo sobre a decadência romana na Conjuração de Catilina, apontou essa relação entre virtudes e vícios: “Sendo eu jovem, no princípio fui arrastado como a maioria pela paixão à política e nela muitas coisas me foram adversas, pois no lugar da temperança e da integridade prevaleciam o despudor, o suborno e a avareza. E ainda que meu espírito desconhecedor das más artes depreciasse tudo isso, não obstante entre tão grandes vícios, minha tenra idade se corrompia com a ambição. E ainda que discordasse dos maus costumes dos demais, a ânsia por honrarias me deixava não menos que aos outros com a maledicência e com a inveja”.
Os vícios não representam um conjunto determinado de ações. Essas ações são diversas, complexas e têm natureza própria. Salústio, por exemplo, fala da avareza, do despudor, do suborno e da corrupção pela ambição. As consequências da extensão dos vícios são corromper o império da lei, esvaziar de sentido a vida pública e promover crises. Os vícios, assim como as virtudes, representam uma potência na vida pública. As virtudes alimentam a grandeza, a capacidade de ação coletiva e o direcionamento para uma concepção de bem comum. Já os vícios potencializam a corrupção, as crises e as mudanças.
A corrupção, no pensamento republicano, não é um caso isolado ou uma ação específica. É um conjunto complexo de vícios que promovem a degeneração da República. A virtude é o elemento estabilizador da ação pública, que permite identificar o critério de legitimação do governo com base na busca da felicidade. Aristóteles, por outro lado, considerava que a potência dos vícios promoveria naturalmente a corrupção da República. Já Maquiavel atribui aos vícios uma natureza humana.
Neste verbete, portanto, não pretendemos conferir aos vícios um sentido moralista e totalizante, nem um acordo moral da comunidade que se sobreponha aos indivíduos. Sendo da ordem da natureza humana, as virtudes e os vícios da República representam um conflito motivado por valores, em uma natureza conflitiva, ambígua e ambivalente dos homens.
Os vícios, por conseguinte, estão na ordem de uma potência. Fazem parte de uma potência permanente, que pode ser mitigada — ou adiada — pela ação pública dos cidadãos na pólis. Os vícios são por vezes contidos pela capacidade de as instituições imporem o império da lei e de uma cultura política reproduzir os valores, sentidos e histórias que configuram a ação humana. Essa é a grande lição dos pensadores republicanos: a política é a arte de construir ações coletivas e o bem comum, ao passo que a corrupção é a degeneração das instituições motivada pelos vícios.
Os vícios, ao corromperem a República, compõem o manancial complexo da corrupção. Examinada por pensadores como Maquiavel e Aristóteles, a corrupção faz parte da natureza humana. Homens são seres imperfeitos, ambivalentes e ambíguos; não se pode esperar uma moralidade totalizante que os proteja da potência dos vícios. Essa moralidade é construída a partir de valores compartilhados e de diferentes perspectivas acerca das virtudes. A virtude da República romana, como destaca Maquiavel nos Discorsi (1519), residia no conflito entre o Senado e o povo. O conflito não teria degenerado a República, mas avivado as virtudes da vida pública e impedido a corrupção dos tribunos.
Os vícios, no sentido republicano, promovem, dessa forma, a corrupção, que, por sua vez, degenera a República. A corrupção coloca a política em um movimento degenerativo, produzindo patogenias no âmbito da comunidade. A vida comum se degenera pela avareza, suborno e despudor. E a autoridade política se corrompe à medida que os vícios potencializam a fraqueza dos homens e destroem o bem comum. A corrupção, portanto, por ser a prática recorrente de uma ação pública viciosa e degenerativa, configuraria o mundo dos vícios.
Sendo assim, ela é pensada como um comportamento de autoridades públicas que se desviam das normas formais e informais a fim de servir a interesses particulares. De fato, os cidadãos identificam a corrupção na dimensão do Estado e dos cargos públicos e a compreendem como um tipo de comportamento desviante. Além disso, há na dimensão do cargo público uma concretude da corrupção que se mede pelo dinheiro. Ações ilegais e movidas por puro interesse privado têm no dinheiro o seu elemento essencial — e é algo concreto que todos conseguem entender. O dinheiro indevido — e sua monta — representa a concretude da corrupção.
Contudo, compreender a corrupção nessa chave conceitual pode levar a alguns problemas. Em primeiro lugar, essa definição se concentra na ação de servidores públicos, sem observar o papel de corruptores, tanto na dimensão pública quanto na privada. Ademais, essa definição centrada nos cargos públicos situa a corrupção na dimensão do Estado, sem dar conta das relações deste com a sociedade como um elemento importante para se compreender seu alcance e suas causas. Agentes privados também podem ser corruptos e corromper agentes públicos.
A corrupção tem um aspecto comportamental. Exige-se dos agentes públicos compliance (observância) aos princípios e normas da administração. Como comportamento, a corrupção é um vício plástico e flexível. Um dos problemas para o mundo jurídico é caracterizá-la como tal e não como ações específicas — por exemplo, lavagem de dinheiro, clientelismo, patronagem, influência indevida em decisões políticas, nepotismo, prevaricação ou superfaturamento de obras. A corrupção, no fundo, é um conjunto complexo de diversas ações — ou de diversos vícios. A lavagem de dinheiro é um crime de natureza própria. O nepotismo também o é. São vícios perturbadores da vida republicana. Mas quando é que se tornam corrupção?
O elemento que distingue a corrupção é o fato de ser um juízo moral, emitido pela sociedade contra ações que degeneram o interesse público. Por isso a corrupção é um conjunto complexo de vícios. Mas não saberemos quais são os vícios se não soubermos quais são as virtudes. E para entendermos o que é o vício da corrupção precisamos entender quais são as virtudes pretendidas em um arranjo institucional republicano. E precisamos, também, compreender o contexto histórico no qual essas instituições se inscrevem. Instituições não são alheias à história, assim como não são alheias à moralidade. A moralidade nos coloca o desafio das virtudes pretendidas em uma sociedade.
O desvio de recursos públicos é uma ação criminosa, mas recebe o status de corrupção em função dos juízos emitidos pela sociedade, considerando o conjunto de valores e de normas pressupostas que definem o interesse público. Trata-se de um vício específico, de natureza própria, mas que ganha o status de corrupção uma vez que subverte normas pressupostas do interesse público, tomando como base que essas normas compreendem regras e valores.
O que deslinda o vício da corrupção é o fato de esse conjunto de ações afetar a comunidade como um todo, promovendo exclusão econômica e política. Econômica porque a corrupção é causa de desigualdade, de ineficiência nos serviços públicos e de mau funcionamento da gestão pública. Política porque degenera os procedimentos eleitorais e sistêmicos, suprimindo da cidadania e do sistema representativo a capacidade de decidir coletivamente.
Sendo um conceito normativamente dependente, o juízo moral que delimita e define a corrupção está sujeito ao processo de justificação e de aplicação de normas. No plano da moralidade, o que se espera no trato com o interesse público é que os agentes — tanto privados quanto públicos — se comportem de maneira correta, tendo em vista o cumprimento dos deveres, a honestidade, a confiança pública e os costumes da comunidade. Uma vez que se espera correção no plano da ação de agentes públicos e privados, não é possível descartarmos a interface do conceito de corrupção com o problema da Justiça.
A corrupção, dessa forma, é o conjunto dos vícios na vida pública. É a imoralidade de uma vida institucional alheia aos cidadãos e, ao mesmo tempo, por eles confrontada.
Na vida pública contemporânea carregamos, porém, um paradoxo. A corrupção se dá em um contexto institucional que delimita comportamentos e práticas, plasticidade e complexidade. Na ordem das democracias liberais, a vida pública deve coexistir com uma vida privada marcada pela racionalidade instrumental, orientada ao sucesso individual.
O paradoxo reside justamente na ideia liberal do século XIX de que os vícios privados podem produzir benefícios públicos. A democracia, nesse sentido, deveria em tese conviver com certo grau de corrupção para poder produzir o progresso material da sociedade. Também paradoxal é saber como conjugar uma estrutura política republicana, demandada pelos sistemas políticos democráticos, com uma vida privada marcada pela busca do sucesso.
A democracia liberal implica alguma tolerância à corrupção. O limite dos valores pode ser ultrapassado se o resultado da ação beneficiar a comunidade. Porém, se o limite das necessidades for ultrapassado pela corrupção, os vícios se tornam degenerativos, e o movimento da vida pública será buscar alternativas em uma nova ordem. A corrupção mobiliza os sistemas políticos, azeita relações públicas e promove os interesses ou degenera a ordem política, criando contextos de crise.
As democracias têm sido profícuas em produzir esse tipo de movimento que aqui definimos como paradoxal. A luta internacional contra a corrupção alimenta a desconfiança dos cidadãos em relação ao funcionamento das instituições políticas, mas a tentativa de moralização da vida pública nos conduz a maniqueísmos fáceis, como no Brasil. Se esse momento chegou, foi porque as instituições dos sistemas políticos democráticos nos levaram a ele. O paradoxal é que, para moralizar a vida pública, necessitamos mudar a ordem da democracia.
A vida pública é certamente uma grande ironia: a República requer instituições funcionais e atuantes, uma governança robusta e políticas públicas resilientes. A vida virtuosa descrita por Maquiavel depende da força e do conflito das instituições. Se não podemos confiar nas virtudes dos indivíduos, são as instituições que precisam ser virtuosas. E serão tão mais virtuosas quanto maior for sua capacidade de se tornarem solidárias, se desenvolverem, aprenderem com os próprios erros, se adaptarem e prestarem contas aos cidadãos.
O trabalho de construção institucional tem apostado na democracia. A ironia é que a moralização da vida pública, tão desejada e apregoada na política democrática, pode dissolver os fi os institucionais. A luta contra a corrupção se tornou um mote de ação pública nas democracias contemporâneas — e também de mudança das ordens políticas.
A corrupção, como apontavam intelectuais romanos como Políbio (203 a.C.-120 a.C.), Cícero (106 a.C.-43 a.C.) e Marco Aurélio (121 d.C.-180 d.C.), coloca a ordem política em movimento. Este, no entanto, não é contínuo: é paradoxal, como apontou Zenão de Eleia (c. 490 a.C.- c. 430 a.C.), e não se sabe que direção ele toma quando é feito no vácuo da liderança política.
As democracias ocidentais e o Brasil têm buscado uma nova ordem política, mobilizada pelo enfrentamento da corrupção, hoje um problema global. Essa ordem se apoia em uma nova política, em novos hábitos e em novas práticas, com liderança incerta e desconhecida e com a haste da bandeira contra a corrupção levantada. Mas esquecemos que a ordem do político, em qualquer lugar e em qualquer contexto histórico, é feita de ambiguidades, ambivalências e negociação. A corrupção produz desigualdade e exclusão do processo democrático, mas será que alguma corrupção precisa ser tolerada para que o edifício institucional não venha abaixo? Na vida pública, a busca pelo “novo” pode resultar na passagem da corrupção na democracia para a corrupção da democracia. E as virtudes cantadas pelos oradores romanos podem resultar na dissolução da ordem. Os cidadãos, por si sós, não são plenamente virtuosos.
A moralidade da democracia está na capacidade de seus fios institucionais sustentarem a pluralidade da vida social a partir de princípios universalizáveis e de tolerância recíproca dos atores. A questão recai sobre o fato de que o fortalecimento das instituições possibilitou desvelar a corrupção existente. Mas esse desvelo pode levar à desinstitucionalização.
O problema é de difícil solução. A aposta, antes de qualquer coisa, deve ser na democracia. Sustentar os fios institucionais não significa romper com todo o edifício democrático, e a aposta no novo deve ser impulsionada pela força de (re)institucionalização da prática democrática, no contexto de uma sociedade plural e complexa, movida pela liberdade e pela igualdade.
A corrupção alimenta perspectivas populistas e autoritárias, que degeneram os vínculos institucionais e promovem a corrupção da democracia. O combate à corrupção, portanto, não depende de uma nova ordem, mas de um edifício institucional sólido, pois são o império da lei e o cultivo de virtudes democráticas que proporcionam o alicerce de governos efetivos e abertos, com plena vigilância dos cidadãos para o enfrentamento dos vícios que assolam a vida pública.
Examinando o caso brasileiro, a corrupção na democracia está proporcionando a corrupção da democracia. Somos uma democracia em busca de uma nova ordem, no contexto de ambiguidades e ambivalências as mais variadas, com a incerteza da caminhada. Este processo demandará (re)institucionalização da prática democrática em uma perspectiva de maior imaginação e inovações institucionais, de maneira a reconstruir os fios institucionais num mundo em profunda mudança.