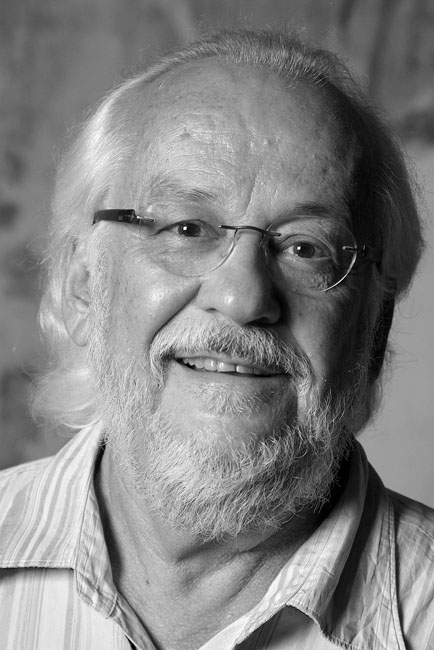
Abaixo você lê Quem é o narrador,[nota] texto de Silviano Santiago sobre o livro Enigma e comentário, de Davi Arrigucci Jr. É um dos escritos que compõem o volume Invenção e crítica (Companhia das Letras), obra que reúne textos sobre o trabalho de Arrigucci Jr. — professor (USP) e crítico literário com trabalhos importantes sobre Manuel Bandeira e sobre autorias hispanoamericanas. Invenção e crítica foi organizado por Marta Kawano, Milton Hatoum e Samuel Titan Jr.
***
Depois de um indispensável livro sobre Julio Cortázar (O escorpião encalacrado, 1973) e de uma série de ensaios que demonstrava pleno poder sobre a criativa palavra crítica (Achados e perdidos, 1979), Davi Arrigucci Jr., professor de teoria da literatura na USP, retorna às livrarias com uma nova coleção de ensaios. Trata-se de Enigma e comentário, cujo subtítulo é duplamente esclarecedor das intenções do crítico: Ensaio sobre literatura e experiência. A palavra “ensaio”, colocada no singular, frisemos, não é erro tipográfico. Apesar de reunir ensaios publicados entre 1981 e 1987, a eles acrescentando dois inéditos, e apesar de os ensaios terem sido escritos para situações diversas (suplemento cultural, revista especializada, conferência etc.), a coleção deles acaba por compor harmoniosamente um longo e único ensaio, radical na seleção de textos a serem analisados e obsessivo na compreensão metodológica da literatura. A espinhal dorsal mais aparente do livro é um outro ensaio, O narrador, de Walter Benjamin. Neste, como se sabe, Benjamin lançava-se à aventura de compreender o narrador “primitivo”. Seus protótipos são o marinheiro e o lavrador. São estes que, anonimamente, intercambiavam com interlocutores, também anônimos, histórias do além-mar e histórias da tradição local, dando à atividade de narrar uma dimensão artesanal, comunitária e utilitária.
Segundo Benjamin, o narrador “primitivo” sofreu dois sucessivos revezes a partir do século XVI, de tal modo que a atividade a que se dedicavam chega completamente descaracterizada aos nossos dias. Hoje “a arte de narrar está em vias de extinção”. O primeiro golpe foi-lhe dado pela invenção da imprensa. Com o livro, aboliu-se o intercâmbio de histórias entre homens experientes, já que o narrador passava a se comunicar pela escrita de um indivíduo isolado e que não mais recebia nem dava conselhos. O jornalismo foi o segundo golpe: pela narração passava-se não mais experiências ao leitor, mas informação, e esta já chegava acompanhada da interpretação do fato. Se o primeiro revés abole os interlocutores e torna o leitor refratário aos conselhos do narrador (e vice-versa), o segundo retira do leitor a liberdade de interpretar.
Apesar dos dois rudes golpes, a investida crítica de Davi — como a de alguns outros colegas seus da Universidade de São Paulo — é a tentativa de resgate do narrador “primitivo” nas obras da modernidade e, em particular, do nosso modernismo. Afirma Davi, adiantando a sua tese:
Nos últimos cinquenta anos, que nos afastam do ensaio do pensador alemão (Benjamin), a literatura latino-americana de modo geral e a brasileira em particular têm demonstrado a persistência de formas que nascem mais ou menos ligadas à tradição da narrativa oral. É mesmo este um terreno dos mais fecundos, onde surgiram algumas de suas obras mais complexas e originais. O narrador continua nos contando histórias, apesar de tanta desconfiança moderna com relação à narrativa e seus modos de ilusão.
A escrita crítica de Davi, além de radical nos cortes e obsessiva na orientação, é abrangente quando isola um detalhe, é límpida quando disseca complexos mecanismos textuais, é erudita sem se ater a múltiplas e longas citações, é formal quando compreende o processo social. Como dar conta aqui — nesta curta resenha — do que existe de abrangência, complexidade, erudição e historicidade no ensaio de Davi, se essas características se dão no concreto da escrita pelo seu oposto? Impossível. Contentemo-nos por ora com ter anunciado não só os recortes que faz na literatura latino-americana, mas também a persistência metodológica, já que para tarefa mais subterrânea seria preciso revirar o livro pelo seu avesso. Ou seja: ser longamente explicativo.
De qualquer maneira, é lúcida e moderna a maneira como Davi, pela sua análise estilística, articula em todos os ensaios “o aspecto social” com o “formal”, retomando com criatividade e originalidade a lição do mestre Antonio Candido, que aconselha “averiguar como a realidade social se transforma em componente de uma estrutura literária, a ponto de ela poder ser estudada em si mesma; e como só o conhecimento desta estrutura permite compreender a função que a obra exerce”. Escolhendo Manuel Bandeira como exemplo, pode-se ver como a sua “atitude humilde”, incorporando uma relação existencial com a pobreza, uma opção pelas miudezas do cotidiano e uma preferência pela dicção coloquial, não é apenas um tema da sua poesia. Trata-se antes de “um valor ético de base, um modo de ser exemplar” que se converte “num princípio formal de estilo”.
Seria injusto e perigoso interromper a resenha neste ponto. Deixaríamos de compreender e comentar a outra face da moeda que Davi nos apresenta de maneira bem mais sutil durante todo o livro e que se desmascara no último ensaio: quem é o “narrador” de um livro de ensaios? Pode ser ele semelhante ao narrador primitivo, ou terá de travestir-se em roupagem metafórica para o exercício da semelhança? De que “experiência” extrai ele a sua escrita crítica? Como se dá a “transposição simbólica” dessa outra experiência no texto?
Para responder a essas perguntas, Davi se vale do mestre de todos nós nas “aventuras de leitor”: o argentino Jorge Luis Borges. É ele quem alerta Davi para essa aventura de ordem intelectual, a leitura, “actividade posterior a la escribir; más resignada, más civil, más intelectual”. Escrita e leitura se entrecruzam em Borges, assim como se entrecruzam em toda atividade criadora e crítica, revelando para nós o enigma fundamental da literatura. É dessa forma que Davi lança para nós a figura do “comentador”, ele próprio, ao mesmo tempo ensaísta e narrador. É o comentador quem “desdobra uma incógnita inicial, mediante um discurso racional feito de conjeturas sobre o significado do enigma, sem que possa esgotá-lo”.
De modo algum poderíamos roubar do leitor o ardor da defesa que Davi faz da leitura, seu resgate para o campo da “experiência”; também seria impossível retraçar em rápidas pinceladas o percurso do seu raciocínio final. Preferimos propor ao leitor de Davi e ao nosso alguns versos de Drummond, em Biblioteca verde.
Dessa forma, estaremos lamentando a ausência do nosso poeta maior no raciocínio crítico de Davi e, ao mesmo tempo, prestando-lhe uma homenagem póstuma. Leiamos uma estrofe de Biblioteca verde, na qual a rede metafórica deslinda a experiência da leitura aos olhos infantis:
Mas leio, leio. Em filosofias
tropeço e caio, cavalgo de novo
meu verde livro, em cavalarias
me perco, medievo; em contos, poemas
me vejo viver. Como te devoro,
verde pastagem. Ou antes carruagem
de fugir de mim e me trazer de volta
à casa a qualquer hora
num fechar de páginas.
No corpo a corpo do menino leitor com o enigma do livro, no jogo de alteridade indispensável para enfrentar o mistério dos homens e do mundo, tanto esforço intelectual quanto aprendizagem, tanto desgaste emocional quanto alegrias são transportadas metaforicamente para o universo medieval das intermináveis cavalgadas. O menino convive com os livros assim como o homem medieval convivia com os cavalos na sua experiência pelo desconhecido. Deixemos a palavra final para Davi, propondo-lhe, no entanto, uma glosa gênero “achados e perdidos”:
De algum modo, Borges e Drummond nos fazem remontar com frequência à atmosfera de encanto e sedução da biblioteca aos olhos do menino — situação primordial onde se geram suas ficções e seus poemas entretecidos nos textos lidos e relidos, e de onde partem, como para Dom Quixote, suas aventuras rumo aos mistérios do mundo.
***
[nota]: Texto publicado originalmente em Leia, São Paulo, out. 1987, p. 45.