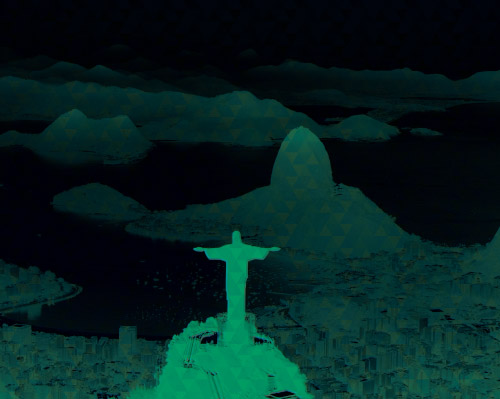
1. Nasci no Rio de Janeiro. Depois me mudei para outros lugares: fui criança tartamuda em Buenos Aires, caçador de terremotos em Concepción, dei meu primeiro beijo em Santiago, fui adolescente em Londres e entediado em Nova Friburgo. A cartografia afetiva, porém, não mente: minha alma ficou no Rio. Voltei para lá aos 17 anos, fiz faculdade, escrevi uns livros, achei que nunca mais moraria noutra cidade, mas a vida passou a custar os olhos da cara – olhos que já ardiam o bastante por causa do gás lacrimogêneo. No final de 2013, me exilei em São Paulo, mas a alma ainda está no Rio de Janeiro. Alma não paga aluguel.
Depois de tanto nomadismo, foi difícil fincar raízes novamente no solo do Rio. Se antes dos 17 eu mal me acreditava brasileiro (cheguei a ter sotaque ao falar minha língua materna), hoje não duvido: sou um escritor carioca, talvez até mesmo um escritor do bairro do Flamengo, onde vivi por último e onde fica um parque, no qual há um deque de madeira. Aos fins de semana, crianças desenham a giz na madeira, e a chuva apaga tudo depois. Sou um escritor desse deque.
O problema é que eu acredito nas misteriosas potências das esquinas, da areia e das pedras portuguesas. Acredito que uma cidade, sua paisagem física e histórica, influi nos homens tanto quanto os outros homens. Acredito, por exemplo, que uma pessoa que caminha pela rua do Catete sabendo que ela foi aberta pelos índios, muito antes da invasão europeia, caminha mais cariocamentepela rua do Catete. Acredito que, quando escrevo aqui sobre essa rua, estou forrando suas calçadas com mais uma camada de afeto, seguindo os passos dos que escreveram sobre ela no passado. Sei bem o quanto isso é ridículo. Não me importo. Bonitas mesmo são as coisas patinadas de intempéries: os arcos da Lapa sujos de chuva, os degraus da escadaria da Penha pisados por séculos de pés, as ruas cantadas por poetas demais.
Não vejo o Rio há um ano. Apesar de pensar todo dia na cidade, seus contornos vão desbotando na memória, como os traços de uma amante que abandonei por impulso – claro: os amantes que nós abandonamos fazem mais estrago na lembrança do que os que nos abandonam. Estou perdendo de novo a cidade. Vai ver esse é o meu destino. Desde criança perco cidades.
Os amigos me contam que o Rio de Janeiro está mudado. “Irreconhecível”, dizem. As ruas trocaram de mão (de direção e, sobretudo, de donos), prédios subiram/desceram, a Perimetral foi derrubada. Há uma foto do carnaval passado, uma panorâmica cujo autor desconheço: os foliões dançando debaixo dos pilares arruinados do elevado da Perimetral. Ainda não tomei coragem para mandar enquadrar essa foto e pendurar na parede de casa, mas gosto dela. É a última imagem do Rio que reconheço de verdade. Estamos nos tornando estranhos, eu e a cidade. Se ela cruzasse por mim na rua, acho que também não me reconheceria.
2. Meu primeiro romancese chamou Glória, que é um bairro na fronteira entre a aristocrática zona Sul e a Lapa viciada e pobre. Nos anos de escrita, eu vivia no Flamengo, a poucos minutos de caminhada dos lugares por onde meus personagens perambulavam (a Taberna da Glória, o prédio branco na ladeira da igreja, o Hotel Turístico etc.). Publiquei o livro em 2012 e a paisagem já foi modificada: pelo Google Street View, vejo que o hotel está em reforma, arrancaram o letreiro, pintaram as paredes. Parece que foi vendido.
A Glória não é meramente o “pano de fundo” do Glória. A paisagem verbal do livro é sim decalcada da paisagem física e histórica do bairro, mas seu desejo último é circular: o verbo quer ser reinscrito na paisagem “real” – como no caso da rua do Catete, que é feita também do que o Rubem Braga, que a amava, escreveu sobre ela. Escrever é um modo de ocupar a cidade.
Meu próximo romance deve sair em breve. Chama-se O amor dos homens avulsos e é sobre o amor entre dois meninos. Sua paisagem verbal é o bairro do Queím, que fica na mítica zona Norte do Rio. O Queím não existe. Até agora, não entendo muito bem por que tive que inventar um bairro. Acho que por estar longe, preferi o exílio simbólico: num bairro sem paisagem física, as ruas que escrevi jamais serão compradas por um banco de investimentos. Seguirão sendo o que sempre foram as ruas cariocas: coisas com alma. Gentrificar o verbo é bem mais difícil.
A verdade é que ainda estou magoado com o Rio. Talvez por isso meu bairro se chame “Queím”: o nome é corruptela de “ìkhin”, que significa “final” em iorubá. E também de “kayin”: “perder os dentes”.