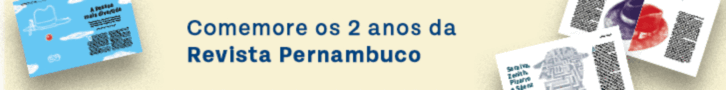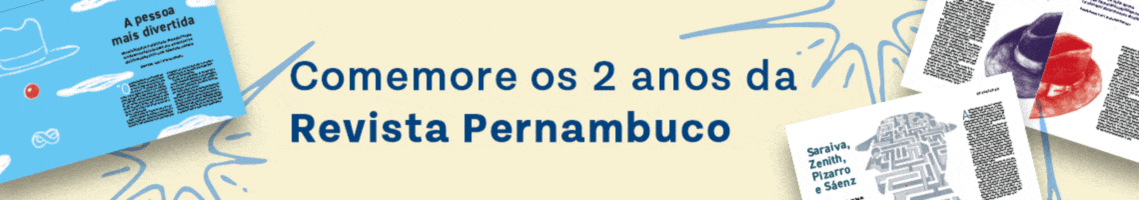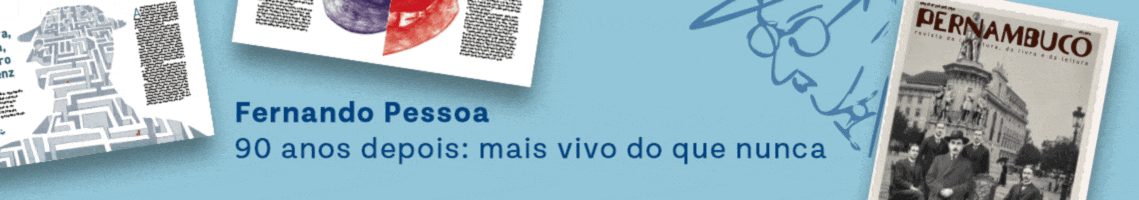Segundo Freud, no processo de escrita os conteúdos inconscientes passam por um crivo do consciente antes de se transformarem no que chamamos criação ou ficção. Mesmo numa escrita automática, ou de fluxo de pensamento, esse processo prevalece, sendo os conteúdos fragmentários e meramente inconscientes produções de uma mente descontrolada e em estado de loucura. Assim como nos sonhos em que admitimos que conhecíamos e nos recordávamos de algo que estava além do alcance de nossa memória de vigília, na criação também podemos reconhecer conteúdos da história pessoal e do que incorporamos de outras fontes à nossa própria biografia.
Quando Freud escreve sobre A psicologia dos processos oníricos, registra um sonho que lhe foi narrado por uma paciente, que por sua vez o escutara numa conferência. A narrativa impressionou de tal maneira a mulher que ela passou a sonhar o que ouvira. Freud também se apropria do relato de consultório, ele aparece num capítulo de A interpretação dos sonhos. O conteúdo onírico ganha a forma de ciência, mas a repetição o encaminha para o campo ficcional, transforma-o em peça literária.
O mais relevante é quando a narrativa se torna propriedade coletiva, memória de muitos. Ela se incorpora ao inconsciente, podendo ser reelaborada como sonho. Ao fazermos um registro biográfico, o que anotamos? A nossa biografia? O que podemos garantir ser próprio, se é possível acessar um legado de bens que se acumulou em milhares e milhares de anos de trajetória humana? Em Shakespeare, história e ficção se misturam. Quem são Júlio César, Antônio e Brutus? O que possuem em comum com a história? Segundo Borges, Shakespeare permaneceu vinte anos numa alucinação dirigida, mas uma manhã surpreenderam-no o fastio e o horror de ser tantos reis que morrem pela espada e tantos desditados amantes que convergem, divergem e melodiosamente agonizam.
Certa vez, depois de proferir uma conferência, telefonei ao meu pai e disse que tinha ilustrado minha fala com a história de nosso primo Gustavo de Caldas, que viajou ao Mato Grosso à procura de trabalho e foi grilado, vivendo anos como escravo de uma fazenda. Disse ter escrito um conto sobre o ocorrido que havia impressionado minha infância. Papai falou que não se tratava da história de nosso primo, mas a de um empregado da fazenda do meu avô paterno, ocorrida no ano de 1930, quando ele tinha apenas cinco anos. Eu certamente a ouvira narrada por meu pai, e confundira com a história de Gustavo de Caldas. Por um acaso, o primo também viajou ao Mato Grosso, quando eu tinha cinco anos. Chateei-me com o deslize da memória, mas comprovei que ela se apropria do que não nos pertence, nem vivenciamos. Não existe memória pessoal exclusiva, pode-se acessar a da família, da comunidade, do lugar onde moramos, de pessoas que viveram em qualquer tempo.
As narrativas míticas e os feitos dos heróis tornavam-se patrimônio das tribos, guardadas em bibliotecas humanas, homens preparados desde criança para serem guardiões e narradores da história de seu povo. Assim se preservaram poemas como Mahabharata, Ramayana, Ilíada e Odisseia, só muito depois fixados em escrita pelos brâmanes e Homero. Conquistando povos, ou sendo conquistados, nações difundiram histórias, que se fundiram noutras, se transformaram, virando patrimônio de muitos. O mito diluviano aparece entre sumérios, hebreus, irlandeses e indígenas das Américas. Cada povo que narra, imprime uma forma própria de narrar, única, como no sonho de Shakespeare diante de Deus, que se queixa de ter sido muitos homens e deseja ser apenas um.