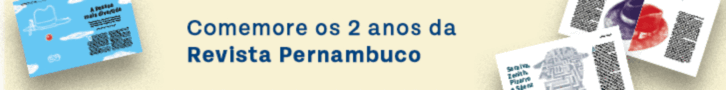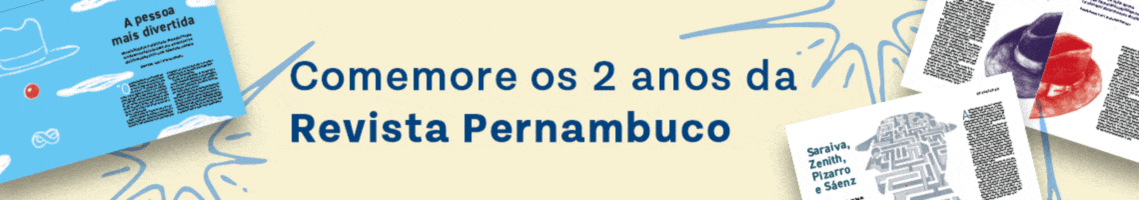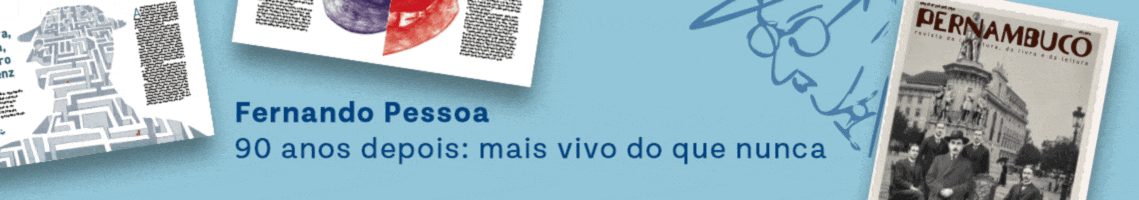Sob o sol delicado do outono de 2025, caminho pela orla de Copacabana. Nada busco, nada espero. Do nada, em meio à névoa marinha, uma figura irrompe e me desperta. É João Antônio, meu mestre, que, de bermudas antigas e camisa social aberta no peito, um sorriso gaiato de estrategista, abre os braços para me receber.
O problema é que João Antônio faleceu quase 30 anos antes, no ano de 1996 e, portanto, não pode estar ali. E, no entanto, está. “Como você veio parar aqui?” – ele, indeciso, me pergunta. Também para ele, sou um fantasma, uma aparição deslocada no tempo. João se detém, me agarra pelos ombros, prepara um abraço que não se conclui. Enfim, me pergunta: “Eu não tinha morrido”?
Ouço um estrondo, similar ao dos trovões. Em seguida, o burburinho dos banhistas é engolido por um silêncio bíblico. “Também não sei o que está acontecendo”, eu lhe digo, “mas sei que está acontecendo”. Depois de me encarar com pavor, meu mestre enfim me abraça. Sussurra em meus ouvidos, como se escondesse as palavras de Deus: “Vamos caminhar um pouco que isso passa. Vamos esquecer que passa”. Seguimos.
Vamos em silêncio, como se qualquer palavra, uma só, pudesse quebrar o encanto em que estamos retidos. Quando finalmente resolve falar, é a respeito das palavras que meu mestre se pronuncia: “As palavras são perigosas, elas podem estragar tudo”. Mas a questão é: estragar o quê? O que é esse vão entre a realidade e o sonho, esse intervalo absurdo do tempo em que, juntos, despencamos? João diz: “Melhor não responder. Melhor ignorar e simplesmente seguir”. É o que, de novo, fazemos. Esquecer, para não enlouquecer.
Um pouco à frente, dois rapazes jogam bola. E a bola vem bater, com um estrondo seco, nas costas de João. “Veja, estou vivo. As coisas se chocam contra meu corpo.” Ali, a verdade se apresenta com a mais terrível das faces: a do obstáculo. Se uma bola não pode atravessar um corpo, é porque ele respira. Ele existe. Não é uma fábula. “Estou vivo, e o resto não me diz respeito.”
Um clarão me faz recuar no tempo. Não sei como, chego de volta ao ano de 1995. Sob o sol de verão, caminho pela orla com meu mestre João Antônio. Tive um sonho com ele – um sonho que se passa 30 anos à frente, muito depois de sua morte. O sonho, o terrível pesadelo, me anuncia inclusive o ano em que meu amigo morrerá, mas eu o poupo dessa informação. “Foi um sonho absurdo”, digo. “Melhor esquecer.”
Ele insiste. Cedo e relato o sonho – o sonho que pressagia o retorno de João Antônio à mesma praia, 30 anos depois. Meu mestre ouve em silêncio. Abnegado, espera que eu termine para só então dizer: “Você precisa de mais realidade. Você tem lido Graciliano”? Sim, e lido também os russos – Maiakóvski, Turguêniev, Tolstói – que ele tanto prescreve. Não deixo de seguir seus conselhos. Mas o que isso tem a ver com meu sonho?
“A boa literatura aniquila os sonhos”, João me diz. “A boa literatura nos acorda”. João quer dizer que, se tenho sonhos absurdos, é porque tenho lido os livros errados. É porque estou iludido. “Os grandes mestres nos empurram para o chão”, ele resume. Contudo, argumento, se olharmos bem para os lados, veremos que a realidade é mais absurda que os sonhos.
Naquele dia distante, João insiste muito na necessidade de um pacto com o real. Não transigir, não ceder ao fascínio obscuro das fantasias, não vacilar. “Basta um tropeção no sonho e você se perde”, me adverte. Recusando seus conselhos, ainda hoje, trinta anos depois, preservo cada uma das imagens de meu sonho com João.
Mestres servem para isso – para que possamos nos desviar, para que nos acostumemos a desmentir e a divergir. Não para agradá-los, mas para chegar a nós mesmos. Para matá-los – ainda que nos sonhos eles continuem bem vivos. Obrigado, mestre João, por me permitir afrontá-lo, por permitir que eu pudesse renegá-lo e só assim chegar a mim. À pequena verdade que me constitui.