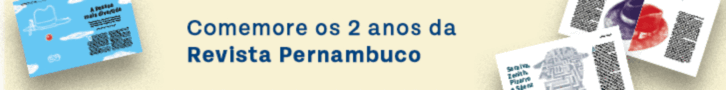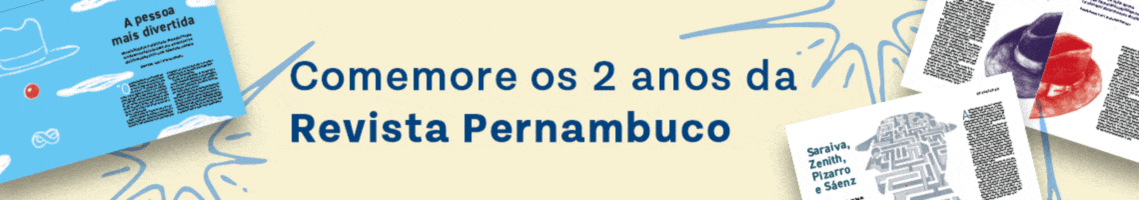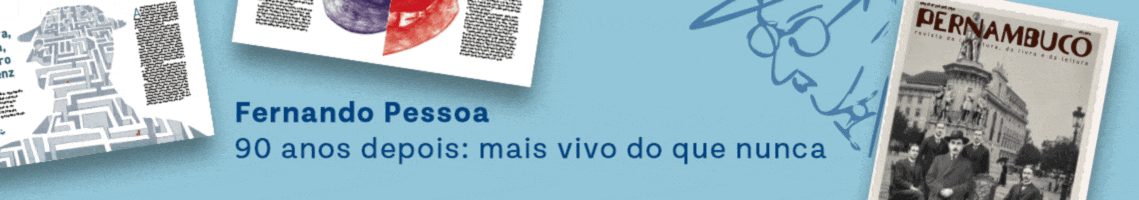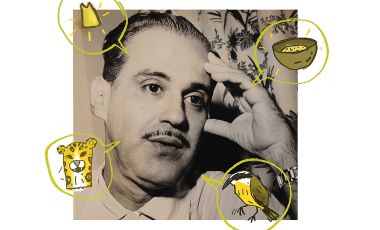Os três primeiros idiomas
O primeiro enfoque será, sem dúvida, muito íntimo, para não dizer microscópio, no duplo sentido do termo. Tegucigalpa, Honduras, 1969. Estou para começar o primeiro grau, ou talvez já o tenha começado, alguns dias antes, quando minha mãe se senta ao meu lado e me diz que, como vou frequentar a escola, há algo que preciso saber. Coloca uma folha de papel sobre a mesa, onde já está um lápis. Se bem me lembro, me fala em castelhano. Suponho que naquela época, em casa, já nos falávamos em hebraico, costume que perduraria até 1972, quando o castelhano voltou a ser a língua falada em casa, aí já não estávamos em Tegucigalpa. Mas naquele momento, diante do papel em branco e do lápis, certamente predomina o castelhano, enquanto ela me explica o que devo saber. Ela me diz que, na escola, outras crianças, os meninos, podiam zombar de mim, fazer alguma brincadeira incômoda, porque há uma diferença entre nós. Minha mãe agarra o lápis e desenha uma forma cilíndrica, arredondada em um extremo e indefinida no outro.
Agora se impõe uma palavra caseira, muito nossa, ménguele, que significa membro viril. É palavra ídiche, devo sabê-lo, mesmo não conhecendo seus equivalentes em nenhum dos meus três idiomas então: o castelhano, o hebraico e a nova aquisição misteriosa e tão útil: o inglês. Minha mãe explica que eu tenho o ménguele assim: ou seja, em seu desenho; enquanto os outros, meus coleguinhas do primeiro grau, o têm de outra maneira. Ela acrescenta no desenho uma espécie de coroa que se estende e cobre ambos os lados da ponta do cilindro, que já não é conceptual. Eles, os outros, meus colegas, o mantêm tal e qual quando nascem. Nós, os judeus, o extirpamos aos oito dias do nascimento, cortando-o com cuidado.
Presto atenção no desenho da reconstrução anatômica. O que é e o que não é um ménguele. Cheguei a vê-los, em momentos no vestiário, ou no banheiro, convencido de que eles nunca viram meu ménguele. Mais adiante, meus amigos me ensinam a dizer, no suave e relaxado sotaque hondurenho: ‘lapizenlacama’, uma e outra vez. Só compreendi que devia haver aí uma graça, malícia, mas não fazia ideia de qual poderia ser.
Em casa, me aproximei de minha mãe, e a submeti ao experimento verbal: lapizenlacamalapizenlacama, o que fez com que ela me freasse, decretando que não era algo que devesse dizer. Levei algum tempo, talvez até 1970, para notar que era uma maneira de embaralhar a palavra pija (algo como “pica” em português), conceito que para mim nada tinha que ver com ménguele.
Muitas maneiras existem para abordar esta rede de idiomas que a partir de agora começo a apresentar. Mas, já que andamos por onde andamos, melhor que fiquemos, incluindo ménguele e tudo mais, e sigamos, rastreando algumas bifurcações. Não se preocupe o leitor, nem a leitora: as coisas se encaminharão de modo aceitável e honroso, porque ménguele não tardou em me reaparecer, mas com uma ortografia curiosa: MENGELE.
Não me lembro de quando foi, mas o fato é que o médico, o terrível humano encarnando a máxima crueldade imaginável da plataforma de Auschwitz, o Dr. Josef Mengele entrou em cena, e não a deixou nem quando seus restos afogados foram identificados na década dos 1980, no Brasil, onde seu esqueleto permanece no Instituto de Medicina Forense de São Paulo para fins de pesquisa e estudo, ampliando as mentes de estudantes de medicina, colegas de humanidade e de profissão.
Até que se deu essa ironia, o Dr. Mengele, com seu duplo doutorado, em Medicina e em Antropologia Forense, desassossegou a minha mente desperta e os meus sonhos. Ele morreu afogado no mar paulista, sem poder agarrar-se a nada, foi identificado pelas sequelas de uma fratura de fêmur contraída num acidente de equitação, e graças a um simpático dentista brasileiro de origem japonesa que o havia tratado anos atrás, e conservou todas as radiografias, assim como as descrições das queixas daquele paciente estranho que sempre pagava com dinheiro em espécie.
Não pense o leitor que eu soubesse iídiche, em 1969, nem antes ou depois. O iídiche foi vitimado pela Shoah (acontecimento erroneamente conhecido como o Holocausto, termo que originalmente significa voluntário feito por razões religiosas). Na minha vida, o iídiche resultou ser vítima inocente do inglês.
Idiomas são territórios
Chegamos a Honduras em 1968, provenientes de Israel. Meus pais tinham emigrado, ainda solteiros, de Tucumán a Israel, na década de 1950. O idioma usado em nossa casa, isto é, casa e lar, em Haifa, tinha sido o castelhano, enquanto o mundo ao redor falava, em sua maioria, o hebraico, a língua nacional, que é o pegalotodo, como se dizia em minha casa, da sociedade israelense. Entre eles, como língua secreta, meus pais usavam o iídiche.
Ao nos radicarmos em Tegucigalpa, minha mãe tomou uma decisão vertiginosa: em casa se falaria hebraico, para que o ‘bebê’ não se esqueça, e para que meu irmão, que era ainda realmente um bebê (um tierno, em hondurenho, que, logo ao crescer, seria, como eu, um cipote), aprendesse o hebraico, a língua do resto de nossos dias, pelo menos segundo o normal no contexto de uma família que sabia que regressaria a Israel.
Imediatamente, foi necessário tomar outra decisão. Aonde mandar o bebê, ou seja, a que escola. As opções eram duas, mas apenas supostamente, porque a primeira era inaceitável: a de nos matricular numa escola local comum, que estaria dirigida por católicos, provavelmente eclesiásticos, padres, e outras figuras ameaçadoras, e que, além disso, funcionaria de março a setembro, e não ao contrário, o que implicaria perder um ano ao regressarmos a Israel. Tudo isso levou à decisão de meus pais: um jardim de infância bilíngue. Isto implicaria em me mandar eventualmente para a excelente escola americana em Tegucigalpa. Minto, minto porque não era exatamente um jardim de infância, era um kindergarten, o kínder, na fala de seus diminutos habitantes. Kínder, kindergarten, palavras perfeitamente compreensíveis para quem ouvia seus pais falando em iídiche. Obviamente, mesmo o kínder sendo bilíngue, o iídiche não era um dos idiomas correntemente usados nem pelas professoras nem pelas crianças, ou seja, os Kinder. Funcionava em espanhol – deste modo se designava o idioma castelhano– e em inglês.
Este é o momento adequado para esclarecer um dado que hoje pareceria inverossímil: os meus pais não sabiam inglês. Isto significa que não eram fluentes no idioma nem o “entendiam”, como se costumava dizer em hebraico naquela época, quando alguém podia compreender um idioma sem saber falá-lo fluentemente.
Nesse curioso quadro, eu dominava o espanhol e o hebraico, e pode-se dizer que eu entendia o iídiche. No kínder dava-se algo peculiar, drástico, abrupto. À determinada hora, creio que por volta das 11 da manhã, ainda que ninguém soubesse ler a hora, as professoras, que nos haviam acolhido ao chegar, desapareciam. Outras as substituíam. Com elas mudava o idioma, do espanhol para o inglês. Ou vice-versa. Uma mudança total, absoluta. Era como se umas não soubessem a língua das outras. Talvez fosse de fato isso, porque ambos os plantéis estavam compostos por falantes nativos do respectivo idioma.
A poucas semanas de começar a viver esta situação tão exuberante, meus pais foram convocados a uma reunião com as professoras. Não sei se eram as que representavam o mundo em espanhol, ou suas colegas que refletiam um mundo devidamente monolíngue, oposto, em inglês. A conversa durou pouco. É de supor que meus pais se comunicaram em espanhol, a versão polida e de uso social do seu castelhano. Mas o que ficou na minha memória e se impôs como lembrança principal daquela ocasião foi que, ao sair da sala, meu pai se dirigiu a mim, e em hebraico, me perguntando: “e tu sabes inglês?!”. O tom não era de uma interrogação a respeito dos fatos. Ele estava me indagando, com espanto e incredulidade: “como sabes inglês?” ou “como conseguiste saber inglês”, ou “como é possível que saibas inglês?”
Porque as recordações desses meses no kínder estão concentradas quase todas nos momentos de troca de guarda, quando o mundo mudava de idioma. Ou, dizendo melhor, os faraós, incas ou reis da Arábia, impunham sua língua, e os pequenos que se adaptassem, de qualquer jeito. Na plebe regia um monolinguismo quase completo. E assim nasceu o tradutor em mim. Começou como intérprete, quando os colegas me pediam para traduzir o que a professora estava dizendo, frases onde sempre havia alguma regra que diferia do conhecido no mundo paralelo, um mundo que não renasceria até o dia seguinte, quer dizer, no futuro remoto para nós que éramos cipotillos de 4 ou 5 cinco anos de idade.
Era como se eu tivesse de enfrentar diariamente uma partida de xadrez simultâneo, já que cada um dos necessitados perdia uma coisa diferente, ou estava perdendo algo do que diziam as professoras. Ah, e nem falar do abismo fonético entre as cordas vocais adultas e os ouvidos infantis.
No entanto, a vida não estava dividida entre dois ou três idiomas, como se fossem domínios absolutos, claramente definidos. Eu havia chegado a Honduras sabendo um espanhol chamado em casa de castelhano, claramente argentino. Cabe esclarecer que era argentino, mas não portenho, ou seja, não da variante usada em Buenos Aires. O sotaque de meus pais era tucumano, mas não se tratava apenas de um sotaque. O mundo linguístico espanhol que me acolheu no entorno familiar não era meramente o da fala de casa. Minha mãe, a primeira pessoa em Israel em obter um mestrado em língua e literatura espanholas, me insuflou os princípios do idioma, de maneira que, ao me encontrar em Honduras, desde o primeiro momento, nada me indicava que estava em um território linguístico alheio, estrangeiro, hostil. Não obstante, outra aventura me aguardava.
Em Tegucigalpa meus pais haviam alugado uma casa recém-construída. Operários diversos lhe davam os toques finais, como aquela dupla de pedreiros que cimentavam parte do quintal. Alisando o material úmido, agachados, com ferramentas de madeira, manipulando a superfície com a ajuda de fios que eles espalham fazendo formas geométricas no ar.
Fascinava-me vê-los trabalhar, e igualmente me cativavam suas conversas. Uma música diferente fluía de suas bocas, cadências e tons desconhecidos, artigos e advérbios misteriosos que marcavam o início e o fim de narrativas pessoais, maneiras de sinalizar ênfase, de responder com admiração ou empatia. Meus ouvidos e meus olhos acompanhavam atentos as obras.
Foi assim que um dia encontrei um parafuso de que gostei. Eu queria ficar com o pequeno tesouro. Olhei para o operário que estava em uma escada, tanto o operário quanto a escada, enormes, para um menino de quatro anos e meio. Estendi meu braço, mostrando o parafuso, e perguntei: “Você pode jogá-lo fora?” O homem olhou para mim assustado, acho que até pálido, e respondeu com medo: “Não, não, Deus me livre”.
Fiquei envergonhado e fui até a cozinha mostrar o parafuso à minha mãe. Contei a ela o que havia acontecido, e ela me pediu para dizer as palavras exatas que eu tinha usado para fazer a pergunta. Quando ouviu minha resposta, ela sorriu e explicou em hebraico: “Você perguntou se ele poderia se jogar da escada”, acrescentando que, em Honduras, quando se quer dizer Tirar al tacho, no castelhano da nossa casa, é preciso usar o verbo “botar”.
Essa foi a primeira ponte entre os dois dialetos do espanhol que começaram a povoar minha vida, bem como uma lição muito clara de empirismo aplicado. Minha conclusão foi continuar ouvindo, aprendendo palavras, expressões idiomáticas, expressões, dicas, provérbios e estruturas. Não se tratava de um idioma, mas de dois. Traduzia em minha mente, demarcando diferenças, que rapidamente definiram territórios separados.
Um navio linguístico
Foi assim que cheguei à Escola Americana com meus três idiomas, que, na verdade, já eram quatro, o pequeno estrangeiro que não era, não totalmente. O programa de estudos da escola parecia ter sido feito sob medida para mim. Os hondurenhos, que tanto valorizavam e protegiam sua soberania, impuseram que a escola deveria ensinar todo o currículo local, além do currículo americano, ou seja, aquele que vinha dos EUA.
História e Geografia foram ensinadas em duas versões, com professores diferentes, em espanhol e inglês. Ambos os idiomas eram ensinados em paralelo. Entre os alunos havia crianças das elites locais, que geralmente tinham dificuldade com o inglês, e havia crianças que falavam inglês, filhos de diplomatas ou de famílias americanas que estavam em Honduras por causa do trabalho dos pais. Essas geralmente tinham um conhecimento rudimentar de espanhol. Um pequeno grupo era fluente em ambos os idiomas, incluindo algumas crianças chinesas ou, ocasionalmente, filhos de casamentos mistos. Ocasionalmente, chegava ao mundo uma criança que não sabia nenhum dos dois idiomas.
Começou uma aventura dupla, centrada principalmente no aprendizado dos dois idiomas, cada um à sua maneira, com seus desafios e reviravoltas. Fonética, palavras, tempos verbais, morfologia de substantivos, adjetivos, advérbios, estruturas sintáticas. Textos de primeira leitura, que refletiam realidades muito diferentes, o que não era surpreendente, pois as aulas de História já haviam deixado clara a curiosa realidade de que os homens brancos, vindos da Europa, haviam, por um lado, descoberto a América com Colombo em 1492, mas em inglês o momento-chave era outro, em 1620, com a chegada dos peregrinos no Mayflower.
Notei com espanto que nenhum dos grupos se relacionava com o outro, e que, enquanto em inglês o indígena era mantido separado, com suas penas ou seu corte moicano, em espanhol as situações eram mais complexas. Antigas culturas majestosas que cederam, caíram e deixaram vestígios, bem como pessoas muito presentes em meu cotidiano, nos jornais que comecei a ler, nas ruas por onde andava, e sempre com a história fundamental de uma traição inicial dos espanhóis que facilitou a liquidação da resistência indígena.
Pessoas curiosas, as antigas, cujos idiomas ninguém conhecia, embora tenham deixado rastros na toponímia local, que eu me concentrava em memorizar com todas as informações do mapa nacional. O sucesso, as boas notas, os “A's” no final do ano, expressados em Espanhol como Sobresaliente, valiam prêmios, que eram sempre livros. Versões adaptadas de Os três mosqueteiros, Dom Quixote, Moby Dick. Os maias, os astecas e grupos menos proeminentes, como os lencas de Honduras, me fascinavam. Eu lia o que podia, em espanhol e inglês, munido de um cartão de leitor que me dava acesso até mesmo à biblioteca da escola secundária, um grande privilégio que eu aproveitava com uma fome feliz.
Vivia e trabalhava em um mundo rico de culturas e idiomas, histórias e contextos. Mas isso não poderia ser suficiente. Algum dia voltaríamos para Israel, onde eu seria analfabeto, um fenômeno terrível e muito comum na Honduras da minha infância. Não, eu não poderia ser um analfabeto, claro que não. A menos que alguém se encarregasse de me ensinar a ler e escrever em hebraico.
Dada a escassez acentuada e não surpreendente de professores de hebraico em Honduras, minha mãe resolveu o problema com suas próprias mãos, encomendando materiais básicos de Israel. À tarde, depois de um longo dia na escola, com suas realidades ricas, complexas, intercaladas, exigentes, abrangentes e contraditórias, horas geralmente dedicadas a subir na árvore do jardim – já morávamos em outra casa, com um grande jardim cercado por um muro de tijolos –, jogar futebol, andar de bicicleta ou passear pela vizinhança, minha mãe me ensinava a ler e escrever em hebraico. Um mundo estranho, com uma escrita diferente, quase sem vogais, que eu tinha de conectar com o que falávamos em casa.
Quando adquiri um nível aceitável, minha mãe encontrou outro caminho, sabiamente deixando de ser a professora de seu filho mais velho. A esposa de um engenheiro israelense em Tegucigalpa era professora de escola primária. Eu ia à casa dela para ler histórias, principalmente alguns episódios narrativos do Pentateuco. A história, como é sabido, começa com a Criação do Mundo, em Gênesis. Então, eu estava diante do texto, enquanto a mulher passava algumas camisas do marido. Camisas com mangas curtas, o que me chamou a atenção porque o homem tinha um braço atrofiado, e daquela manga curta direita aparecia apenas um braço reduzido que terminava com o vestígio de uma mão e alguns dedos que não deviam ser cinco no total.
Naquele dia, ela estava concentrada aplicando a ponta do ferro na borda da manga, enquanto eu lia o Gênesis bem devagar, em voz alta. Por sorte, o texto estava totalmente vocalizado, como geralmente acontece quando não é o pergaminho que é lido na sinagoga. Com a ajuda das vogais indicadas, eu conseguia juntar sequências de sons e dizê-las, palavra por palavra. Até o momento fatal em que eu disse Ye-ho-vá. A professora soltou um grito agudo enquanto queimava a mão no ferro. “A gente não pronuncia essa palavra, você não a diz”, ela me disse, com dor. O nome de Deus, o inominável. Uma ideia curiosa, pensei. Ele tem um nome e você não o diz, não tem permissão para chamá-lo pelo nome.
Algum tempo depois, chegamos a Noé e à Arca, a Abrão, a quem Deus ordenou que deixasse sua terra natal, sua terra, a casa de seu pai, “...para o lugar que eu lhe mostrarei”, e depois lemos sobre o pobre Isaac, quase sacrificado por seu pai. Paisagens estéreis, tempos difíceis, uma realidade de mito, com pouca geografia real e tangível. E em hebraico, mas um hebraico raro e diferente, áspero e rude como a letra, longe do idioma que meus pais usavam fluentemente, a dos israelenses que eu encontrava nos fins de semana nas reuniões da pequena comunidade israelense local, composta por engenheiros e representantes de empresas estatais, pessoas de fala alta, mal-humoradas, de som áspero, que mantinham uma cultura com músicas, festas, refeições e maneiras que funcionavam todas em hebraico, em um monolinguismo descarado, ferozmente orgulhoso e muitas vezes arrogante, que eles usavam para zombar da população local, dos cristãos e dos indígenas.
Embora, presumivelmente, não em um dia, minhas memórias linguísticas afirmam que o iídiche em minha casa sofreu um acidente único. A linguagem secreta de meus pais, aquela que eles usavam para que eu não entendesse, tornou-se cada vez menos opaca. Estavam se abrindo brechas na parede supostamente impenetrável. Eu não fiz nada para causar isso, mas, um dia, meu irmão teve um momento de inquietação, chorando e gritando. Um menino de três anos, nada fora do comum. Parece que meu pai o desafiou, ou o estava desafiando, e não sei se foi com riqueza castelhana ou com dureza hebraica, mas minha mãe o chamou de Loz im. E eu entendi perfeitamente, antes de perceber que era uma frase em iídiche. Deixe-o ir.
Não me lembro do motivo do incidente, mas tenho a clara consciência de que a vitória foi obtida graças ao pronome (acusativo, terceira pessoa do gênero masculino, diz o linguista adulto que testemunhou aquele momento) - im. Como em inglês, him. E assim caiu o muro do iídiche, que, derrotado, logo ficou no esquecimento. Além disso, o leitor poderá identificar também esse Loz, cognato de lose em inglês, parente de lease, release e de fato até de deixar em português, todos descendentes de LAXARE em latim.
Provavelmente meus pais perceberam, viram meu olhar, e isso se repetiu mais algumas vezes, consolidando o destino do idioma de nossos ancestrais, pelo menos em casa. Quatro dialetos do iídiche povoavam minha família imediata, pois cada um dos meus avós veio de outra região da Europa Oriental. Lembro-me de reuniões de família em que ocorria uma discussão feroz e engraçada, zombeteira e contrastiva sobre quem usava a palavra iídiche “certa” para o quê e quem tinha o “melhor” iídiche, o mais puro, o mais puro, o mais autêntico. A irremediável paixão de ser castiços numa língua moribunda.
Fiquei observando aquele navio linguístico afundar lenta e suavemente, sem nunca saber o idioma. Décadas mais tarde, em um casamento de um primo paterno em Israel, fomos apresentados a parentes distantes, novos imigrantes da União Soviética que acabara de se tornar ex-União Soviética, ainda sem um nome definitivo. Os mais velhos dos recém-chegados eram fluentes em iídiche tímido.
Meus pais me pediram para tentar conversar com essas pessoas grisalhas, de aparência pós-stalinista, com dentes de ouro e prata e provavelmente de latão, homens de bonés antiquados. Fiz o que pude, o que foi muito pouco. No entanto, até hoje me parece que o iídiche está lá, ainda, eternamente moribundo em algum recinto empoeirado dentro de mim. Porque eu o ouço e, às vezes, na vida real e consciente, eu o pego. Como diz outro parente meu, o carinhoso Atahualpa Yupanqui, em seu castelhano do norte da Argentina, que soa exatamente como o do meu avô materno, Nunca muertos, sí dormidos.
CONTEÚDO NA ÍNTEGRA NA EDIÇÃO IMPRESSA
Venda avulsa na Livraria da Cepe