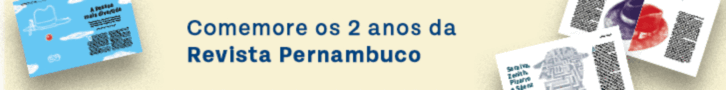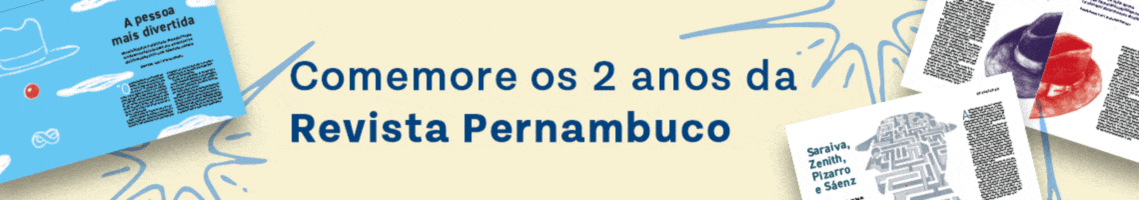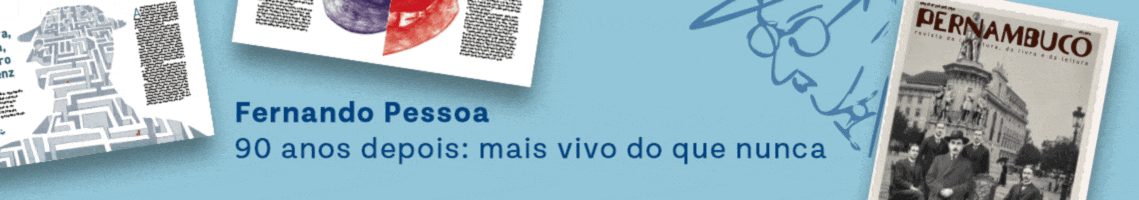Há livros que são como a Esfinge: devoram os leitores que não conseguem decifrá-los. De tédio. Ao contrário do que pode parecer, não formam uma lista específica. Há nelas clássicos e modernos, autores reputados e pouco reconhecidos. Além disso, a mesma obra pode ser considerada chata por uns e maravilhosa por outros. Desde o Dom Quixote, que é, por assim dizer, o marco fundador da novela no Ocidente, ao Ulisses, de James Joyce. Este, tanto pode ser amaldiçoado como ilegível quanto despertar paixões dos seus fiéis leitores e seguidores, a ponto de instituir-se o rito literário quase religioso do Bloomsday.
A obra-prima do irlandês exerceu uma influência forte em Gabriel García Márquez, como este confessa em sua autobiografia Viver para contá-la: “Era, claro, o Ulisses de James Joyce, que li aos bocados e aos tropeções até que a paciência não me chegou para mais. Foi uma temeridade prematura. Anos mais tarde, já adulto domesticado, entreguei-me à tarefa de relê-lo a sério e não só foi a descoberta de um mundo próprio de que nunca suspeitei dentro de mim, como também uma ajuda técnica inapreciável para a liberdade da linguagem, o manejo do tempo e as estruturas dos meus livros”.
A escritora Inma Aljaro (nasceu em Málaga, vive em Barcelona), nas 304 páginas do seu livro Tedio y narración – sobre la estética del aburrimiento en la narrativa: de James Joyce a David Foster Wallace, recentemente lançado na Espanha, enfrentou o ‘Monstro Delicado’, que costuma devorar os leitores menos resistentes, e conseguiu compreendê-lo. Com erudição e elegância, escreveu um livro indispensável. De estética, de teoria da narrativa, de crítica literária. Que compõe não apenas passeggiate nei boschi narrativi, mas pela selva selvaggia e aspra e forte; che nel pensier rinova não la paura, mas la noia, o tédio, um severo obstáculo a levar uma leitura adiante.
O livro de Aljaro deveria ser traduzido e publicado no Brasil, pois é um guia seguro pelos caminhos da leitura e da teoria literária. Aos estudantes de letras, aos professores, aos pesquisadores, aos escritores e, é claro, ao leitor, hypocrite ou não. Aljaro é escritora, jornalista, doutora em Humanidades e mestre em Criação Literária pela Universidade Pompeu Fabra, na Catalunha. Em seu trabalho no âmbito da cultura, e da literatura, no particular, não se limitou aos aspectos teóricos. Daí os vários anos percorrendo países da Ásia; o tempo de vida nos Estados Unidos (para cursar o Master of Fine Arts em Escrita Criativa da Universidade de Iowa); e os três anos no norte do México, onde foi professora e produtora cultural. Em suma, um “saber de experiências feito”.
Exatamente por causa da sua desenvoltura no conhecimento da cultura, a autora estabelece correlações e conexões inteligentes. Entre os livros considerados chatos e as peças antológicas de outras linguagens artísticas, como as de Erick Satie e John Cage, por exemplo. Ela também mostra os difíceis caminhos percorridos pelos autores complicados em busca de editor. Das rejeições variadas sofridas por gente como Beckett e Gertrude Stein. O “não” a esta dito pelo editor Arthur C. Fifield foi particularmente cruel, pois a recusa fez-se parodiando o estilo da autora:
“Sou somente um, só um, só um. Só um ser, um de cada vez. Não dois, não três, só um. (...) Sendo só um, tendo somente um par de olhos, tendo um só tempo, uma só vida, não posso ler seu manuscrito três ou quatro vezes. Nem sequer uma vez. Só uma olhadela, só uma olhadela é suficiente. Dificilmente se venderia um exemplar aqui. Dificilmente um. Dificilmente um”. Do que adiantava ter aperfeiçoado tanto o estilo – admirado por William Carlos Williams – sob a influência de Flaubert e Cézanne? Deste, ela aprendeu que “a descrição da realidade externa não depende da quantidade de detalhes que se inclua, senão que esta pode ser conseguida abstraindo aquelas características que se repetem e que constituem a essência desse todo que se quer descrever”.
Sendo Tédio e narração (em tradução livre) uma análise das técnicas e estratégias dos narradores, ou seja, uma estética, também chama a atenção para a importância da ética. Especialmente no epílogo: “O gozo do tédio, ou: é ético aborrecer o leitor?” Neste capítulo a autora aprofunda e enriquece uma ideia presente em outros momentos do livro: “o prazer do texto não tem de ser sempre triunfante ou heroico”.
Se a era moderna pode ser vista como um arquipélago de contradições não será diferente com o pacto entre o escritor e o leitor. Aljaro também aponta o quão contraditório é que a escrita, tida como um dos meios de suplantar ou esquivar o tédio, tanto do autor quanto do leitor, resulte por vezes no contrário.
“Apesar disso, ainda que fugir do tédio seja um potente motor de ação em muitos âmbitos – não exclusivamente no literário –, aceitar que é essa a única motivação de quem escreve e de quem lê significaria reduzir o poder da literatura a mero entretenimento. Desde a narratologia, especialmente a denominada narratologia cognitiva, tem-se estudado a importância que tem o interesse, como o oposto ao tédio, na recepção dos textos e nos interessam especialmente conceitos como o de non-events, que defende a relevância do não acontecido na experiência leitora, do mesmo modo que o da imersão temporal, entendida esta como ‘a ânsia do leitor pelo conhecimento que lhe espera ao final do tempo narrativo’, uma ânsia que, obviamente, se verá interrompida e amiúde frustrada nas novelas que representam a estética do tédio.”
Ambos os conceitos nos ajudarão a entender por que, por vezes, nos entendíamos quando lemos.
Se o leitor aceita ser cúmplice do autor, obviamente, vai perceber que a Terra da Literatura não é chata, não é plana. Inma Aljaro, a autora de Tédio e Narração, em entrevista exclusiva à Pernambuco, em sua defesa iluminista do Tédio, nos mostra porque há mais razões para defendê-lo como uma das Fines Arts (mais do que o murder, de Thomas de Quincey).
Começo concretamente pela pergunta que é a fundamental do seu livro: O que faz com que uma obra narrativa seja entediante ou chata?
— Dizendo-o de um modo muito resumido, há muitos fatores que podem desencadear o tédio durante a leitura, entre outros, e talvez o mais importante deles, seja a nossa disposição para a leitura. O tédio é um afeto subjetivo, e, por isto mesmo, obras que me resultam fascinantes a outras pessoas podem parecer chatíssimas, se elas não encontram o que esperam no texto. E vice-versa. O tédio depende muito das expectativas de cada pessoa. No entanto, a mim me interessava investigar se havia características objetivas que fazem com que uma novela seja enfadonha ou tediosa, sem que esse tédio seja considerado como algo negativo, mas como parte de uma experiência estética, como quando se fala da estética do grotesco, do absurdo e de outros afetos negativos.
Em geral, perdemos o interesse quando sentimos que a obra não nos diz nada ou nos diz tanto que a informação nos resulta demasiadamente complexa, arrevesada ou inclusive absurda; quando nossa curiosidade se satisfaz demasiadamente rápido e então necessitamos mais, ou quando, pelo contrário, a espera se prolonga indefinidamente no tempo, chegando a nos desesperar, a nos cansar e, por último, nos entediar. Todos nós, com maior ou menor intensidade, nos chateamos quando se dão essas circunstâncias.
Isto, transportado à literatura, configura uma estética do tédio. Mediante estratégias narrativas ou técnicas literárias que se podem associar com esses momentos, como pode ser o recurso à banalidade, à monotonia, à repetição, à enumeração, à digressão, à complexidade linguística, a ausência de trama, a hipertrofia da especulação… se quem escreve recorre a algumas destas estratégias é muito provável que desperte o tédio na pessoa leitora. Essas novelas serão chatas, ao menos, durante esses momentos. Mas, o interessante para mim é pensar como reagimos diante desse tédio que nos é proposto e que, na minha opinião, adquire dimensões estéticas.
Lichtenberg, disse que “um livro é como um espelho: se um macaco se aproxima dele não pode ver refletido um apóstolo”. Baudelaire, em seu poema sobre o leitor, se define, de maneira irônica, como igual, inclusive como irmão do seu leitor. Depois de ler seu livro sobre o tédio nas novelas me inclino a concluir que um possível leitmotiv é que o tédio do autor e do leitor, ainda que possam se refletir, não é o espelho de Lichtenberg nem a hipócrita fraternidade de Baudelaire o que está largamente analisado em seu livro. Esta é uma conclusão correta?
— Talvez não seja um espelho onde nos reflitamos tal e qual somos, mas, sim, um que, no caso de algumas novelas, nos devolve um rosto entediado que nos faz questionar nossa incapacidade de continuar a leitura. Daí minha insistência sempre em refletir: por que me resulta tediosa esta novela, esta passagem, esta conversação? É porque não o entendo, porque me custa manter a atenção, porque me cansa a repetição e não encontro nenhum sentido nela? Não creio que haja respostas prontas e acabadas, mas simplesmente levanto a questão como exercício de reflexão. Se depois de perguntar-se, a resposta continua sendo “me aborrece, não quero ler”, pois não há problema. Não se deve forçar a leitura em nenhum momento. No caso de Baudelaire, creio que é mais uma crítica à burguesia. Naquela época, os burgueses parisienses haviam chegado a desenvolver uma espécie de “veneração” pelo monstre délicat, da qual também zombaria Erik Satie em algum momento. Consideravam o ennui, o spleen, como uma espécie de distinção, inclusive poderíamos decir classista: uma coisa era o tédio burguês, e outra, muito diferente, o tédio do vulgo, mais superficial e profano (a mesma distinção que faz Virginia Woolf em A senhora Dalloway).
Pode nos dizer algo sobre sua experiência pessoal com a leitura de Ulisses, de Joyce, e explicar aos nossos leitores por que essa novela permanece como uma espécie de clichê ou sinônimo de livro que tantos dizem abandonar ou não aguentar a leitura?
— Devo confessar que li Ulisses, de James Joyce, depois de haver lido muitos outros autores e autoras herdeiros do estilo lúdico e experimental do escritor irlandês e sinto que, de alguma maneira, essas leituras prévias foram um bom treino que me permitiu me divertir muitíssimo com a leitura de Ulisses.
Creio que se adquiriu essa fama de libro difícil ou chato é porque realmente há momentos em que, efetivamente, o é. Daí minha defesa da estética do tédio. Se por momentos chateia, entedia ou aborrece é porque Joyce queria que assim fosse. Ele dizia que esperava que seus leitores demorassem anos em decifrar seus livros e sabemos que ele podia passar dias pensando e elaborando tão somente um par de frases. Nada de sua obra é fortuito, muito pelo contrário: há um grande trabalho por trás, com que o autor liderou, junto às vanguardas, algumas das transformações mais importantes na tradição literária ocidental. Se lê-lo resulta aborrecido ou cansativo é tarefa de quem o lê assumir este desafio, entrar no jogo que propõe Joyce, sabendo ao que se expõe, e brincar, jogar com tudo, porque a recompensa, o prêmio, vale muito o esforço.
Harold Bloom tentou cânone ocidental das melhores obras e em sua lista mescla, obviamente, tidas por chatas e divertidas. Você teria, não digo um cânone pessoal de 100 obras, mas 10, que possa citar como as mais divertidas e as mais aborrecidas? Ou todas as obras são ao mesmo tempo tediosas e entretidas? divertidas?
— Há algumas obras que se consideram aborrecidas e são muito divertidas, como Ulisses, de Joyce, que já citamos. Também me resultam muito divertidas as novelas de Thomas Bernhard: seus personagens misantropos e mal-humorados e sua prosa enviesada podem chegar a aborrecer, mas ao mesmo tempo resultar hilariante; isso também ocorre com Molloy, de Samuel Beckett, ou com alguns personagens de David Foster Wallace, Roberto Bolaño ou de Thomas Pynchon.
Entre as novelas que incluo no estudo da estética do tédio e que pode-se considerar aborrecidas (insisto: desde um ponto de vista estético, em nenhum momento negativo), falo de A senhora Dalloway, de Virginia Woolf; The Making of Americans, de Gertrude Stein, Em busca do tempo perdido, de Marcel Proust; A mineradora de calcário e Correção, de Thomas Bernhard; Borrachas e O voyeur, de Alain Robbe-Grillet; O deserto dos tártaros, de Dino Buzzati; O pântano definitivo, de Giorgio Manganelli, Tentativas de esgotar um local parisiense, de Georges Perec, Ninguém nada nunca, de Juan José Saer; mas por questões de tempo e espaço deixei de fora muitas obras que também podiam ajustar-se a esta estética, como outras novelas do nouveau roman, O Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio; Lanças enferrujadas, de Juan Bennet, os contos de Raymond Carver ou de Lucia Berlin; ou as obras de Clarice Lispector, quem também explorou magistralmente a cotidianidade e o tédio profundo. E imagino que muitas obras mais.
Uma citação de seu livro: “Em entrevista com Kiko Amat, a escritora e professora Brottman (2018) confessa a ele que, na maioria, os clássicos a ela lhe parecem incrivelmente chatos, argumentando que “nunca acontece nada neles. A mim me custa entender por que tantas pessoas gostam (ou dizem que gostam) de Dom Quixote”. Perguntada sobre o Ulisses de Joyce, Brottman confessa que tentou lê-lo, sem sucesso, em várias ocasiões: “Adquiri outro exemplar, para tentar de novo, porque nas vezes anteriores não havia passado das primeiras duas ou três páginas. Para mim era uma algaravia, pura e simplesmente. (...) Aguentei 20 páginas. Era inútil: nada se fixava na minha cabeça, o estilo me parecia forçado e caótico, não havia trama, a história era inexistente e não me dava nenhum prazer” (em Amat, 2018). A ênfase é do original.” Em outro momento, no seu libro, Ulisses aparece mencionado como um monumento de humor, e há uma hipótese sua que me parece muito interessante, que é, digamos, o caráter lúdico das novelas ditas chatas. Pode comentar um pouco mais sobre isso?
— Sim, foi José María Valverde quem o definiu assim, se bem me lembro, como um “monumento de humor”, e compara Ulisses com O Quixote, outro livro que também muita gente considera tedioso, mas que, para outras pessoas, tem momentos divertidíssimos. Claro que não são livros fáceis. Muitos livros que se consideram aborrecidos, a despeito de serem grandes obras, se caracterizam por sua complexidade formal ou por sua densidade linguística, pela ausência das convenções narrativas, porque anulam a trama, hipertrofiam a especulação tentando provocar a exasperação do leitor, rompem com os gêneros, pervertem os discursos o jogam com a metaficção pondo o leitor em uma situação de confusão.
Mas é que com a literatura ocorre o mesmo que em outras disciplinas: não se pode compreender Kant sem haver lido antes os empiristas e racionalistas, do mesmo jeito que ninguém tentaria resolver uma equação matemática sem ter aprendido antes a multiplicar ou dividir. Tampouco são novelas que se possam ler em uma tarde, nem sequer em duas. Exigem tempo, exigem atenção, uma leitura lenta que exige conhecer o contexto; enfim, exigem uma participação ativa da pessoa leitora que deve querer envolver-se nesse desafio ou jogo que propõem.
Haverá fragmentos, páginas, inclusive capítulos, que são tediosos, mas creio que a gargalhada que nasce de outros muitos momentos da leitura se torna redentora de qualquer cansaço ou tédio precedente. E, penso: isto também não ocorre na própria vida?
Penso na famosa expressão de Coleridge – Suspension of disbelief – e lhe pergunto se o fato de o leitor não entrar “no jogo” do autor não contribui para seu tédio?
— Totalmente. Ao ler estas obras, deve-se suspender as expectativas e deixar-se levar pelo jogo de seus ritmos e de suas piruetas sintáticas e linguísticas, sem nos empenharmos na ideia clássica de novela, sem esperar um clímax, nem sequer um antecedente de clímax. Essa é, na minha opinião, a melhor maneira de apreciá-las que, é claro, não há por que convencer todo o mundo.