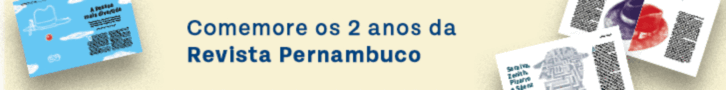A jornalista pernambucana Manoella Valadares, enfim, vem à tona com sua poesia – e ela vai explicar o por quê. Nesta quinta-feira (8/8), às 18h, lança o primeiro livro de poesias Ninguém morreu naquele outono (Telaranha, R$ 50), na Livraria da Praça, em Casa Forte. A apresentação e os comentários sobre a autora e a obra serão feitos pelos escritores Bernardo Brayner e Renata Pimentel. Em seguida, haverá sessão de autógrafos. O acesso é gratuito.
Morando no exterior há duas décadas, atualmente radicada em Londres, Manu veio rever os mares do Atlântico Sul e as águas do Capibaribe, nos quais mergulhou, entre reminiscências, buscas e desejos, para banhar de significados e significâncias os seus versos.
"Sem água não há vida da maneira que a conhecemos. É no banho que as energias se renovam. O mar também pode ser atravessado. O sal é curativo. Também podemos afundar. A vida é feita de margens, mergulhos, afogamentos, chegadas e partidas e vice-versa. No mar há que se entender a dinâmica dos ventos para se navegar", diz Manu.
Mais do que a água, é o tempo cíclico que nos acompanha - vida e morte - a impulsionar a sua poesia.
Ninguém morreu naquele outono já apresenta uma poeta com o verbum dominentur. As palavras são as ferramentas de trabalho e talho de Manoella desde sempre. Mas somente agora – na maturidade - são entregues aos leitores como uma oferenda por suas personagens-vozes Alba, Marli e Gilda.
Em meio ao caos do corre-corre de lançamentos e da passagem pelo Recife, para participar do bate-papo e rever familiares, amigas e amigos, Manu respondeu a entrevista que se segue.
Você sempre trabalhou com a palavra. Desde quando você escreve poesia?
— Fui uma criança estranha e melancólica. Essas duas características de certa forma ainda estão presentes no meu íntimo. Afinal, somos muitos. Vejo o mundo de uma forma pouco convencional e ter essa consciência me levou a querer escrever poesia. Nas redações de escola, a professora reclamava que eu não usava pontuação ou perguntava como uma cadeira poderia falar. Então penso que escrevo poemas desde os meus sete anos, logo quando o aprendizado da escrita e leitura se deu.
A poesia tomou/roubou o lugar da prosa?
— Gosto de borrar os gêneros. Neste primeiro livro você vai encontrar o [poema] “Última carta”. Ali está um exemplo de como poesia e prosa podem se fundir. No meu segundo livro que deve ser lançado no final do próximo ano, isso está ainda mais presente. Penso que na minha criação elas caminham juntas, ora uma emergindo, ora outra desviando, ou cruzando os limites.
Quando você decidiu que era hora de lançar seu primeiro livro de poemas?
— O livro foi escrito no período de três anos. Ele nasce com a minha aproximação da finitude e do meu interesse da relação entre vida e morte. Eu acordava e pensava sobre a morte e isso me aterrorizava. Então isso foi aparecendo nos poemas, com uma atmosfera líquida, uma saudade do mar, do Capibaribe. Depois de quase vinte anos fora, esse pano de fundo era inevitável. Na verdade, eu nem escolhi escrever esse livro, ele foi se articulando quase que num transe. Mas depois eu lia e relia e entrava com o bisturi, cortando palavras, mudando versos de lugar, criando um título diferente. Uma obsessão. Daí eu desisti dessa maluquice. Quer dizer mais ou menos porque eu abro uma página e tenho vontade de mudar alguma coisa. Eu trabalhei nele até a véspera de ir à gráfica, quando escrevi os poemas “consider my death” e “areia”. Então eu me dei por vencida. Também venci a insegurança de pensar, esse livro faz sentido
Qual o incentivo ou impulso que faltava?
— O tempo. Me faltava tempo. Publiquei o meu primeiro livro aos 52 anos, quando os meus filhos se tornaram mais independentes. O quarto que era do meu filho, hoje é o meu lugar para escrita e leitura. A maternidade ceifa muito da liberdade das mulheres. Criei meus filhos num país estrangeiro sem família ou qualquer outro apoio, com exceção da escola e do meu companheiro. Então o incentivo foi a independência deles.
Como foi o processo de elaboração e seleção dos poemas para o livro?
— Eu não abri o computador e pensei agora vou escrever um livro. Com mais tempo, os filhos crescidos, me reaproximei da escrita de maneira mais disciplinada, mas ainda assim de maneira orgânica. Passei a integrar o grupo de escrita e pesquisa desenvolvido pela poeta Ana Estaregui e assim os poemas foram surgindo. Ana é uma referência primordial para mim. Digo que sem ela, talvez não existisse livro. Ela é a espinha dorsal dele. Então, ela e os outros integrantes me ajudaram bastante a me autorizar enquanto autora. Quando o original ganhou corpo, decidi enviar a algumas editoras. E para minha felicidade, a Telaranha, de Curitiba, me acolheu no catálogo deles. Bárbara Tanaka e Guilherme Conde Moura Pereira trabalharam de maneira generosa e impecável na edição do livro.
Os poemas foram pensados/escritos para o livro? Você revirou papéis ou arquivos antigos em busca de material?
— Os poemas foram se constituindo num grande quebra-cabeça que nunca se completa, mas não revirei arquivos. Se há uma peça, ela nunca se encaixará porque está carcomida, puída, fragmentada. Talvez o leitor possa com imaginação completar esse objeto precário, rascunhado, imperfeito por natureza.
Na sua poesia, o contraste, a fricção, o choque entre as palavras criam as imagens que despertam as sensações poéticas no leitor. Você deliberadamente foge do lirismo que não seja libertação?
— Não fujo de maneira consciente. Não digo, vou escrever um poema que abarque questões da agenda contemporânea. Elas estão lá muito mais como minha visão do mundo. Este livro é queer. Mas repito, não olhei a página em branco e decidi escrever sobre gênero, orientação sexual. Os naufrágios foram se constituindo de maneira inconsciente. Mas fico muito feliz que pautas fundamentais estejam lá.
De alguma maneira as redes sociais serviram para que você maturasse sua escrita poética?
— As redes sociais me ajudaram a conhecer mais gente que trabalha na literatura. Elas sem dúvida democratizaram mais o acesso à escrita. Mas o que maturou a minha dicção poética foi a troca com autores, vivência, mas sobretudo a leitura. Pra mim a leitura talvez seja mais importante do que a escrita. Sem ela, eu não escreveria.
A epígrafe do livro é extraída da obra de Hilda História e fala da natureza anfíbio. Essa dualidade é uma característica de seu signo ou de sua personalidade?
— Esta é uma característica deste projeto literário. O existir anfíbio entre água e terra é uma equivalência entre morte e vida. Mas tudo que a gente escreve já nasce contaminado por nossas existências. Então o inconsciente deve fazer parte desta intersecção nas linhas que cruzam a mandala do tempo.
Seus poemas criam interstícios, fendas, fraturas. São nesses não-lugares onde a poesia acontece, se revela?
— A poesia está em todos os lugares. E pode ser acessada em múltiplas linguagens. Tenho interesse nas existências mínimas. Uma asa de mosca, um risco num cadeado, um fio de cabelo, um traço acidental no papel. O poema investigações aleatórias (de uma drosophila funebris) é um exemplo. É como se eu alterasse a escala da visão humana através de uma lupa.
O mar, como lugar, substância e metáfora é uma presença determinante. O que representa para Manoella, mulher?
— Sem água não há vida da maneira que a conhecemos. É no banho que as energias se renovam. O mar também pode ser atravessado. O sal é curativo. Também podemos afundar. A vida é feita de margens, mergulhos, afogamentos, chegadas e partidas e vice-versa. No mar há que se entender a dinâmica dos ventos para se navegar.
Você dá voz a Marli, Alba, Gilda e Stela. São personagens que habitam em você? É uma forma de espelhar o seu mundo enquanto poeta e criar um distanciamento do autobiográfico?
— Elas podem ser uma só, serem um duplo, um triplo e também se multiplicarem em muitos bichos, plantas e objetos que aparecem no livro. Também podem ser uma fusão do tempo - passado, presente, futuro - numa suspensão dele mesmo. Bernardo Brayner e Laura Cohen Rabelo lembraram das moiras.
O personagem principal do livro é o tempo. Mas não em forma linear, mas em círculo.
Elas [as mulheres-vozes] também podem ser vistas como rascunhos, esboços, ponto de partida para o leitor decidir quem são. Mas na questão da oralidade - com aqueles diálogos ou uma voz sozinha - posso relacionar com três tias avós - Corina, Cirene e Mariinha. Três mulheres que nunca se casaram e que foram independentes durante a vida adulta num tempo quando não eram comum mulheres trabalharem fora de casa. O livro é dedicado à Stella. Uma cadela whippet que convivi por um ano e três meses. Com ela aprendi que somos todos bichos.
Você quebra a expectativa dos leitores a todo momento, com humor e nonsense. Por que essa estratégia?
— A poeta Malu Grossi Maia batizou de trash chic. Os deslocamentos que chegam de maneira inesperada. O lixo no luxo, o luxo no lixo. Quebrar a expectativa é algo que faço de propósito. Gosto dos desvios. Viver é quebrar expectativas e assim nos abrimos para novos portais dentro de nossas ruínas circulares.
Livraria da Praça - Praça de Casa Forte, 454 - Casa Forte, Recife - PE, 52061-420.