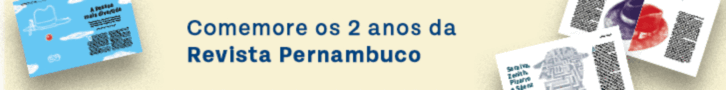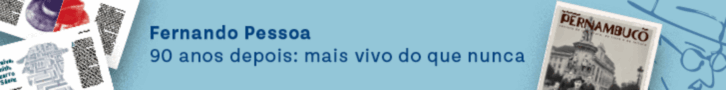No livro Uma história da velhice no Brasil a historiadora Mary del Priore esmiúça o papel do velho durante séculos e afirma que, apesar das dificuldades atuais, a Idade Média e o Renascimento foram os anos mais difíceis para os idosos. O que é ser velho no Brasil? Ela chegou à seguinte conclusão. “O marco da velhice muitas vezes vem de fora. Somos classificados como velhos pelo olhar do outro, pela sociedade que valoriza a produtividade e a juventude.” Nesta entrevista à jornalista Danielle Romani, ela comenta os principais tópicos do seu livro e diz qual será o principal tema do mundo nos próximos anos.
Você conta que uma dor no joelho e a história da sua mãe lhe motivaram a escrever este livro. Explique a importância dele para a atualidade.
— O livro nasceu de uma dor no joelho e da senescência de minha mãe, mas vai muito além do pessoal. Sua importância está em mostrar que a velhice tem história, e que nossos antepassados lidavam com ela de formas muito diversas. Ao recuperar essas experiências, o livro convida o leitor a refletir sobre os preconceitos atuais e as possibilidades de se envelhecer com mais consciência e dignidade. Em tempos de envelhecimento acelerado da população, trata-se de uma obra urgente.
O que representa envelhecer? Quem estabelece esse conceito?
— Envelhecer é inevitável, mas o marco da velhice muitas vezes vem de fora. Somos classificados como velhos pelo olhar do outro, pela sociedade que valoriza a produtividade e a juventude. É também nos afetos que se vão, nos fios de cabelo perdidos, que nós percebemos envelhecendo
Algo surpreendente ou chocante no percurso da sua pesquisa?
— Embora eu já percebesse o envelhecimento da minha própria geração, a dos “babies boomers”, me surpreendeu o vigor de muitos idosos no passado, sem acesso a médicos, às farmácias e a livros de autoajuda. Encontrei registros de pessoas com 80 anos ou mais trabalhando com coragem e firmeza, fechando os olhos apenas diante da morte — uma imagem que desafia os estereótipos atuais, em que se afasta a morte, para seguir vivendo doente.
A velhice sempre foi um estigma?
— Nem sempre. O século XIX foi um tempo em que a velhice era respeitada. O velho — patriarca, senhor, ancião — detinha poder, sabedoria e comando. Nas famílias e até nas senzalas, sua palavra tinha peso. A relação era vertical, e a autoridade do velho, inquestionável. Era o tempo em que se pedia benção aos mais velhos e não se desafiava jamais a sua opinião ou conselho. Até os jovens queriam parecer mais velhos do que eram, deixando crescer longas barbas, usando óculos, ternos escuros e bengalas.
Você narra no livro que a Idade Média e o Renascimento foram alguns dos piores tempos para envelhecer. O que aconteceu?
— Sim. Na Idade Média, o velho era muitas vezes visto como um farrapo humano e amaldiçoado por Deus. Pois viver muito, desafiava a crença de que os “bons”, Ele (Deus) levava cedo para o paraíso. Durava quem era ruim, amparado pelo demônio. No Renascimento, a valorização da juventude e da beleza fez da velhice — associada à feiura — algo odioso. Os conceitos de Belo e Bom se antepunham a Feio e Mau. Foram tempos difíceis para quem vivia muito.
Os portugueses encontram povos indígenas com excelente saúde e longevidade. Fale um pouco disso.
— Os povos originários da América viam os anciãos com muito respeito. No Brasil, os indígenas envelheciam com dignidade e força, mantendo um papel ativo nas suas comunidades. Eles se tornaram conselheiros do cacique, curandeiros, mediadores com o Além e os deuses, pajés. A velhice era vista como potência, não como declínio. Só em caso extremo de fome ou peste os velhos eram abandonados para morrer sozinhos. Mas isso era costume geral em qualquer parte do mundo, e foi aqui também.
A velhice sempre foi vista como mais cruel para as mulheres?
— Infelizmente, sim. Enquanto os homens velhos indígenas eram admirados por sua força física e longevidade, as mulheres idosas eram alvo de desconfiança. Entre os europeus, nas gravuras e pinturas do século XVI, a índia canibal, roedora de ossos humanos, à volta do caldeirão, descabelada e embrutecida foi associada à feitiçaria. Ela ajudou a moldar a figura da “bruxa” — um estigma que a perseguição inquisitorial tornou mortal.
A Inquisição perseguia as mulheres idosas?
— Há registros de mulheres idosas perseguidas e condenadas por bruxaria. Embora seja um erro se falar em matanças coletivas como ocorreu em outras partes da Europa, a Inquisição atuou no Brasil e em Portugal com rigor. Muitas vezes com base em denúncias frágeis, dirigidas a mulheres pobres e velhas que eram curandeiras, benzedeiras, parteiras, fabricantes de filtros amorosos e que ocupavam o lugar de médicos nas suas comunidades.
Quais foram as principais mudanças no século XIX?
— Na segunda metade do século XIX, com a chegada dos imigrantes e as leis abolicionistas (como a que libertava escravizados com mais de 60 anos), o cenário mudou. Mas a “liberdade” para os velhos libertos era precária. Muitos preferiam continuar trabalhando como empregados para seus senhores enquanto os filhos partiam para trabalhar nos centros urbanos. Entre os imigrantes se reproduzia o respeito aos mais velhos como detentores de saberes e experiência. Já no início do século XX, se assistiu ao início das discussões sobre previdência, novas configurações familiares e a presença dos idosos nos centros urbanos.
CONTEÚDO NA ÍNTEGRA NA EDIÇÃO IMPRESSA
Venda avulsa na Livraria da Cepe