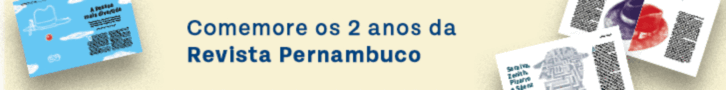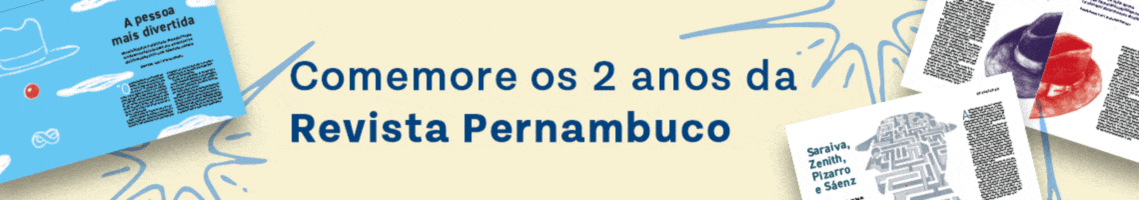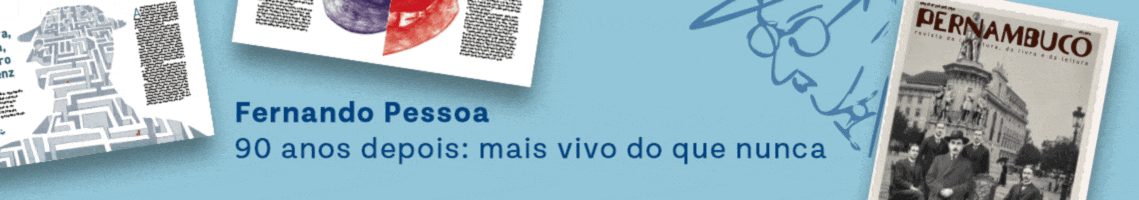Enquanto parte do mundo ocidental ainda resiste em considerar a atual ofensiva de Israel na Faixa de Gaza como genocídio, o historiador israelense Ilan Pappe considera que ele começou em 2006, quando o exército israelense expandiu e sistematizou as formas de matar, sem distinção entre civis e não civis. Em entrevista ao site da Pernambuco, em Paraty, no Rio de Janeiro, Pappe afirma que, após 7 de outubro de 2023, com o ataque do Hamas a Israel, o que mudou foi a possibilidade de intensificar as ações militares e assumir um discurso abertamente genocida. Desde então, pelo menos 60 mil palestinos foram mortos em Gaza — e hoje a fome cresce como uma das causas de morte.
O historiador é um dos convidados da programação principal da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), onde fala numa mesa individual nesta sexta-feira (1º), às 17h, com mediação de Arlene Clemesha, professora da Universidade de São Paulo. Pappe argumenta que mesmo a linguagem da ocupação é insuficiente para caracterizar o que vê como “colonialismo de assentamento”, um projeto colonial que implica a eliminação do nativo: “Livrar-se dos povos indígenas não é nada de novo no mundo. Os palestinos são os indígenas, e os israelenses, os colonos. Mas, até hoje, a maioria das pessoas não ousaria dizer isso sobre Israel.”
Por ousar dizê-lo, o historiador foi demitido em 2006 da Universidade de Haifa, após 22 anos como professor, e se mudou para o Reino Unido, onde fundou e dirige o Centro Europeu de Estudos Palestinos da Universidade de Exeter. Como um dos representantes da Nova História de Israel, ele revê a narrativa hegemônica sobre a fundação do que seria o estado judaico. Em Brevíssima história do conflito Israel-Palestina, publicado pela Elefante no início de 2025, Pappe relaciona o colonialismo de assentamento com as origens do sionismo no fim do século XIX e analisa como a limpeza étnica dos palestinos em 1948 começou a ser planejada na década de 1920, facilitada pelo Mandato Britânico.
O historiador lança agora no Brasil A maior prisão do mundo: uma história dos territórios ocupados por Israel na Palestina, também pela Elefante. No livro, ele analisa as atas das reuniões ministeriais de 1967, hoje em domínio público, para mostrar como a anexação dos territórios palestinos naquele ano significou confinar os palestinos como residentes, não como cidadãos, para garantir a pureza étnica do estado de Israel.
Também autor de Limpeza étnica na Palestina (Sundermann, 2016) e Dez mitos sobre Israel (Tabla, 2022), Pappe diz, nesta entrevista, que sua visão de mundo em relação à Palestina foi marcada pela desumanização dos judeus no Holocausto, incluindo seus pais, perseguidos pela Alemanha nazista. E acredita que a lacuna existente entre o sentimento das pessoas comuns em relação à Faixa de Gaza e à ação dos políticos é a esperança de que haja descolonização, ainda que o desafio seja monumental: “Se eu for pessimista sobre o futuro da Palestina, serei pessimista sobre o futuro do mundo. Eles estão ligados.”
Como historiador, você usa documentos para mostrar como a ocupação da Palestina é um projeto colonial desde o fim do século XIX, e, como desde 1967, seu modelo é criar uma prisão para os palestinos dentro do estado de Israel: uma “prisão aberta” na Cisjordânia e, mais tarde, uma “prisão de segurança máxima” na Faixa de Gaza. De que modo esse contexto histórico é importante não apenas para se entender o que acontece hoje, mas também para se repolitizar a questão palestina?
— Este é um dos raros casos em que, mesmo que você esteja só um pouco interessado neste conflito, precisa entender o contexto histórico, que remonta ao final do século XIX. O sionismo, a ideia de criar um estado judeu na Palestina, foi uma solução europeia para um problema europeu. O antissemitismo estava em um nível tamanho que os judeus estavam sob perigo existencial em muitas partes da Europa. Então, a ideia — que foi concebida não apenas por políticos europeus, mas por pensadores judeus, cristãos protestantes e por imperialistas britânicos — era que se você não pode ter judeus na Europa, pode construir um Estado para esses judeus europeus em outro lugar. A Palestina foi escolhida porque há uma conexão entre a religião judaica pela Bíblia. Mas ficou muito claro desde o início que era uma imposição de um estado judeu europeu no coração do mundo árabe, às custas dos palestinos.
A única maneira de isso funcionar era por meio da força. Já existiam judeus árabes. Mas insistir que essa parte do mundo, ou seja, a Palestina histórica, tinha que ser exclusivamente judaica significava que você precisava de força não apenas para construir o Estado, mas para tentar se livrar dos palestinos que viviam lá. É por isso que tantos estudiosos chamam isso de colonialismo de assentamento: a eliminação do nativo não era só um projeto colonial, mas também de povoamento. Os colonos queriam acreditar que eram uma nova nação e que a terra que pertencia aos povos nativos era, na verdade, a sua própria terra. Livrar-se dos povos indígenas não é nada de novo no mundo. Os palestinos são os indígenas, e os israelenses, os colonos. Mas até hoje, a maioria das pessoas não ousaria dizer isso sobre Israel.
Além disso, o projeto colonialista começa a sério após a Segunda Guerra Mundial, e isso é anormal. Esta é uma das razões pelas quais é tão difícil explicá-lo às pessoas, porque elas pensam no colonialismo como algo do século XIX. Não havia Faixa de Gaza antes de 1948. É preciso entender a conexão entre os palestinos que se tornaram refugiados em 1948 e a segunda e terceira gerações que agora vivem em Gaza. É preciso voltar a 1967, à ocupação da Faixa de Gaza por Israel, e depois a 2007, com a imposição do cerco (o bloqueio de acesso a Gaza, com fechamento das fronteiras). Esse contexto de curto prazo também é necessário para entender a violência de 2023 e de 2025. E isso é muito difícil para um jornal ou para a televisão, porque precisa de espaço e tempo.
Além da falta de espaço, também há uma linguagem reproduzida na mídia, por exemplo, de que esta é uma guerra com dois lados iguais, ou uma tentativa de se mostrar neutro no conflito.
— Sim, absolutamente. Você mencionou duas coisas. Uma é a ideia de paridade, que é uma total deturpação da realidade. E segundo, a linguagem que acredito ser apropriada é imediatamente rotulada como antissemita. Esse é um grande obstáculo para jornalistas e políticos, até mesmo acadêmicos, porque ninguém quer ser chamado de antissemita. Não sei no Brasil, mas em outras partes do mundo os acadêmicos começam a ter menos medo de usar essa linguagem.
Sempre digo que os palestinos foram vítimas duas vezes por causa da linguagem: uma vez quando aconteceu o que lhes aconteceu, e depois pela negação: quando dizem às pessoas que sofreram genocídio que elas eram "terroristas", ou quando dizem a refugiados que eles saíram voluntariamente de suas terras.
No novo prefácio feito para a edição brasileira de A maior prisão do mundo, lançado originalmente em 2017, você afirma que, após 7 de outubro de 2023, a prisão em Gaza se transformou em um campo de extermínio. No entanto, situa o início do genocídio em 2006, quando os ataques militares israelenses não faziam mais distinção entre civis e não civis e o assassinato se tornou sistemático. O que mudou depois de 7 de outubro? Foi a escala, a intencionalidade?
— Duas coisas mudaram. Primeiro, a intensidade. Houve transição de ações graduais para ações mais massivas. Foi como se os formuladores de políticas em Israel dissessem: “As coisas terríveis que o Hamas fez em 7 de outubro nos dão licença agora para fazermos o que antes fazíamos de maneira mais oculta". Em segundo lugar, o discurso israelense mudou depois de novembro de 2022, quando o governo de extrema-direita foi eleito. Quando há uma linguagem clara de genocídio e atos claros de genocídio, é muito difícil negá-lo.
Mas é preciso voltar a 2006. Ariel Sharon, então primeiro-ministro, tirou os colonos da Faixa de Gaza porque lá não estava funcionando o modelo de controle da Cisjordânia: uma parte judaica, que continua crescendo, e a Cisjordânia palestina, que continua diminuindo. Por alguma razão, que ninguém analisou muito bem, apenas alguns milhares de colonos estavam dispostos a ir para a Faixa de Gaza, enquanto há 800 mil colonos judeus na Cisjordânia. Não acho que Sharon tenha pensado em genocídio, e sim no que chamo de megaprisão de segurança máxima. Mas ele subestimou a natureza muito particular de resistência do povo de Gaza, que é a maior vítima.
As pessoas dizem que o Hamas força o povo de Gaza a resistir. Não é verdade. O povo de Gaza resiste, e é por isso que elege o Hamas, não porque sejam fundamentalistas islâmicos. Sim, o Hamas é um problema. Parte de sua teologia não é aceita pelo povo de Gaza, mas sua determinação em continuar a luta é respeitada. É uma relação complicada. Quando o que chamo de novos sionistas messiânicos chegam ao poder, dizem: “Se é este o caso, vamos partir para a obliteração”.
O governo de 2022 é o terceiro de Benjamin Netanyahu, mas você analisa como seus governos anteriores também intensificaram o apartheid dos palestinos. Que papel desempenham nisso a lei de nacionalidade de 2018, que define Israel como o Estado nacional do povo judeu, e o hebraico como sua única língua oficial?
— Há um consenso entre os judeus em Israel sobre a ideia de que toda a Palestina histórica deve ser judaica. E isso pode levar pessoas boas a apoiarem o genocídio sem saber. A maioria dos israelenses diria que o povo da Cisjordânia tem para onde ir, para a Jordânia, por exemplo. Não tenho certeza de que eles entendam que os jordanianos nunca permitiriam isso, mas não importa. Eles pensam ser possível. Mas está claro, desde 1948, que o Egito não vai receber a população da Faixa de Gaza. Então a única solução é eliminá-los. Isso é terrível porque me lembra como pessoas boas se comportam em regimes fascistas. O regime fascista não sobrevive porque todos se tornaram fascistas, mas porque cria uma certa lógica com a qual as pessoas não querem lidar. Não espere a mudança de dentro de Israel sobre a questão da Palestina.
E você acha que alguma transformação é possível sem essa mudança na sociedade israelense?
— Sim. Porque sei, pela história, que em estados que cometeram crimes ou foram governados por regimes cruéis, às vezes a única maneira de mudar foi uma grande pressão de fora. A mudança de dentro é importante, mas há que se perguntar qual é o momento para ela. Um bom exemplo é a França e a Argélia. Eventualmente, houve uma força política significativa na França que apoiou a ideia de deixar a Argélia, liderada por Charles de Gaulle. Mas isso não teria acontecido se fosse a forte resistência da Frente de Libertação Nacional, o movimento nacional argelino, e uma comunidade internacional que considerava o colonialismo no norte da África inaceitável e ilegítimo. O mundo agora tem que tratar Israel como um Estado que não mudará sua política a menos que se sujeite a sanções e a uma pressão como é imposta a outros países que, de acordo com o Direito Internacional, não respeitam os direitos fundamentais. É muito simples.
Existe esperança nesse caminho?
— O maior desafio é a lacuna entre a posição das elites políticas, econômicas e em alguns casos culturais sobre a Palestina e a posição de muitas pessoas em suas sociedades. Essa lacuna não permite que a política reflita o que as pessoas realmente sentem sobre a Palestina e sobre muitas outras coisas importantes, como aquecimento global, pobreza, imigração. Tenho que ser otimista porque, se eu for pessimista sobre o futuro da Palestina, serei pessimista sobre o futuro do mundo. Eles estão ligados. A história não é linear, é cíclica. Entendo o quão formidável é esse o desafio, mas acho que estamos no fim de um período muito ruim. Se você tivesse me dito há dez anos que haveria um candidato a prefeito em Nova York, a maior cidade judaica do mundo, que apoia a Palestina ou um candidato do Partido Trabalhista no Reino Unido que apoia a Palestina, não acreditaria. Não são fenômenos acidentais. Eles são o resultado de um esforço cumulativo do movimento de solidariedade ao longo dos anos.
Como a situação em Gaza está sendo estendida para a Cisjordânia?
— Quase como um bom jornalista, não apenas como um bom historiador, acredito ter boas evidências de que a Cisjordânia será o próximo local a se tentar, à força, criar uma realidade demográfica que se encaixe na ideologia sionista — o que significa diminuir o número de palestinos na Cisjordânia. Se isso acontecesse, o mundo estaria ainda mais alerta, mas seria tarde demais.
Você é filho de judeus que foram perseguidos pelos nazistas na Alemanha. Acha que a história da desumanização não apenas da sua família, mas de milhões de judeus no Holocausto, contribuiu que olhasse para a desumanização dos palestinos agora?
— Sim, sim. Foi um fator muito importante, mas você tem que entender o quão excepcional isso é em Israel. Numa entrevista para a televisão em 2006, fui chamado de traidor porque disse que apoio os palestinos em parte por causa do que minha família passou no Holocausto. Essa é minha lição moral do que aconteceu. Mas o que me foi ensinado na escola é que a os palestinos são os novos nazistas, e temos que lutar contra eles até a morte para que eles não nos inflijam outro Holocausto.
Essa entrevista foi antes de você ser demitido da universidade em Haifa?
— Sim, e acho que contribuiu para isso, porque espera-se que um historiador em Israel corrobore a história que apoia a ideologia, não a que a desafia. Quando fui demitido em 2006, percebi que nenhuma universidade em Israel me empregaria. Nunca quis sair, estava disposto a continuar em Israel, mas era mais fácil em uma universidade britânica. Eu me lembro de uma das minhas primeiras aulas na Inglaterra, quando disse: “Vou falar algo extremo. De acordo com minha visão, os palestinos foram expulsos em 1948”. Os alunos olharam para mim sem entender o que havia de extremo nisso. O que era considerado inaceitável em Israel era normal do lado de fora.
Mas, como historiador, você traz muitos contextos que não são habituais mesmo fora de Israel, como a ideia de que a limpeza étnica começou a ser construída nos anos 1920, como argumenta em Brevíssima história do conflito Israel-Palestina.
— Absolutamente. Esse foi um momento crucial. Para um projeto colonial de assentamento como o sionismo, a menos que você elimine o nativo, não pode ter sucesso. Nem sempre há meios imediatos de fazê-lo, mas esse era o plano. Desde o início era claro: se a Palestina está cheia de palestinos, não há estado judeu. Infelizmente é uma suposição lógica. O primeiros sionistas eram humanistas, alguns deles disseram: “Ok, provavelmente, podemos lhes dar dinheiro e eles sairão”. Eles se convenceram de que os palestinos não eram realmente nativos, eram nômades. Isso veio de um complexo de culpa, porque eles sabiam que algo estava errado em desapossar pessoas.
Alguns dos estudiosos do colonialismo de assentamento gostam de enfatizar o fato de que ele não é um evento isolado, é uma estrutura que se repete, a menos que seja derrotado ou que tenha sucesso. Mas os palestinos ainda têm uma chance de recuperar sua pátria.
Você defende a solução de um Estado, por muitos considerada utópica.
— Quando comecei a trabalhar no movimento de solidariedade palestino internacional, nos anos 1980, me lembro ver em Londres um protesto pela solução de dois estados. Você vê hoje alguma manifestação dessas? O slogan agora é: a Palestina deve ser livre do rio ao mar. A conclusão do que aconteceu é que precisamos de uma Palestina livre e descolonizada.
Os políticos se apegam à solução de dois estados por duas razões. Uma é a inércia. Em segundo lugar, temos que admitir que alguns órgãos que representam os palestinos, como a Autoridade Palestina, apoiam a solução de dois estados. Levará tempo, mas agora o importante é salvar os palestinos da eliminação. Depois, deixar os palestinos decidirem que tipo de solução eles querem e deixar os outros responderem ao que eles querem.
SUZANA VELASCO, jornalista, escritora e doutora em Relações Internacionais, autora do livro Pra onde quer que eu vá será exílio (Cobogó, 2021)