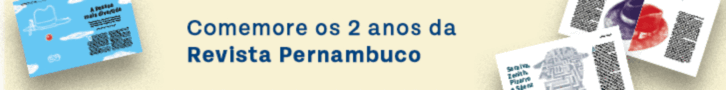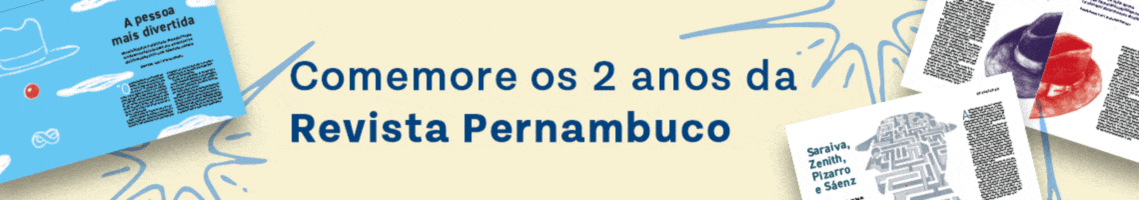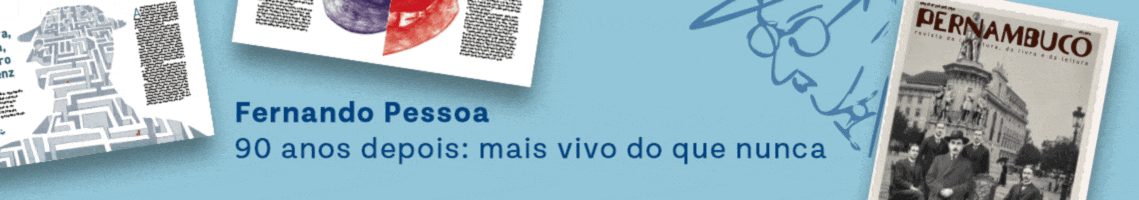O escritor palestino Atef Abu Saif nadava no mar de Gaza com seu irmão Muhammad, seu filho Yasser, de 15 anos, e seu cunhado Ismail, em 7 de outubro de 2023. Ele ocupava um cargo equivalente a Ministro da Cultura da Autoridade Nacional Palestina, na Cisjordânia, e um compromisso de trabalho o levara a Gaza, onde nasceu em 1973, no campo de refugiados de Jabalia. O filho insistiu para ir junto, pois tinha saudades dos avós. No mar, quando começaram os foguetes e explosões de Israel, Saif pensou ser mais um dos exercícios militares de rotina, mas logo ficou claro que não era. Na mesma manhã, um amigo, que também tinha decidido aproveitar o sábado na praia, foi morto por projéteis disparados de navios israelenses – que estão sempre no horizonte.
Desde aquele dia, e por mais 84 outros, até finalmente fugir para o Egito com o filho, Saif escreveu um diário do conflito entre Israel e a Faixa de Gaza, em árabe e em inglês, enviado para jornais do Oriente Médio e do Ocidente, como The New York Times e The Guardian. Agora editado em livro, o diário saiu em português como Quero estar acordado quando morrer: diário do genocídio em Gaza (Elefante, 2024), com tradução de Gisele Erberspächer. É a primeira obra publicada no Brasil pelo escritor, que é autor de nove romances, dois livros de contos e ensaios políticos.
No último fim de semana, Saif esteve na 22ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), na mesa-redonda “Não existe mais lá”, ao lado da escritora Julia Dantas, que viveu a recente destruição de cidades do Rio Grande do Sul pelas enchentes. Saif permaneceu no Brasil para mais dois debates. Na terça-feira (15), às 19h, ele conversou com a jornalista Gizele Martins, na Livraria Leonardo Da Vinci, no Rio de Janeiro; e na quarta-feira (16), às 18h, Saif participou da inauguração do Centro de Estudos Palestinos da Universidade de São Paulo, em debate com os juristas e professores Francisco Rezek e Paulo Sérgio Pinheiro.
No diário, Saif conta o cotidiano, a escalada de destruição, que extinguia bairros inteiros, dia após dia, e os cálculos feitos a cada minuto para tentar escapar da morte – uma fuga que, como ele diz em entrevista em Paraty, é sempre uma questão de acaso. Ele narra como a guerra afeta as coisas mais simples, como a possibilidade de comprar um pão – e o próprio preço do pão – e fala das estratégias de sobrevivência, dos afetos que persistem e como de como a guerra afeta o corpo e a percepção de realidade.
“Era minha segunda noite no campo de Jabalia. O lugar no qual eu deveria estar desde o começo, onde minha família — pai, irmãs, irmãos — se reuniu. Eu poderia ter morrido aqui na Primeira Intifada, poderia ter morrido aqui na Segunda Intifada, ou na última longa ‘guerra’ em 2014. Passamos a noite procurando um sinal de rádio. A guerra nos arrasta ao passado e aos meios antigos de descobrir as coisas. O rádio, naquele momento, era nossa única fonte de notícias. Nada de internet, nada de redes sociais. Então, voltamos para a era do rádio. As explosões continuavam, cada uma parecendo mais próxima que a anterior, cada uma fazendo com que eu conferisse meu corpo para saber se havia sido atingido”, diz um trecho do livro.
Nesta entrevista ao site da Pernambuco, o escritor palestino fala do ato de escrever como estratégia de sobrevivência ao genocídio em Gaza, ainda em curso, a pretexto dos ataques terroristas do Hamas em Israel há mais de um ano. E também da missão que era contar ao mundo sobre o horror, o que o levou a escrever em inglês, não só em árabe. Ele relembra os quase três meses em que, com o filho, viveu sob a sombra da morte, e, ao mesmo tempo, diz que tudo parece uma ficção ou um pesadelo, pois não teve tempo de luto: “Vamos acordar quando a guerra acabar. Quando eu voltar e descobrir que não tenho pai, não tenho casa.”
O título do seu livro em português, Quero estar acordado quando morrer: diário de um genocídio em Gaza, é retirado de uma frase que você diz num dos 85 dias que viveu na guerra. Em inglês, o livro se chama Don’t look left (“Não olhe para a esquerda”, em tradução literal). Não sei como é em árabe. Poderia comentar sobre esses diferentes títulos?
— Cada língua tem sua sensibilidade e implicações. E este não é um romance, é um diário, então você quer que as pessoas entendam claramente o que quer dizer. Publiquei os diários em diferentes revistas e jornais durante a guerra e, num deles, o título era Quero estar acordado quando morrer. Em inglês, queria chamar o livro de Coffee on the tank (“Café no tanque”, em tradução literal), porque quando passávamos do Norte de Gaza para Rafah, no Sul, um soldado ficava sentado no tanque, bebendo sua caneca de café e dizendo: “Você passa, você não”. Ele controlava nossa vida com seu café. Mas meu livro anterior se chama The drone eats with me (“O drone come comigo”, em tradução literal), por isso não ia funcionar. Então escolhemos Don’t look left, porque o soldado não permitia que olhássemos para ele. Em árabe, o livro é chamado Intervalo para sobrevivência. É poético e explica que a vida é um intervalo. Nós não vivemos. Deveríamos estar mortos e sobrevivemos por um minuto. Às vezes é preciso levar a tradução para mais perto do leitor, por isso dizemos que ela é uma traição do texto. Você sempre trai a língua original.

Você escrevia todos os dias em árabe e em inglês?
— Sim, o livro foi originalmente escrito em árabe e inglês, eu não traduzia de um para o outro. Queria escrever em árabe porque me dei conta de que iria morrer, então, pelo menos, meus filhos poderiam ler. Ao mesmo tempo, queria contar às pessoas o que tinha acontecido comigo. Então escrevia todos os dias, por três ou quatro horas. O que escritores fazem na guerra? Escrevem. Eu me sentava à mesa, às vezes na areia, na rua quando tivesse algum momento calmo. Nada é totalmente calmo lá, mas você luta pela calma, para escapar do barulho em volta. Em árabe, os textos eram mais longos, porque o espaço que me era dado no jornal era maior, e a língua é mais poética. Em inglês, tinha que ser mais específico e, ao mesmo tempo, explicar para os leitores sobre o genocídio.
E mandava imediatamente para os editores?
— Era uma missão complicada. Às vezes, tinha que escrever à mão; às vezes, gravar mensagens de voz. No último mês, quando estava em Rafah, escrevia no computador, andava três quilômetros para carregar meu laptop no Crescente Vermelho Palestino (organização humanitária). Lá, havia energia solar, mas não internet. Então, transmitia o texto por bluetooth para o meu celular e andava até a fronteira israelense, perto dos tanques. Eu levantava minha mão com o celular para pegar o sinal de internet dos militares ou ia para a fronteira egípcia pegar o sinal egípcio. Então, era só apertar um botão. Era perigoso, mas valia a pena. Os soldados lutam, os médicos salvam vidas na guerra, jornalistas reportam o que acontece. Escritores escrevem.
Você diz que escrever era uma missão e, em sua mesa na Flip, disse que, por meio da escrita, poderia se distanciar do que acontecia. Escrever era também uma forma de sobrevivência?
— Por estar escrevendo, estou vivo. Se alguém está escrevendo sobre algo, aparentemente está fora daquilo. Você recria uma situação em que é sujeito e objeto ao mesmo tempo. Quando lia o que tinha escrito, pensava: “Quem escreveu isso deve estar vivo.” Uau, eu sou essa pessoa. Dizia a mim mesmo: “Foi você quem escreveu”. Isso significa que estou vivo. Escrever era uma estratégia de sobrevivência para mim. Naquelas quatro horas, tinha certeza de que estava vivo. Mas quando voltava para a tenda, pensava: “E se eu estiver sonhando, já estiver morto?” Criamos técnicas para sobreviver, nos escondemos da morte e sabemos que ela pode nos pegar a qualquer momento. Você não sobrevive porque é herói ou corajoso. Você sobrevive porque a morte se engana. Como um monstro que corre atrás de dez pessoas e só consegue pegar cinco. Cada minuto que vive é um minuto novo na sua vida. Porque você deveria estar morto no minuto anterior.
Há sempre um “se” nos relatos do livro. “Se” eu tivesse dormido na casa da minha prima ou estado naquele lugar, estaria morto. Como é viver nesse cálculo permanente?
— Você vive a vida minuto a minuto. A vida não é dada a você, você não decide. A morte te assombra e assume diferentes formas, muda de cara. Ela não está num ponto ou outro, está em todo lugar. Em Gaza, você não tem como fazer escolhas racionais. Todas as escolhas são irracionais porque a situação é irracional. Então você tenta se iludir, pensar que um lugar é mais seguro que o outro. E tem que acreditar nisso, se convencer de que está seguro. Mas você nunca está.
Em muitas entrevistas, e também na conversa na Flip, você repete que “não é uma metáfora” quando narra a rotina. Quando conta, por exemplo, que cheirava a morte. Foi também uma razão para escrever, tornar o horror concreto?
— Não é uma metáfora, porque eu sentia o cheiro! Estava andando e alguém era morto ao meu lado, aqui (ele bate na própria perna)! A vida é mais metafórica do que a arte. Estes pássaros cantam melhor do que música, nenhum compositor do mundo pode fazer igual (havia um intenso canto de pássaros durante toda a entrevista). Quando digo que não é uma metáfora, estou dizendo que minha intenção não é fazer uma metáfora. Eu descrevia a vida como ela é. E a vida é mais poética e metafórica do que qualquer imaginação. A maior parte das supostas metáforas no livro eram, na verdade, descrições mecânicas do que acontecia no meu entorno.
No livro, você diz que os palestinos são refugiados muitas vezes na vida. Eles nascem refugiados e têm que se deslocar, perdem a casa e têm que reconstruí-la, para depois a perderem de novo. Os palestinos de Gaza são refugiados que, em sua maioria, nunca deixaram Gaza. Você nasceu em Jabalia, num campo de refugiados. Como foi crescer assim?
— Eu tinha 25 anos na primeira vez em que saí de Gaza. Para mim, o mundo era algo por trás da televisão, como para a maioria dos moradores de lá. É estranho, porque olhamos para o mar e ele deveria ser nossa janela para o mundo. Mas é uma cerca, uma fronteira. É como a cerca elétrica na fronteira com Israel. Num dos meus romances, o mar é como uma bela tela na parede. Até hoje, nunca peguei um barco no mar de Gaza. Nenhum habitante de lá de menos de 60 anos deixou Gaza de barco. Nem para um passeio, porque os navios de guerra estão ali. Pescadores são mortos todos os dias em Gaza, porque só são permitidos por três quilômetros no mar.
Você abre o livro com o momento em que está nadando no mar e a guerra começa.
— Sim, os primeiros a atirarem foram os navios de guerra. Gaza é uma grande prisão. Numa prisão, não importa se ela tem um metro ou 300 quilômetros. Você nunca pode decidir quando sair. Eles te põem ali e agem como se tudo estivesse normal. Nada é normal. É uma prisão da qual as pessoas querem sair.
No meio da anormalidade, há muitos momentos de afeição entre as pessoas, como no aniversário do seu filho, que vocês comemoram no acampamento no Sul de Gaza. Há uma insistência na vida?
— Ou você vive ou você morre. Tem que lutar pela vida, e vale a pena. É muito importante sempre lembrar que a morte não é uma coisa normal, apesar de ser na guerra. Mas o normal é viver. Não poderia passar o aniversário de 16 anos do meu filho sem dizer a ele que era seu aniversário. Antes já tinha sido o da minha sobrinha e, ainda que não tivéssemos muitas coisas, conseguimos fazer uma pizza. Não queria me esquecer de como é a vida normal. Tudo o que buscamos é normalidade, porque a guerra nos tira isso e quer nos desumanizar, tornar-nos um animal ou uma pedra. Mas sou um ser humano. Tenho emoções, carne e osso.
O diário tem 85 dias, mas, já nos primeiros, há uma grande dimensão de horror e destruição total, que vai se repetindo e se intensificando muito rapidamente. Tendo vivido o que viveu, como pode dar sentido ao fato de que a guerra já dura mais de um ano?
— Não sei. Quando olho para trás, parece que é um sonho, um pesadelo, na verdade. E me pergunto: “Isso aconteceu mesmo?” Agora é como se estivéssemos dormindo. Vamos acordar quando a guerra acabar. Quando eu voltar e descobrir que não tenho pai, não tenho casa. Agora é como se fosse ficção. Um pesadelo, algo que aconteceu num passado muito distante. Não tive tempo de luto.
Seu pai morreu depois que você deixou Gaza?
— Ele foi morto em abril. Não tive tempo de luto, de sofrer. Você precisa ver o túmulo. Tudo na minha casa foi destruído, meus álbuns de fotos. A casa do meu sogro foi destruída... A outra guerra será a interna, quando a guerra acabar. Costumava passar os dias em Gaza na Casa de Imprensa, agora ela não existe mais. Agora é ficção, mas quando for para Gaza e não tiver mais Casa de Imprensa, vou perguntar: “Onde vou ficar?”. Por 15 anos, eu ia para lá todos os dias. Meus melhores amigos, a quem contava meus segredos, com quem compartilhava meus sonhos, para quem pedia conselhos, nenhum deles está mais vivo.

Onde você está morando agora?
— Em nenhum lugar. Até que a guerra acabe. Fiquei na Itália por um mês, estou fazendo essa viagem com o livro por diferentes países, incluindo Brasil, Indonésia. Vou para Feira de Frankfurt. Depois volto para a Itália, vou para o Egito...
E seu filho?
— Ele está em Ramallah (na Cisjordânia).
O nome da mesa de que você participou na Flip era “Não existe mais lá”. Mas você termina o livro dizendo que saiu de Gaza, só que continua lá. Como tem estado lá nesses últimos meses?
— A guerra vive dentro de você, não dá para escapar. As pessoas desapareceram, o lugar desapareceu, tudo foi demolido. Suas memórias também são assassinadas, porque tudo relacionado àquele lugar está destruído. Mas elas estão dentro de você. Toda manhã faço três ou quatro horas de ligação para Gaza. Minha irmã se machucou hoje. Teve uma explosão ao lado da casa dela em Jabalia e ela voou com o efeito da bomba. Mas ela está bem, só com dor nas costas. Não tem como ficar fora disso, a guerra vive dentro da gente.
SUZANA VELASCO, jornalista, escritora e doutora em Relações Internacionais, autora da dramaturgia Pra onde quer que vá será exílio (Cobogó, 2021)
Ataque do Hamas foi estopim para atual conflito em Gaza
O estopim do atual conflito na Faixa de Gaza, que completou um ano, no último dia 7 de outubro, foi desencadeado a partir de uma ação das Brigadas Al-Qassam (com a Jihad Islâmica), o braço armado do grupo político palestino Hamas, que atacou com parapentes, motos e armas o Festival Tribe of Nova, que ocorria em Re'im, e o kibbutz de Be'eri, ambos em Israel. Ao todo, foram mortas 1.200 pessoas e sequestradas mais de 250 de várias nacionalidades, a maioria de Israel.
A reação do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ocorreu, na sequência, em grandes proporções, com bombas, mísseis, tanques e drones. Ao longo deste primeiro ano de conflito, 2,2 milhões de palestinos foram expulsos de suas casas, obrigados a fugir para o sul do território, próximo à fronteira do Egito. Já foram contabilizados mais de 40 mil mortos, com nomes confirmados pelo ministério da saúde da Faixa de Gaza. A ONU pressiona para um cessar-fogo e o fim da crise humanitária, com escassez de água, comida e suprimentos médicos.
A morte indiscriminada de civis em Gaza preocupa governos, entidades, organismos e líderes políticos e religiosos internacionais. Embora o termo genocídio já tenha constado de manifestações públicas e documentos oficiais, como o relatório intitulado “Anatomia de um Genocídio”, de autoria da relatora especial da Organização das Nações Unidas sobre a Situação dos Direitos Humanos no Território Palestino Ocupado, Francesca Albanese, não há condenação ao Estado de Israel por este crime contra a humanidade.
“Há motivos razoáveis para acreditar que o limite que indica o cometimento do crime de genocídio foi atingido”, escreveu Albanese no relatório, apresentado no Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, no início de março deste ano. O governo de Israel pronunciou-se contra. O ministério das Relações Exteriores divulgou nota, na época, considerando o relatório “uma distorção obscena da realidade”. “É uma tentativa de esvaziar a palavra genocídio da sua força única e do seu significado especial”, afirmou.
Em 24 de janeiro, a Corte Internacional de Justiça (ICJ), órgão jurisdicional da Organização das Nações Unidas, com sede no Palácio da Paz em Haia, se manifestou sobre a ação apresentada pela África do Sul, em 29 de dezembro de 2023, acusando o Estado de Israel de infringir a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, assinada em 1948, após o Holocausto. O tribunal está avaliando o pleito e não tem data definida para anunciar o veredicto.
Da redação da Pernambuco