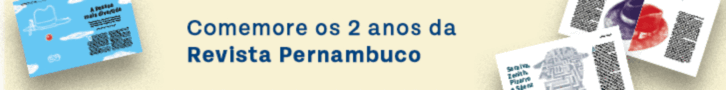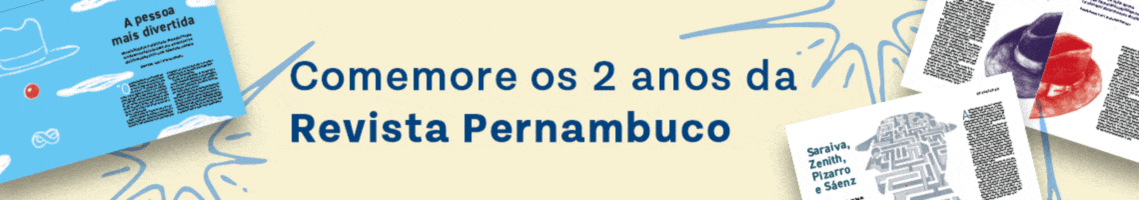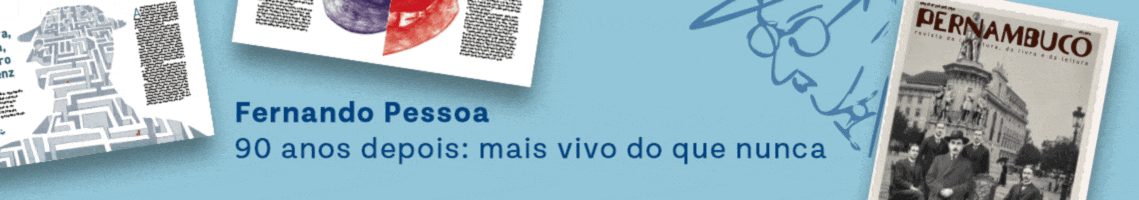Com a morte de meu pai, um irmão seu, mais velho e solteirão, nos convidou para deixar Mossoró e vir morar em seu sítio no Bairro de Mondubim, em Fortaleza.
Solitário, logo nos tornamos amigos, um velho e um menino de 12 anos. Conversávamos, tio Celso e eu, no alpendre que dava para um enorme cajueiro, duas velhas mangueiras habitadas por soinhos e jogávamos diariamente o jogo que ele havia me ensinado, o gamão.
Através dele eu acompanhava as notícias, que lia no jornal que assinava. Tinha fascínio por Brasília, onde havia estado e que me descrevia como o futuro glorioso do Brasil.
Um dia me mostrou um álbum com fotos de suas obras como um dos engenheiros pioneiros do Nordeste e eis que em destaque numa página posava uma mulher belíssima. Sobre a foto, uma dedicatória. Não ousei perguntar, mas devia ser aquela a mulher de quem eu tinha ouvido falar, o seu amor perdido, responsável por nunca ter querido se casar.
Por causa de minha amizade com ele, minhas irmãs achavam, com razão, que ninguém melhor do que eu para lhe fazer um pedido. Comprar uma televisão, com o argumento de que seria “muito instrutiva”.
Ao me ouvir, ele riu: “Essa palavra você não conhece; é coisa de suas irmãs.” Em poucos dias chegava a novidade na casa, nossa primeira televisão, preto e branco, onde eu via Renato Aragão antes de se tornar o Didi conhecido nacionalmente. Até tarde, eu poderia assistir à “quinta dimensão”, onde apareciam monstros que davam medo e hoje fariam rir.
Outro presente foi iniciativa dele próprio, o tio Celso. Ele me dava um violino com a condição de que eu estudasse o instrumento, do qual, segundo ele, era possível extrair o mais belo de todos os sons.
O violino despertava compaixão em quem via aquele menino que sempre seria dos menores de sua turma carregar um malote maior do que ele. Na parada de ônibus, entupido de gente, pessoas desciam para ajudá-lo, ceder-lhe o lugar ou levar o violino ao alto durante a viagem.
Mondubim guardava o aspecto de um vilarejo do interior, com seu canteiro central onde ficava a igreja, e fileiras de casas dos dois lados. O sítio estava a poucos minutos do vilarejo, a duas quadras da estrada que passava pela bela Lagoa de Maraponga, que o amigo Ricardo Bezerra anos depois imortalizaria numa canção, até chegar aos casarios do Bairro de Parangaba e, depois de meia hora, à Praça José de Alencar.
O mesmo acontecia no segundo trajeto, da Praça José de Alencar à Rua Dom Manuel, já perto do Bairro da Aldeota. A gente era amável e creio que admirava que uma criança se interessasse por um instrumento raro, que impunha respeito. Assim, tive a impressão de que havia chegado a uma cidade de pessoas especialmente gentis.
O trajeto diário para a escola, o Colégio Cearense, era semelhante. O ônibus me deixava na Praça José de Alencar, de onde eu seguia a pé.
Minha turma tinha o sonho de fazer uma excursão ao final do curso, então chamado de ginasial. Teríamos de levantar dinheiro para isso. O plano foi de uma viagem ao Rio de Janeiro. Mas chegou o momento em que a comissão organizadora informou que não seria viável; talvez desse para visitarmos a Cachoeira de Paulo Afonso. Não deu. Mas éramos sonhadores e incompetentes. Terminamos num piquenique em Maranguape, pertinho de Fortaleza. Como não tínhamos idade para tanto, sem direito sequer a tomar a cachaça Ypióca ali produzida.
Muitos anos depois da frustrada excursão, parti para o Rio sem violino. Não tinha jamais conseguido extrair dele o belo som que meu tio queria ouvir. Já seu fascínio por Brasília, nunca esqueci. Algo dele levei comigo e incluí no romance Cidade livre.
João Almino é escritor e diplomata, membro da Academia Brasileira de Letras, autor de Entre facas, algodão, Homem de papel e outros 6 romances, escreve a série 18 cidades, sobre lugares onde viveu