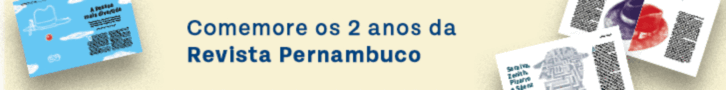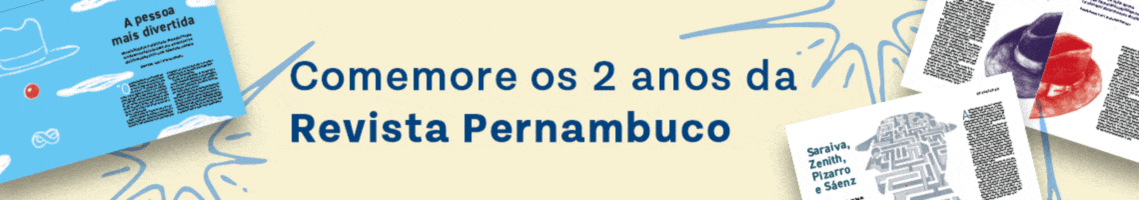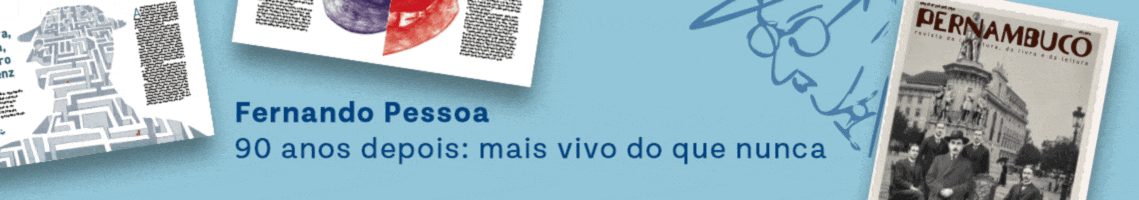Três contatos em 1992 expandiam nosso círculo, meu e da Bia, em São Francisco.
Liguei para Lawrence Ferlinghetti na City Lights, que conhecia de um simpático encontro no México. Fomos ao Enrico’s, perto da livraria, o que repetimos. Destaco as vezes com a presença de Allen Ginsberg. Quando este morreu, Lawrence passou-me por fax um poema (leitura da tradução e matéria que escrevi para a Folha, “O silêncio do Lobo”. (Clique aqui para acessar)
Tempos do fax. Num dos almoços em nossa casa, desceu uma pomba pela chaminé, o que o inspirou a escrever poema igualmente vindo por fax. E por fax me enviava os do Comandante Marcos, que lhe chegavam de Chiapas.
Poderia ele se interessar por antologia da poesia brasileira? Ao projeto, intitulado “Nada que o sol não explique”, verso de Leminski traduzido por “Nothing the sun cannot explain”, faltou, na sua visão, engajamento, sobretudo na defesa das florestas. Se publicasse, usaria verso distinto de Leminski: “Nenhuma chuva desbota esta flor” ou “No rain can fade this flower”.
Outro poeta entendeu a linguagem da geração marginal e posconcretista da antologia – ele, Michael Palmer, e sua mulher, a arquiteta Cathy Simon, nossos amigos até hoje. Em casa deles ou na nossa, à margem de café ou jantar, Michael e eu revíamos textos e comentávamos possíveis novos nomes. Através dele, contatei Robert Creeley, que deu a forma poética final a algumas traduções.
Lawrence e Michael, com poesias opostas, se consideravam independentes das correntes que lhe eram próximas: Lawrence dos beats, que publicou e promoveu, e Michael da poesia da linguagem.
O terceiro contato foi do professor Francisco Lopes, de Stanford. Ligou-me para dizer que Ideias para onde passar o fim do mundo estava no programa de seu curso e me convidar para uma palestra. Salto três anos como professor visitante em Berkeley para, voltando a Francisco Lopes, dizer de um tremendo choque. Contou-me ter sido autorizado a me consultar se poderia substitui-lo, pois morreria em seis meses. Em menos tempo, recebi de sua mulher livros de sua biblioteca e carta da vice-reitora (Provost), a futura Secretária de Estado Condolezza Rice, convidando-me para dar aulas.
Propus duas iniciativas: criação de uma cátedra de estudos brasileiros e de um programa de escritores brasileiros residentes, inaugurado por Rubem Fonseca, que falava com brilho para 40 alunos e se divertia ao fazê-los repetir palavrões em português.
Tempos de alta no multiculturalismo à americana. Quando um aluno com avó latina exigiu que a crítica Marjorie Perloff o isentasse de ler em inglês antigo, ela o substituiu por latim. Outra amiga recusou-se a preencher um formulário, já que, como brasileira, não se classificava nas categorias previstas. A universidade respondeu que, embora tivesse razão, poderia se autodefinir como hispânica. Pelo menos não a proibia de “mudar de etnia” por mais de duas vezes, como uma escola que me fez lembrar Érico Veríssimo definindo o filho como da raça “humana”.
Em Stanford fui apresentado a jovens que desenvolviam um catálogo de endereços na web. Algo experimental, por isso o link longuíssimo. Ao entrar, encontrávamos subdivisões – arte, negócios ou governo. Eles logo deixariam a universidade para fundar o motor de busca do Yahoo.
Mais tarde, Mike Zuckerberg comprou uma casa vizinha da que alugávamos, pondo na moda o bairro que – eu gostava de dizer para o horror de alguns – ficava entre Castro (gay) e Mission (latino), com suas características que, cada um à sua maneira, coloriam a cidade.
João Almino é escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, autor de Entre facas, algodão, Homem de papel e outros seis romances, escreve a série 18 cidades, sobre lugares onde viveu