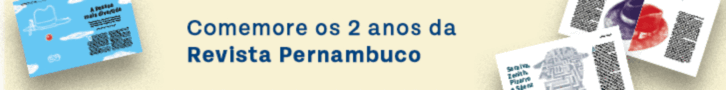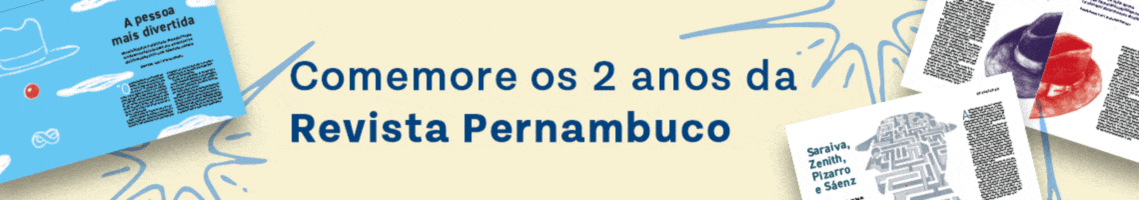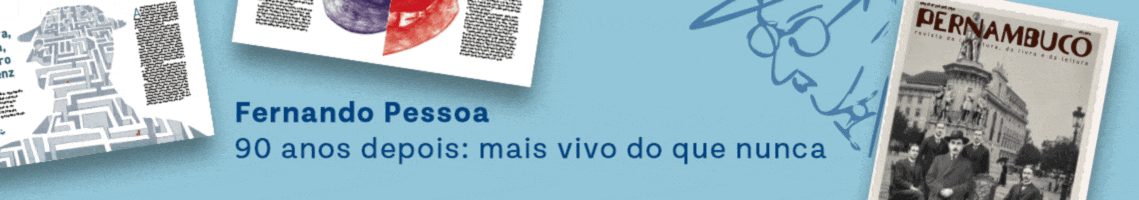Passada a fase heroica dos modernismos brasileiros dos anos de 1920 e 1930, iniciou-se na década de 1940 um balanço sobre aquelas proposições vanguardistas. Afinal, dentre tantas poéticas declinadas quais, de fato, tinham redimensionado as formas e as fabulações da literatura de língua portuguesa? Um dos primeiros a refletir sobre esses modernismos (particularmente, o da Semana de Arte Moderna de 1922) foi Mário de Andrade. Em sua palestra “O Movimento Modernista” (1942), ele defendeu que o legado de 1922 era a “fusão de três princípios fundamentais: o direito permanente à pesquisa estética; a atualização da inteligência artística brasileira; e a estabilização de uma consciência criadora nacional”. “Três princípios fundamentais”, frise-se, que, de certo modo, choviam no molhado, pois não eram novidades na paisagem artística brasileira. Pelo contrário. Eles sempre estiveram presentes nas melhores poéticas do século XIX.
Alheio aos “três princípios fundamentais”, João Cabral de Melo Neto escreveu, em 1952, quatro artigos no Diário Carioca, intitulados “A Geração de 45”. Nestes artigos, ele rebate as avaliações negativas que a crítica literária vinha fazendo aos poetas da sua geração. No caso, o de “(...) considerar sua contribuição como de importância limitada pelo fato de não se haver voltado violentamente contra a poesia que a precedeu, criando uma nova direção estética para a literatura brasileira”. Para o poeta pernambucano, era um equívoco dizer que um movimento literário só poderia ser definido como tal se ele colocasse “pelo avesso de tudo o que se estava fazendo ou pensando”. Um exemplo: os poetas que surgiram por volta de 1930. Ao invés de negarem as poéticas modernistas, esses escritores tiraram-lhes “(...) o máximo de partido possível das (suas) conquistas (...)”, sem precisarem abraçar o que “(...) naquela luta era episódico, truque, deformação exigida pela própria luta”. Desse modo, conclui Cabral, “não é difícil notar, por exemplo, menos preocupação formal nos poetas de 1930 do que nos de 1922. Para o poeta de 1930 já não havia a necessidade de criar novas formas para opor, no combate, às formas antigas que se queria desmoralizar, atitude que é evidente nos modernistas da primeira hora”. Assim, ao se deparar com “seis ou sete” poéticas consolidadas pelas gerações de 1920 e 1930, o poeta da Geração 45 buscou nelas “soluções” e “experiência técnica” que servissem para a construção da sua própria obra. Nessa busca, ele perseguiu antes uma “extensão de conquistas” das poéticas de Drummond, Bandeira, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Augusto Frederico Schmidt…, do que uma “invenção de caminhos”. Resultado: ao tempo em que dilatava as poéticas modernistas, ele, o poeta da Geração 45, ia, pouco a pouco, delineando a sua poética. O resultado dessa intertextualidade entre gerações, segundo Cabral, é que “não existe uma poesia, existem poesias. E o fato de um jovem poeta filiar-se a uma delas, na primeira fase de sua vida criadora, menos do que um ato de submissão de um poeta a outro poeta, é o ato de adesão de um poeta a um gênero de poesia, a uma poética, dentre todas a que ele pensou estar mais de acordo com a sua personalidade”.
Essas duas categorias cabralinas – “extensão de conquistas” e “invenção de caminhos” –, oferecem-nos uma chave para que possamos entender como a poesia de língua portuguesa foi, ao longo do século XX, construindo as suas tradições poéticas: ora promovendo uma ruptura de determinadas tradições literárias, ora perseguindo, por meio da reflexão crítica, a continuidade das poéticas consolidadas, como fizeram a Geração 45 e, em Pernambuco, a 65.
Pouca afeita às incensadas literaturas de invenção que lhe eram contemporâneas (Concretismo, Poesia Práxis, Poema Processo), a Geração 65 buscou intertextualizar as poéticas prosaicas ou discursivas que se consolidaram entre as décadas de 1920 e 1940, como as de Drummond, Bandeira, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Augusto Frederico Schmidt, Cecília Meireles, João Cabral, Joaquim Cardoso... Essa escolha levou um dos padrinhos dessa Geração, o poeta e crítico literário César Leal (o outro padrinho foi o historiador Tadeu Rocha), a afirmar que essa era “uma geração forte, ainda que extremamente conservadora”. Afirmativa que explicitava a crença teleológica de que toda geração literária ou artística só deixa as suas marcas em um dado sistema literário quando persegue uma “invenção de caminhos” no campo da forma. É a tese formalista de que a literatura se desenvolve (e, como tal, deve ser estudada) por meio de um processo evolutivo das formas. Dentro dessa abordagem formalista, podemos concordar com César Leal: a Geração 65 é tão “conservadora” quanto a de 45. Afinal, nenhum dos seus poetas perseguiu, como diria Cabral, “uma nova direção estética para a literatura brasileira”. No entanto, se a maioria dos poetas parte de “uma definição ou uma lição de poesia” para daí construir a sua poética, sem que isso signifique, necessariamente, submissão da sua dicção a uma outra dicção poética, a pecha de “conservadora” atribuída ao poeta da Geração 65 tem que ser reconsiderada. Vejamos.
Se um poeta recorre à determinada forma fixa (seja soneto, terza rima e balada, seja rondó, haicai e vilancete), isso não implica que a sua obra seja formalmente “conservadora”. “Conservadora”, aqui, na dupla acepção do sentido: (1°) as formas adotadas são, ao seu tempo, tidas, pelas vanguardas, como anacrônicas; (2°) essas formas anacrônicas limitariam o modo como o poeta poderia tensionar a linguagem e, por decorrência, inscrever em sua poesia o espírito da sua contemporaneidade.
A miopia dessa tese se mostra quando desconsidera que se cada período histórico encerra o espírito do seu tempo, um poeta ou uma geração literária quando retoma as formas fixas do passado não está avivando esse passado (ou crendo poder avivá-lo) no seu tempo presente (o que deixaria de ser uma postura conservadora para se tornar uma atitude reacionária) mas, sim, dando novos sentidos a essas formas fixas. Um exemplo, o Soneto. Filho dos séculos XII e XIII, essa forma encontrou na literatura neoclássica dos séculos XVI e XVII, comumente conhecida como barroco, os seus maiores cultores, a exemplo de Góngora, Quevedo ou Gregório de Matos. Estes não se valeram do soneto porque achavam que o seu século era o mesmo de Dante ou de Petrarca e, sim, porque viram nessa forma fixa um modo de plasmar, por meio de sua estrutura formal, a dualidade política e espiritual de um mundo pós-Concílio de Trento (1545-1563). Seus versos, divididos em dois quartetos e dois tercetos, encerravam formalmente uma simetria assimétrica. A forma, aqui, vinha, por meio de um procedimento retórico-poético, explicitar os valores teológicos-políticos do seu tempo. No caso, a crise de um cristianismo reformado. Dois séculos depois, é a vez de Charles Baudelaire, em As flores do mal, se valer da simetria assimétrica do soneto para explicitar as tensões de uma modernidade que buscava uniformizar os valores morais da sociedade, mas também encerrar o sentimento manifesto do eu lírico de se sentir exilado em um mundo que parecia não mais espelhar os seus desejos interiores.
Não há um modo ingênuo, acrítico, de se apropriar ou de intertextualizar determinado procedimento formal ou determinada forma fixa: nem em Góngora, nem em Baudelaire, muito menos nos poetas da Geração 65. A retomada das formas fixas ou das poéticas prosaicas ou discursivas por esses poetas pernambucanos ou pernambucanizados demonstra que não existe nem nunca existiu na literatura de língua portuguesa uma única tradição modernista (seja a da “extensão de conquistas”, seja a da “invenção de caminhos”), como parece crer uma parte significativa da nossa crítica literária. Crítica essa que defende (1°) que algumas das poéticas nascidas no modernismo de 22 seriam mais legítimas ou mais autênticas do que as demais poéticas que surgiram nos demais movimentos modernistas da década de 1920; (2°) que mesmo os movimentos modernistas que se destacaram em outros Estados da federação, a exemplo do movimento Regionalista de 1926, não foram, como defende Alfredo Bosi, “esteticamente autônomo(s) em relação às poéticas pregadas a partir da Semana”; (3°) que as formas evoluem e reaver, no campo da poética, determinadas formas fixas seria um anacronismo estético; (4°) que o verdadeiro espírito da Semana de 22 só estaria presente nos poetas que perseguiram ou perseguem uma “invenção de caminhos” em detrimento da “extensão de conquistas”; (5°) que se as Gerações de 45 e 65 privilegiam, no campo da forma poética, as “extensões de conquistas”, elas são um retrocesso dentro da moderna ruptura das invenções das formas; (6°) por fim, que as “invenções de caminhos” trilhadas pelo Concretismo, Poesia Práxis e Poema Processo mostram o quanto as Gerações de 45 e 65 são desvios na “linha evolutiva” da moderna literatura de língua portuguesa e, por sua vez, um anacronismo formal.
Ora, se João Cabral tomou, inicialmente, a obra de Drummond como “uma definição ou uma lição de poesia” e, a partir dela, construiu a sua própria poética, isso só foi possível por sua consciência crítica para com determinados procedimentos formais que constituíam a obra de Drummond. Logo, se não existe forma ingênua, nem o uso ingênuo de determinados procedimentos formais ou de determinadas formas fixas, as gerações literárias que buscaram antes a “extensão de conquistas” do que a “invenção de caminhos” também praticaram, com maior ou menor radicalidade, uma “revolta” contra as formas poéticas que eles tomaram como modelos. E é por ter essa consciência crítica de como se dava os procedimentos formais dessa ou daquela poética que o poeta da Geração 65, inscrevendo-se em uma tradição discursiva (logo, contrariando o que apregoava o “plano-piloto” da poesia concreta: de que estava “encerrado o ciclo histórico do verso”), pode construir a sua poética perseguindo temas diversos e, dentro das suas “extensões de conquistas”, verticalizando os procedimentos formais da poética que lhe serviu de “lição de poesia”.
E aqui entra uma questão não menos polêmica sobre essa Geração: eles constituem de fato uma geração literária? Afinal, se cada um dos poetas construiu a sua própria poética e trilhou um universo temático e simbólico muito próprio, o que define esses poetas como integrantes de uma geração? Delimitando o que entende por geração, César Leal retoma o que defendera o poeta espanhol Pedro Salinas e elenca os princípios que integram um dado escritor ou artista em determinado grupo geracional: (1°) ter nascido em um mesmo período que os demais membros da sua geração; (2°) ter o mesmo grau de instrução dos da sua geração; (3°) relacionar-se fraternalmente uns com os outros; (4°) ser partícipe de “um mesmo acontecimento histórico decisivo”; (5°) reconhecer a existência de um líder ou de um mentor ideológico entre os seus membros; (6°) perseguir uma “linguagem literária comum”; (7°) e, por fim, ocorrer um ancilosamento da geração precedente.
Dentro desse critério, a Geração 65 só atende os itens 1°, 2°, 3° e 4°, já que todos tinham o mesmo grau de instrução, relacionavam-se fraternalmente uns com os outros, foram partícipes de “um mesmo acontecimento histórico decisivo” (o Golpe civil-militar de 1964) e quase todos, como veremos, nasceram na década de 1940: Maria de Lourdes Horta (1940), Eloi Firmino de Melo (1940), Tarcísio Meira César (1941-1988), José Luiz de Almeida Melo (1941-2024), Ângelo Monteiro (1942), Alberto Cunha Melo (1942-2007), Marcus Accioly (1943-2017), Jose Carlos Targino (1943), Jaci Bezerra (1944-2020), Domingos Alexandre (1944), Lourdes Sarmento (1944), José Rodrigues de Paiva (1945), Almir Castro Barros (1945), Gladstone Vieira Belo (1946-2024), Sérgio Moacir de Albuquerque (1946-2008), José Mário Rodrigues (1947), Luiz Carlos Duarte (1947), Marco Polo (1948) e Tereza Tenório (1949-2020). Só uma pequena parte dos poetas dessa geração nasceu entre 1935 e 1939: Orley Mesquita (1935-2006), Esman Dias (1937-2015), Severino Filgueira (1937), Arnaldo Tobias (1939-2002), Eugênia Menezes (1939) e Janice Japiassu (1939-2019). As exceções são os que se agregaram à Geração nos Anos de 1970: Lucila Nogueira (1950-2016) e Paulo Gustavo (1957). Em resumo: no ano de 1965 a maioria dos poetas dessa Geração tinha entre 16 (Tereza Tenório) e 25 anos (Maria de Lourdes Horta) e os mais velhos entre 26 (Janice Japiassu) e 30 anos (Orley Mesquita). Lembrando que todos esses poetas e poetisas iniciaram as suas vidas literárias nos suplementos culturais dos jornais recifenses, e a grande maioria só publicou o seu primeiro livro na década de 1970.
Porém, a Geração 65 nunca teve um mentor ideológico, nem perseguiu uma “linguagem literária comum”, muito menos houve um ancilosamento dela com a geração precedente. Por que, então, chamá-la de Geração? Pelos mesmos motivos que Cabral chamava a Geração 45 de Geração: todos os seus integrantes se viam irmanados em um mesmo propósito: perseguir uma poética moderna que traduzisse, por meio de uma consciência de leitura, uma “extensão de conquistas”. E “extensão de conquistas”, neste caso, significa (1°) que esses poetas sabem que as poéticas dos anos 1920, 1930 e 1940 são filhas de um tempo e de um espaço históricos; e (2°) que toda poética transcende o seu tempo histórico quando se torna objeto de leitura da geração seguinte que, por meio de um processo intertextual, reoxigena seus procedimentos formais (imagens, ritmos, sintaxes e matérias fabulatórias) e, desse modo, pode criar novas poéticas. Ou seja, ao invés de pensar a poesia moderna como inscrita em uma tradição da ruptura das formas do passado, como fizeram as vanguardas, esses poetas preferiram se inscrever em uma outra tradição. No caso, uma tradição que não se firma negando o passado, mas, sim, renovando-o por meio da oxigenação das suas formas.
O resultado desse caminhar intertextual, é que quando olhamos em perspectiva histórica os frutos gerados nesses últimos 60 anos pela Geração 65, vemos que estamos diante de uma das poéticas mais potentes que a literatura de língua portuguesa produziu ao longo da segunda metade do século XX e início deste XXI. Seja porque o poeta da Geração 65 soube ler, por meio de uma consciência de leitura, aquela poética modernista ou moderna que melhor lhe provinha; seja porque ele soube colher os frutos dessa poética e fazer desses frutos a sua iguaria fina.