
Em 5 de outubro de 2019, Itamar Vieira Junior, Juliana Leite e Wilson Alves-Bezerra participaram da mesa Por que escrevo?, no Festival Mário de Andrade. Sentada na plateia à escuta, me chamou a atenção algo comum nas falas dos três: o deslocamento intelectual em relação aos seus familiares por serem os primeiros a terem feito um curso superior. Este dado extratextual já não faz desse trio uma exceção e não pode ser desprezado como mediador de leitura, de perspectiva de criação, além de ser recorrente em enredos e impactar o principal: o trabalho com a linguagem, que tem na formação dos escritores, associada à sua origem social, um elemento de composição artística a marcar a literatura brasileira contemporânea.
É evidente que um mapeamento do perfil de escritores ao longo de nossa historiografia literária vai revelar outros casos, mas não como o que podemos acompanhar nas últimas décadas. Ainda que a garantia de uma educação básica de qualidade (e sua continuidade) pareça longe de estar resolvida no Brasil mesmo em nosso século, o acesso à universidade pelas classes populares – fruto de um processo histórico e de lutas políticas sem precedentes – salta aos olhos e é incontornável quando olhamos para a sociedade de modo geral e, em particular, para os efeitos dessa conquista em nossas letras.
Lima Barreto, para citar um caso icônico, só pôde se familiarizar com o universo letrado graças à educação que recebeu por ter um padrinho da classe dirigente. E o que interessa aqui é, sobretudo, pensar como a conjugação entre sua origem e o trânsito por outros meios oferece uma visão de mundo mais aguda e alargada que pode ser verificada em seus escritos. Em Intelectuais à brasileira, o sociólogo Sergio Miceli (USP) destaca essa dupla experiência do escritor carioca, isto é, como o privilégio de ter tido uma formação diferenciada, tendo chegado a ingressar no curso de Engenharia, influenciou sua percepção de oportunidades de carreira, relações sociais e leituras, de um lado; por outro, isso ocorre sem que se perca o vínculo com o lugar social que costuma aparecer nas falas por meio da expressão “de onde venho”. “Essa dupla experiência permite-lhe apropriar-se das maneiras de pensar e sentir estranhas ao seu meio de origem e, ao mesmo tempo, permite-lhe assumir um ponto de vista objetivo acerca do mundo social a partir de sua primeira experiência desse mundo”, escreve Miceli.
No evento mencionado há pouco, Wilson Alves-Bezerra contou que seu pai costumava perguntar se, afinal, ele estava lendo ou estudando. Já a mãe de Itamar Vieira Junior era mais taxativa: “Você deveria estar estudando e não escrevendo”. Assim, o imperioso verbo “estudar”, na boca daqueles que tiveram esse direito negado, parecia equivaler a um passaporte para apresentar em fronteiras que eles próprios não puderam sequer almejar atravessar. Por isso, esses autores também costumam evocar essa origem iletrada ou pouco letrada como espaço de onde se sai por meio da educação, mas para a ele retornar – “há a importância da escrita para o lugar de onde venho. Sem isso não teria porque eu escrever”, assinalou Wilson. Os estudos são, assim, entendidos como etapa incontornável dessa travessia bastante marcada pela necessidade de garantir a sobrevivência em primeiro lugar: “Como eu venho de uma família muito simples, eu entendia a preocupação de minha mãe. O que ela queria dizer é que eu não teria um futuro escrevendo”, concluiu Itamar, que naquele momento tinha publicado recentemente Torto arado no Brasil, depois de vencer o Prêmio Leya em Portugal no ano anterior. Caracteriza-se a própria família como uma espécie de território do qual se parte: “Assim como meus colegas, eu venho de uma família que não tinha acesso a livro e que não eram pessoas que vinham de um letramento contínuo. […] Toda minha família é de trabalhadores manuais”, contou Juliana Leite, que completou: “Os pais tiveram a ousadia de imaginar que aquela educação que não tiveram poderia ser muito boa para seus filhos”.
Aquela foi também a primeira vez que ouvi Itamar Vieira Junior contar que Torto arado tinha sido escrito ao fim de seu doutorado em Estudos Étnicos e Africanos na Universidade Federal da Bahia. Entretanto, aquelas falas sobre esse lugar de exceção no interior da família não me deixavam esquecer que o pesquisador em questão era, ele próprio, um sujeito social novo a realizar aquela etnografia. Alguém que lida com a alteridade, porém reconhecendo sua irmanação com ela em algum ponto. Em outras palavras: por mais que o escritor baiano, nas muitas entrevistas que concedeu, ressalte (e com razão) não limitar sua literatura a aspectos de sua própria experiência e dados autobiográficos (essa é uma insistente pergunta, sobretudo quando entrevistadores estão diante de escritores afrodescendentes), ao sair de si também devolve um tanto das histórias não contadas que têm estreita relação com sua ancestralidade (se a tomarmos em um sentido expandido) e com as possibilidades de futuro para uma gente que não é um outro radical.
Embora, a certa altura de sua fala no festival, Itamar tenha afirmado que a atuação como geógrafo no Incra fez com ele saísse de um “lugar de conforto, de classe média” para encontrar histórias que ainda não foram contadas, é fato que esse lugar do qual se moveu foi alcançado pela educação a que teve acesso e lhe proporcionou passar em um concurso para atuar profissionalmente em órgão federal. No podcast Quarta capa, da editora Todavia, que foi ao ar em janeiro deste ano, é possível ouvir o escritor contar sobre seus ancestrais negros, portugueses brancos pobres e indígenas, entre eles um avô que, tal qual os personagens de Torto arado, trabalhava na terra alheia.
Não à toa, a centralidade do deslocamento proporcionado pela educação formal pode ser encontrado no próprio romance protagonizado pelas irmãs Bibiana e Belonísia, que só fui ler dias depois daquele evento e não podia passar por mim despercebido. Em Torto arado, a mãe das irmãs é alfabetizada e, por este motivo, convidada a ser professora na escola da fazenda onde viviam. Consciente de suas limitações, ela nega. “Reforçou em sua fala a expressão ‘tenho a letra, mas não tenho o número’, e que queria muito que seus filhos de sangue e de pegação tivessem estudo e pudessem ter uma vida melhor do que a que tinha.” Já o pai assinava documentos com as digitais. Uma das irmãs se tornará de fato professora a o cursar o Magistério enquanto a outra será uma crítica ferrenha do conteúdo ensinado na escola, apontando os equívocos da versão dos dominantes. Inácio, filho de uma delas, “se prepararia para os exames da universidade, queria ser professor”, completando - se contarmos com Donana, a avó das irmãs - o arco temporal de quatro gerações de descendentes de escravizados. Impressiona no trecho a seguir o peso que os estudos têm para o pai dessa família, Zeca Chapéu Grande, que não é alfabetizado e é um grande detentor de sabedoria popular e autoridade espiritual em seu meio: “De tudo que vi meu pai bem-querer na vida, talvez fosse a escrita e a leitura dos filhos o que prosseguiu com mais afinco. Quem acompanhasse sua vida de lida na terra ou a seriedade com que guardava as crenças do jarê, acharia que eram os bens maiores de sua existência. Mas pessoas como nós, quando viam o orgulho que sentia dos filhos aprendendo a ler e do valor que davam ao ensino, saberiam que esse era o bem que mais queria poder nos legar.”
Mestre e doutor em Educação pela USP, historiador e escritor de ficção, Allan da Rosa soma, em A unha encravada e o esmalte (junho, 2013) - conto publicado em Reza de mãe (Editora Nós, 2016) – a quantidade de passeatas necessárias para se pagar “três merréis” na catraca do ônibus, em uma prosa que sacode quem nela embarca em direção a mais uma manifestação. Aqui, o “de onde venho” é reforçado com elementos que caracterizam as condições em que se desloca e fala sobre o tipo de reivindicação e de construção de uma história que se deseja transmitir ao amanhã: “Nossos filhinhos inda vão ter escola boa, sem forca para nóis. Com cabelo branco, ainda vamo contar na janta pros neto quase tudo dessa noite histórica. Agora é aproveitar que meu gigante acordou! Uma unha, encravada, agoniza quando roça no bico da bota da firma. Que eu vim de avental cheio de graxa mesmo”. O foco próximo ao chão, atento ao léxico dos pés, intensifica as cores da cena evocada e a cor de quem se locomove.
Não posso deixar de registrar nesta reflexão e nos idos do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 que Da Rosa fez uma participação emblemática na mesa Faltas, fendas e forças da Semana de 22, no Theatro Municipal de São Paulo, ao lado do professor José Miguel Wisnik (USP). Na fala, a conjunção entre a experiência do homem negro da quebrada e o intelectual de formação se mostra como um manancial de abordagens sobre nosso passado. Ao final da conversa, a pedagoga Bel Santos Mayer comentou que estava presente na defesa da tese de Da Rosa, Águas de homens pretos: Imaginário, cisma e cotidiano ancestral em São Paulo, séculos 19 ao 21 (USP, 2021), e destacou a emoção de ver tantas pessoas da periferia ali presentes. Em seguida, perguntou sobre os muros do desconhecimento e da invisibilidade que Da Rosa revela em seu trabalho. “Cada passo é arrodiar um muro. Não sei se vocês tomaram um enquadro da polícia essa semana. Quem não tomou, tá atrasado. Semana passada meu filho fez quinze anos e no dia seguinte ele ganhou um presente da Polícia Militar de São Paulo”, começou assim sua resposta.
Pensar em Itamar Vieira Junior e em Allan da Rosa como intelectuais de origem popular, e pensar na dupla movimentação que essa posição oferece, me fez fazer uma revisão sobre o papel central do trabalho etnográfico para a escrita de outro marco histórico recente de nossas letras, Cidade de Deus, de Paulo Lins, publicado em 1997. O autor não apenas colaborou com o projeto Crime e criminalidade no Rio de Janeiro, da antropóloga Alba Zaluar, mas também era, ele próprio, o primeiro de sua família a cursar uma graduação; no caso, Letras na UFRJ. Contudo, é interessante notar hoje que o fato de o escritor carioca ser um morador da comunidade que dá título ao livro – detentor, portanto, de “um ponto de vista interno e diferente” – sempre suplantava esse dado curricular que lhe garantia ferramentas diversas para lidar com a formalização literária do testemunhal em uma espécie de intersecção até então inédita, uma vez que “os resultados de uma pesquisa ampla e muito relevante […] foram ficcionalizados do ponto de vista de quem era objeto do estudo, com a correspondente ativação de um ponto de vista de classe diferente”, nas palavras de Roberto Schwarz em ensaio sobre o romance do carioca, publicado no livro Sequências brasileiras (1999).
Nesse sentido, é preciso nuançar as aproximações com casos-acontecimentos como o de Carolina Maria de Jesus, com seu Quarto de despejo: Diário de uma favelada (1960), ou mesmo, ainda que guardadas as devidas diferenças, com os romances Capão pecado (2000), de Ferréz, e os mais recentes de Geovani Martins, O sol na cabeça (2018), e de José Falero, Os supridores (2020) - para citar casos que tiveram uma repercussão grande que destacava a visada interna e a proximidade máxima com a matéria que fabulam.
Na crônica De volta ao campus, reunida no livro Mas em que mundo tu vive? (Todavia, 2021), Falero narra o incômodo que lhe causava caminhar entre os universitários durante o período em que trabalhava na obra de um galpão na UFRGS como ajudante de pedreiro. “Creia-me, leitor: não existe ambiente mais hostil para um pé-rapado do que um ambiente acadêmico. É impossível ficar à vontade. Nada ao redor traz sensação de conforto, nada ao redor lembra minimamente as vielas e os barracos que estamos acostumados a ver à nossa volta, ninguém ao redor nos desperta a mínima sensação de identificação ou nos inspira empatia, […] é todo mundo tão diferente de nós, e em tantos sentidos!”
Apesar de todo o desconforto expresso, Falero chegou a prometer para si mesmo que só voltaria àquele lugar como estudante de Letras. Porém, ao participar como ouvinte de um curso sobre literatura “marginal-periférica” – definição que usa para classificar a si mesmo como escritor –, ele se dá conta de que tem propriedade para tratar daquele assunto e refaz a promessa: “Jurei que só voltaria ali na condição de palestrante!”
A ascensão educacional das camadas populares no Brasil – e, dentro delas, a especificidade do fator étnico-racial, por conta das mazelas entranhadas em séculos de escravidão e apagamento no país – amplia a visão na tarefa de restaurar o passado, além de gerar uma aproximação literária singular sobre certas matrizes iletradas e pouco letradas. Como se aquele ponto de partida (as próprias origens e realidade testemunhada) se convertesse também em ponto de chegada (uma irmanação expandida e coletiva). Uma espécie de chão de onde se arrancaram as raízes, mas para o qual se retorna munido de novos conhecimentos a revisitar a terra natal, tal como podemos vislumbrar no itinerário de Rísia, protagonista de As mulheres de Tijucopapo, de Marilene Felinto, lançado em 1982. Personagem que, tal sua criadora, cresce na capital pernambucana, cursa Letras em São Paulo, torna-se professora de inglês em seu espanto de “querer outra língua”, e se afasta de muitos dos valores de sua família para refundar uma outra, composta de mulheres guerreiras. “Tive de ir-me embora e cá estou, a não sei quantas milhas do caminho que me levará de volta a Tijucopapo.” Retorno a um local mítico, mas que “desemboca na rua onde vivi lá em Recife”, que traz à memória o choro quando o ônibus passa na Praia de Boa Viagem e que faz ela ter consciência de quem de fato é: “Sou uma mulher indo sozinha pela estrada”.
Essa restauração do que foi, de um passado, pela perspectiva dos vencidos tem o papel fundamental de mostrar que eles nem sempre perderam em cada uma de suas muitas lutas, ainda que isso ocorra sem a obrigação documental exigida pelo historiador. Grande destaque nesse sentido são os trabalhos de Ana Maria Gonçalves, com seu Um defeito de cor (2006), e de Eliana Alves Cruz, com Água de barrela (2016) e O crime do cais do Valongo (2018). Ambas são escritoras formadas na área da Comunicação e que têm uma produção literária marcada por grande pesquisa histórica aliada a um poder de imaginação que dá vida a subjetividades inauditas. São exemplos que estão distantes da re ferência autobiográfica mais direta; situam-se em um campo no qual está implicada uma irmanação ancestral ampliada, lançando outros referenciais de identificação para a população negra.
A saga da protagonista Kehinde/Luísa (a revolucionária Luíza Mahin) em Um defeito de cor, a abarcar a maior parte do século XIX e uma série de eventos decisivos de nossa história, também é toda marcada pelas possibilidades proporcionadas pelas letras e pelos números. Capturada ainda criança por traficantes de escravizados no que hoje é o Benin e embarcada para o Brasil em um navio negreiro, ela é vendida como escravizada de companhia da filha de um patriarca. Na fazenda em Itaparica onde passa a viver, aprende a ler com um africano islamizado, o Fatumbi. Com a morte do senhor e a mudança da família para Salvador, ela é alugada para uma família de ingleses e não só aprende a língua deles como adquire outros conhecimentos e contatos que vão garantir que, adiante, conquiste a própria liberdade, retorne ao continente africano e se torne uma empresária bem-sucedida com condições de enviar os filhos para estudar na França.
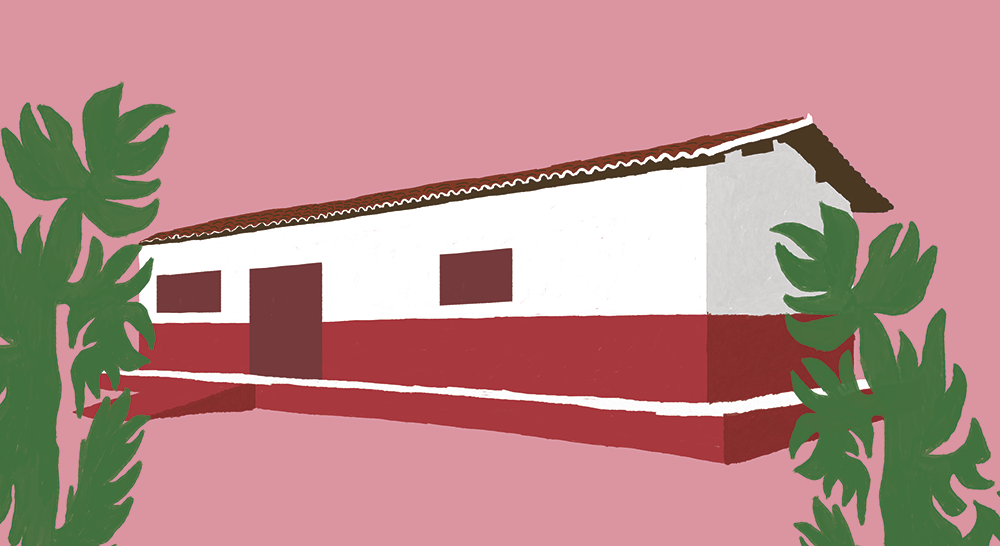
Já em Solitária, livro recém-lançado de Eliana Alves Cruz, a autora se volta para o presente tanto dos tra balhos domésticos, nunca dissociado de sua relação com o passado escravocrata, quanto dos sonhos dessas personagens em garantir uma saída desse lugar através das oportunidades dos filhos. “O que importava era que ela, depois de tanta luta, estava na faculdade de Medicina. Não seria por falta de livro que ela não ia terminar a universidade. Era muita aula, muito estudo… Ela se virava bem, mas se eu podia ajudar, ajudava. Veja lá se tinha algum cabimento tanta batalha se não fosse para ver Mabel num lugar muito melhor do que foi o da minha mãe e do que era o meu!”
O deslocamento que passa pela conquista do espaço universitário de modo desbravador por uma persona gem negra também inspirou Deborah Dornellas em seu Por cima do mar (2018), livro vencedor do Prêmio Casa de Las Américas. Embora a própria escritora não compar tilhe essa mesma origem social nem racial, não posso deixar de destacar o modo como conduz a trajetória de sua protagonista, vinda da periferia de Brasília e a primeira pessoa da família a entrar na universidade, porque diz muito da formalização desse fenômeno de nosso tempo. A personagem Lígia Vitalina emenda o mestrado, intitulado Manifestações culturais e de sociabilidade na diáspora africana em Minas Gerais, no doutorado e, em outubro de 2001, se torna doutora. Durante o almoço para “celebrar a preta doutora” e marcar a despedida de sua mudança para um outro lugar, sua mãe a olhava e balançava a cabeça. Neste ponto da narrativa é imensa a distância que ali se calcula entre dois mundos, ou planetas diferentes, o que se revela na escolha imagética feita pela narradora em primeira pessoa ao tratar da “saudade antecipada” materna, “como se eu fosse me mudar para Marte. Vou morar perto, mãe, bem ali no campus da UnB”.
O imperativo contido em “de onde venho” se desdobra nessas histórias de conquista na noção de “cheguei lá”, que Mário Medeiros, escritor, doutor em Sociologia e professor da Unicamp, tão bem destaca no conto Menino a caminho, que integra Gosto de amora (Malê, 2019): “Caminho pelo meu sonho de andar pela cidade, de travar um corpo a corpo com a vida e vencer e chegar lá e conquistar o que sei que pode ser meu, apesar de todos os contrários. Faço isso todos os dias, há anos, mui tos anos mesmo, e a minha pele se contorce com as navalhadas e chibatadas que recebo. Faço isso há anos e consegui. Cheguei lá. É o que digo duas vezes por mês com vasos de flores brancas, suas preferidas, depositado no túmulo de minha mãe. Cheguei lá, mãe. Valeu a pena? Seu menino, seu garoto, o Barbudinho, o Maluquinho, eu, estou aqui, o primeiro doutor, o nosso primeiro doutor negro, nosso primeiro sujeito importante que todos param para ouvir ao abrir a boca em público, ao lecionar na universidade, ao palestrar na televisão, ao escrever um livro e lançá-lo em noite de festa no Conjunto Nacional. Sou eu, mãe.”
Esse percurso de “estrela solitária” para se chegar ao “lugar onde estou, onde a senhora [mãe] tanto fez questão que eu chegasse”, no conto de Mário Medeiros, não figura como garantia de qualquer destino final idealizado. Penso no enredo de O avesso da pele (Companhia das Letras, 2020), de Jeferson Tenório, que, a propósito, concluiu recentemente seu doutorado na PUCRS sobre “a representação paterna nas literaturas contemporâneas luso-africanas”, conforme o subtítulo de sua tese. No livro, que venceu o Prêmio Jabuti na categoria Romance Literário, um professor de literatura negro, com vinte anos de magistério, é vítima da letalidade do racismo. Por outro lado, não se pode passar batido que uma das conquistas formais mais interessantes do livro seja justamente o uso da segunda pessoa, uma vez que a história de Henrique é narrada pelo filho Pedro, em que este dialoga em tom epistolar com o pai morto. Pedro converte-se em autor de sua própria genealogia como pessoa da segunda geração de sua família a ter acesso à universidade — mas desta vez a universidade pública, pelo sistema de cotas. O pai e a mãe se conheceram em uma faculdade particular bancada com muito esforço.
Paulo Scott, como o personagem-narrador de Jeferson Tenório, também é da segunda geração de homens negros de sua família a acessar a univer sidade. Seu pai foi o primeiro da família e, como Henrique, precisou pagar por isso. Cursou Direito na privada PUCRS, graduação e instituição nas quais Scott também se formou. Dedicado há muitos anos a estudos que relacionam Literatura e Direito, o escritor é mestre em Direito Público pela UFRGS e doutorando em Psicologia na UFF, com o projeto A ética da violência na literatura brasileira contemporânea. Publicado no Reino Unido com o título Phenotypes, na tradução de Daniel Hahn, seu livro Marrom e amarelo (Alfaguara, 2019) é semifinalista do International Booker Prize. O romance tem como protagonista Federico, um homem negro de pele clara que tem um irmão retinto, Lourenço, diferença que faz com que se viva uma série de situações em que se escancara a vilania do colorismo. Observação que não apenas é mote de uma investigação mais íntima de sua subjetivação, mas que é trazida pelo personagem, como um renomado cientista social, para o debate público – Federico é estudioso das questões ligadas à hierarquia dos tons de pele e é inconformado com as fraudes na identificação étnico-racial dos candidatos no vestibular para a universidade federal; trabalha em uma comissão do governo formada para promover mudanças na política de cotas.
Esse ir e vir, que tem a educação formal como um meio e que ganha corpo e corpus no vivido, é trabalhado com sutileza e em diversas direções por outra de nossas escritoras-doutoras: Conceição Evaristo. Entre os últimos parágrafos de Ponciá Vicêncio, romance lançado em 2003, destaca-se uma descoberta que não pode ser aqui acusada de spoiler porque é promessa e reflexão cara a tudo o que foi colocado até aqui, de modo que fecho com as palavras dela: “Descobria também que não bastava saber ler e assinar o nome. Da leitura era preciso tirar outra sabedoria. Era preciso autorizar o texto da própria vida, assim como era preciso ajudar a construir a história dos seus. E que era preciso continuar decifrando nos vestígios do tempo os sentidos de tudo que ficara para trás. E perceber que por baixo da assinatura do próprio punho, outras letras e marcas havia. A vida era um tempo misturado do antes-agora-depois-e-do-depois-ainda. A vida era a mistura de todos e de tudo. Dos que foram, dos que estavam sendo e dos que viriam a ser”.