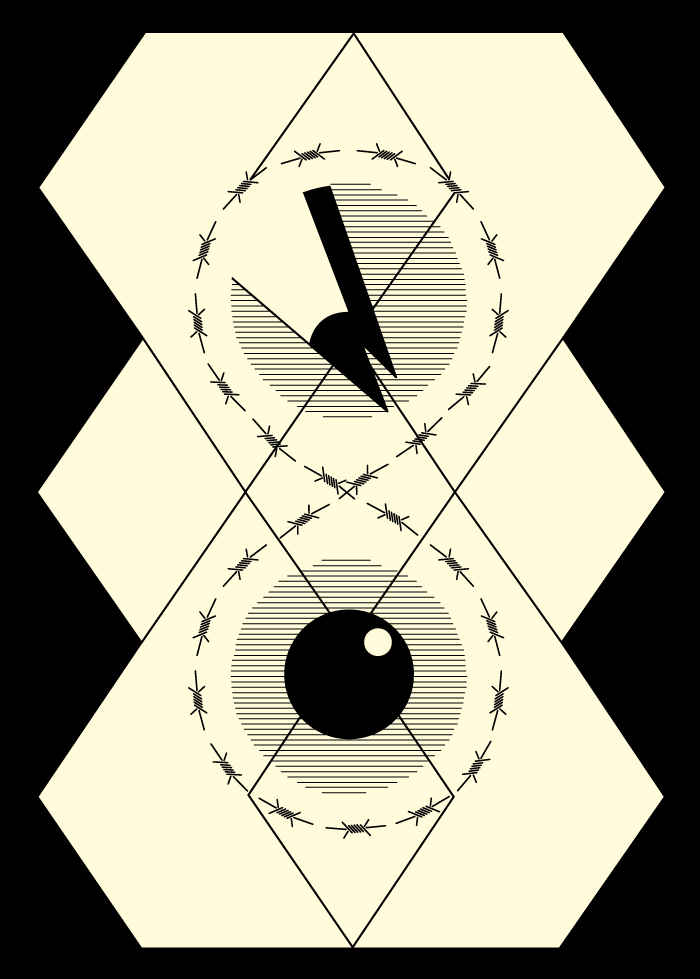
UMA NOVA ABORDAGEM
São recentes meus estudos a respeito da possível aproximação interdisciplinar entre Direito e Literatura. Foi em uma série de falas realizadas no primeiro semestre de 2017, ao lado do amigo escritor português João Tordo, em instituições acadêmicas norte-americanas, como Harvard e a Brown, que encontrei interlocutores que, informados da minha condição de ex-advogado e professor de Direito, me questionaram sobre a existência de diálogo entre Direito e Literatura no Brasil. Na época, depois de um período de oito anos em que me distanciei das atividades docentes — foram os anos em que morei no Rio de Janeiro e acabei me dedicando em tempo integral à escrita —, eu estava lecionando Direito Tributário e Direito Econômico em uma universidade privada no interior de Santa Catarina e tendo a oportunidade de constatar mais uma vez o quanto, na rotina acadêmica, alunos e professores dos cursos de Direito têm dificuldade enorme de se aperceber da importância das narrativas, da linguagem e da hermenêutica literárias para a linguagem, a hermenêutica e as funcionalidades do mundo jurídico. Foi, assim, ainda naquele primeiro semestre de 2017, retornado ao Brasil, que comecei a pesquisar textos que investigassem a relação entre o universo jurídico e o literário.
Não posso deixar de apontar, ainda justificando a minha escolha, a conjuntura de crise que, no Brasil, resultou do abalo às instituições democráticas a partir do golpe político (e seus desdobramentos) desferido em 2016 contra a presidência da República. Naquele trágico processo foram redescobertas, explicitaram-se de maneira incontornável, fragilidades constitucionais e fragilidades das instituições públicas de maneira a permitir um muito bem arquitetado assalto às intenções sociopolíticas de concretização do modelo de Estado Democrático de Direito em território nacional. Nesse sentido, houve um desvelamento bem menos acanhado das leituras críticas que já vinham apontando, há alguns anos, o fato de a noção de justiça, de realização dos ideais de justiça, ter se descolado da atuação de instituições como Judiciário, Ministério Público, órgãos de controle orçamentário, de proteção à cidadania e Legislativo para um lugar que já não era mais o da missão constitucional desses entes públicos — a isso se incorporam ruídos crescentes em relação à confiabilidade dessas instituições —, para um espaço diverso, o espaço da arte, o lugar em que a arte encamparia o olhar crítico-dialético de análise, de afirmação das análises, das disfuncionalidades socioeconômicas históricas, estruturais, da violência e, por contraste, também da justiça, das felicidades impedidas, esperanças e da democracia. Nesse espaço da arte, está a Literatura — e, na Literatura, está a possibilidade de apreensão de referenciais éticos, de éticas diversas, passíveis de aproveitamento na feitura de um debate público de sensibilização, denúncia e julgamento histórico, que revise os desencontros, as errâncias danosas, a pouca transparência, das práticas públicas, das políticas públicas, nesse Estado que teria surgido da refundação operada pelo pacto constitucional de 1988.
Iniciei pesquisas e leituras que me levaram a trabalhos de importantes autoras e autores brasileiros contemporâneos — como Adilson José Moreira, André Karam Trindade, Jaime Ginzburg, Judith Martins-Costa, Juliana Borges, Lenio Streck, Luciana Araújo Marques, Maria Helena Damasceno e Silva Megale, Márcio Seligmann-Silva, Maria Esther Maciel, Roberta Magalhães Gubert, Silvio Almeida, Sueli Carneiro, entre outros nomes — que se dedicam em graus diversos, a percepções éticas que, descobertas nas narrativas literárias, ou de face literária, possuem forte potencial para se afirmar, como já se evidenciou, a partir de um debate público ampliado, como parâmetros válidos de explicitação e questionamento das lógicas de percepção e aplicação da justiça nos espaços do Direito.
Dessas leituras, desse estudo, surgiu uma série de cursos ministrados ao longo de 2020, presencialmente e online, em espaços públicos, como a Biblioteca Mário de Andrade (SP) e a Biblioteca de São Paulo, e privados também. Para esses cursos, selecionei romances brasileiros contemporâneos que pudessem ser relidos a partir da intenção de melhor compreender o Direito brasileiro vigente — o Direito que estaria na Literatura —, uma vez que transfiguram, em narrativas ficcionais, verdades e éticas que não seriam assimiladas com a força e urgências devidas, exigidas pelos desastres de nosso tempo, fora da dimensão literária, sem a colaboração generosa da produção literária.
O DIREITO NA LITERATURA
São quatro as relações mais evidentes que se poderia apontar neste ensaio a respeito do coexistir, dos modos de articulação, entre o Direito e a Literatura. Entre as quatro, a que tem ocupado minhas pesquisas e reflexões nesses últimos três anos é a denominada Direito na Literatura. Sobre ela, eu pretendo estabelecer um plano de escrutínio que ainda na sua formulação é incipiente [nota 1] e que, no momento, é só uma linha de questionamento. Sobre a diferenciação entre elas, fundamental é o ensaio Direito e Literatura: Aproximações e perspectivas para se repensar o Direito, escrito pelos professores André Karam Trindade e Roberta Magalhães Gubert [nota 2].
Explicando o que seria Direito na Literatura, Trindade e Gubert afirmam se tratar de “corrente desenvolvida sobretudo na Europa e ligada ao conteúdo ético da narrativa, através da qual se examinam aspectos singulares da problemática e da experiência jurídica retratados pela literatura — como a justiça, a vingança, a ordem instituída etc.”, partindo da ideia de que “a virtualidade representada pela narrativa possibilite alcançar uma melhor compreensão do Direito e seus fenômenos — seus discursos, suas instituições, seus procedimentos etc. — colaborando, assim, com a formação da cultura e da comunidade jurídica” [nota 3].
As outras três relações seriam: Direito como Literatura; Direito da Literatura; e Direito à Literatura. O Direito como Literatura, dominante nos Estados Unidos, em franca expansão a partir da década de 1980, relaciona a possibilidade de encarar decisões jurisdicionais como se fossem semelhantes a narrativas literárias, admitindo a possibilidade de analisá-las com ajuda de instrumentos de interpretação próprios da teoria literária. Um de seus principais pensadores foi o jurista Ronald Dworkin (1931-2013), para quem seria bom se “juristas estudassem a interpretação literária e outras formas de interpretação artística”, asseverando, de maneira provocativa, que no campo literário teriam sido “defendidas muito mais teorias da interpretação que no Direito, inclusive teorias que contestam a distinção categórica entre descrição e valoração que debilitou a teoria jurídica” [nota 4]. Para Trindade e Gubert, o Direito como Literatura possibilitaria a observação da “qualidade literária do direito” [nota 5].
Direito da Literatura, por sua vez, teria relação com a regulação jurídica sobre a produção literária, as “disciplinas de direito privado no que diz respeito à propriedade intelectual, aos direitos autorais, copyrights etc.” [nota 6]. Já o Direito à Literatura seria desdobramento da perspectiva trabalhada pelo professor Antonio Candido (1918–2017) quando alertou para a necessidade de viabilizar o acesso de cidadãs e cidadãos à Literatura, às complexidades da Literatura, como forma de emancipação e afirmação da dignidade humana, salientando que a Literatura é “manifestação universal de todos os homens em todos os tempos” e que não existe povo e não existe homem “que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação” [nota 7].
FICÇÃO BRASILEIRA E INTERPRETAÇÃO DO DIREITO
Nos cursos — na verdade, diálogos de grande intensidade, graças à adesão de leitoras e leitores qualificados, engajados no debate e na reflexão, estudantes, professores, psicanalistas, advogados, membros do Judiciário e do Ministério Público, mediadores de leitura, pesquisadores relacionados ao estudo crítico do sistema carcerário, roteiristas, filósofos, historiadores, jornalistas, atores, artistas plásticos, ativistas de diversos setores — foram muitas as obras analisadas, foram muitas as interpretações, as correlações expressadas. Importante registrar que, sob certo ângulo, o da premência de um debate público que parece nunca acontecer, as mais impactantes foram as narrativas que assumem, na composição dos seus cenários e tramas, a temática da violência, as que expõem a ética da violência e, portanto, a da não violência [nota 8], comprovando, como destacam Trindade e Gubert, “a premissa de que certos temas jurídicos” — e de certas questões naturalizadas pelo meio social que escapam da sensibilidade predominante nas esferas jurídicas também, eu acrescentaria — “encontram-se melhor formulados e elucidados em grandes obras literárias do que em tratados, manuais e compêndios especializados” [nota 9].
Minha intenção foi relacionar o conjunto de trabalhos acadêmicos em torno da proposta Direito e Literatura com a releitura de obras literárias que considero fundamentais, não apenas sob a perspectiva imediata da violência, mas da inobservância dos valores democráticos, insisto, reafirmados pela ordem jurídica vigente, que se propõe à concretização de um Estado Democrático de Direito — goste-se ou não da constituição federal em vigor, ela é o que melhor a sociedade brasileira conseguir produzir na sua história —, ao respeito às liberdades, às garantias, à dignidade humana. Obras como Cidade de Deus, do Paulo Lins — romance definitivo, que, pode-se dizer, mesmo tendo sido lançado em 1997, inaugura a literatura brasileira do século XXI —; Capão pecado (2000), do Ferréz; Dois irmãos (2000), do Milton Hatoum; Eles eram muitos cavalos (2001), do Luiz Ruffato; Ponciá Vicêncio (2003), da Conceição Evaristo; O voo da guará vermelha (2005), da Maria Valéria Rezende; Um defeito de cor (2006) — possivelmente o romance mais importante produzido por autora ou autor brasileiro neste século —, da Ana Maria Gonçalves; Água de barrela (2016), da Eliana Alves Cruz; Nossos ossos (2013), do Marcelino Freire; e outras, consideradas clássicos, são criações ficcionais que expõem as complexidades nacionais, as nossas tragédias, invisibilizadas ou não, sobretudo a partir da empatia que despertam, como poucos trabalhos acadêmicos — de ordem jurídica, econômica, estatística, sociológica, filosófica — e de caráter jornalístico conseguem expor.
Como bem anota, e esclarece, o professor Jaime Ginzburg, a “leitura de textos literários, sabemos há muito, é capaz de romper com percepções automatizadas da realidade”, frisando que “se estamos habituados a ver as coisas de modo pautado por parâmetros opressores, em razão de circunstâncias hostis, a leitura pode deslocar os modos de percepção” [nota 10]. Nesse passo, não só a leitura e a releitura como a oportunidade do debate entre pessoas do meio jurídico e fora dele proporcionaria um melhor acolhimento dessa interdisciplinaridade proposta. Para os operadores do Direito, para os estudantes de Direito também, ainda no espectro do exercício da cidadania, o ganho é ainda maior, pois o debate e as sequentes reflexões rompem com o olhar reificante que costuma contaminar a rotina técnica de juízes, promotores, delegados de polícia, defensores públicos, advogados — pessoas que sem uma chance de reflexão se submetem e submetem sua subjetividade a ondas de intolerância, de conservadorismo retrógrado, de assunção de discursos de ódio e protofascistas, aderindo a um modo de ver a solução civilizatória como não necessariamente democrática, pouco humana, pouco humanitária. Nesse sentido, evidenciando essa subjetividade, é o destaque da professora Maria Helena Damasceno e Silva Megale: “não é raro juízes declararem que costumam visitar o ordenamento jurídico [disposição hierárquica das regras e princípios jurídicos] só depois de haverem prelineado a solução para o caso em análise” [nota 11].
Outra importante colaboração está em dissertação intitulada Arte e Direito: O lugar da literatura na formação do jurista crítico-sensível, defendida em 2013 por José Alexandre Ricciardi Sbizera, no Programa de Pós-graduação em Direito da UFSC [nota 12], quando resgata: “[...] a Literatura faz o leitor que a lê com toda a liberdade e sentimento deixar de ser mero leitor para se tornar, pelo uso da imaginação que provoca também o levante do corpo, o leitor que forma o jurista crítico-sensível. Ninguém lê eternamente. Em determinado momento, o leitor deverá levantar-se. Nesse levante, é melhor que aja para a transformação. Esta transformação de si mesmo se dará na medida em que leia o que tem em mãos utilizando não apenas seu pensamento simbólico, mas também seu pensamento sensível”.
Nesse quadro, nas proposições que dele se pode inferir, está o entendimento de que a leitura, por exemplo, de romances viscerais como Pssica (2015), de Edyr Augusto, e Mulheres empilhadas (2019), de Patrícia Melo — ambas narrativas que se passam no Norte do país — dissolveria a inclinação, e a sua inércia, à postura de negligência da tragédia brasileira — tragédia diante da qual praticamos o acomodamento de nossa cegueira social e política, tragédia para a qual destinamos o que de mais agudo há em nosso cinismo e em nossa omissão. Nas entrelinhas desses romances e de outros lançados nos últimos anos, a incapacidade de o Estado brasileiro (e das elites que o gerenciam) assegurar a dignidade humana de suas cidadãs e cidadãos.

LITERATURA VERSUS CEGUEIRA E ESQUECIMENTO
Literatura é linguagem e o Direito também é linguagem; Literatura e Direito são dimensões culturais que se comunicam. Há um panorama que contemple essas duas dimensões, e esse panorama precisa ser provocado. A verdade que se estabelece nas narrativas ficcionais afirma um tipo de leitura que pode confrontar as conveniências de uma elite, a elite econômica brasileira, que conta não apenas com a adesão de certos setores para a manutenção da hierarquia que lhe convém, das desigualdades estabelecidas, mas também com a invisibilidade das questões estruturais mais graves que decorre de uma elaborada tradição de esquecimento. Veja-se, a propósito, o quase tabu que permanece em torno da prática da tortura e tratamento degradante de seres humanos em nosso país, uma tradição jamais interrompida.
Pode-se dizer que a Literatura tem uma linguagem mais dinâmica e incerta, mais eficiente e provocadora, pois nela não vingam os laços e as censuras típicas de outras dimensões, como, já se destacou anteriormente, a acadêmica ou a jornalística. Por esses atributos, a leitura — e a empatia que nela se soluciona — de uma obra contundente afeta discursos cuja finalidade é a dissuasão da crítica. Pode-se dizer que a conveniência do fazer não enxergar (e, portanto, do não enxergar) é a conveniência do esquecer, do fazer esquecer.
Parte do modo de funcionamento do Direito brasileiro está atrelado a certos esquecimentos — esquecemos recorrentemente dos valores fundantes de nossa Constituição, de nosso Estado Democrático de Direito. A Literatura — percebida como expressão cultural e centro possível de narrativas participantes da narrativa geral, que é, antes de tudo, política — é presença que impede o sucesso, o terrível sucesso, dessa inércia do não lembrar que afeta nossas pretensões emancipatórias.
Sobre Literatura, face literária, e memória são as reflexões de algum tempo do professor Márcio Seligmann-Silva: “O genocida sempre visa à total eliminação do grupo inimigo para impedir as narrativas do terror e qualquer possibilidade de vingança. Os algozes sempre procuram também apagar as marcas do seu crime” [nota 13]. Para o autor, pode-se constatar, em relação às catástrofes sociais, humanas, a presença de uma postura negacionista por parte dos opressores, um negacionismo perverso que toca no sentimento de irrealidade da situação vivida pelas vítimas, forçando o argumento do isso não ocorreu, a versão do “isso não é verdade” [nota 14], em direção ao senso comum.
A explicitação da violência física, psicológica ou financeira como estratégia de realização, de escrita, das narrativas ficcionais brasileiras contemporâneas pode ser tomada como reveladora de parâmetros comportamentais, não meramente alegóricos, espelhos de uma realidade trágica sujeita a análises e interpretações diversas, possibilitando, em perspectiva dialética, a identificação de um engajamento ético indesejado — e, nesse sentido, de uma submissão também — que naturaliza (alguns diriam que normaliza) ocorrências de extrema violência de modo a se tomar tais narrativas como referências de enfrentamento, de questionamento, a respeito da ausência — ou da sustentação precária — de uma ética da não violência[nota 15] que, para ocorrer, demandaria série de debates, transparência, não esquecimento.
ABORDAGENS E PROPOSIÇÕES
Há muito a ser feito sobre essa aproximação entre Direito e Literatura. No campo do Direito são inúmeros os esforços recentes. Penso que um debate ampliado que começasse listando obras literárias brasileiras consideradas clássicas e que contivessem narrativas que expusessem a aplicabilidade do Direito, o papel do Estado, as lógicas da opressão, as necropolíticas seria extremamente importante, bem como uma segunda lista que contemple obras mais recentes que fornecessem espelhos, lentes, para a melhor compreensão do Brasil de hoje, do Brasil de agora. Tudo isso pode soar ambicioso demais, descabido, mas garanto que não é. As turmas para as quais lecionei, com as quais dialoguei e debati, provaram isso — a Literatura e, sobretudo, as leituras não deixam de surpreender, mas para esse tanto é preciso interesse, vontade de agir, de buscar, é preciso avançar e querer enxergar.
NOTAS
[nota 1] Tenho refletido sobre a possibilidade de uma abordagem que seria um desdobramento imediato do Direito na Literatura. Estou chamando-a, provisoriamente, de “Direito pela Literatura”. Correndo os riscos que podem resultar da exposição de seus ainda precários fundamentos e propósitos, eu diria que se estabeleceria a partir da leitura — com o auxílio de narrativas ficcionais contemporâneas relacionadas à violência — do Direito pressuposto como referencial de enfrentamento das fragilidades da dimensão ideal própria do Direito posto, sobretudo do Direito Constitucional posto. Valer-se da Literatura para projetar uma lente sobre a ética da violência, ou das violências, que prevalece na lógica civilizatória do país como forma de reformular, revigorar, o debate público acerca dos Direitos Humanos.
[nota 2] Ver o texto de André Karam Tindade e Roberta Magalhães Gubert, Direito e Literatura: Aproximações e perspectivas para repensar o Direito. Em: A. K. Trindade, R. M. Gubert e A. Copetti (orgs), Direito & Literatura: Reflexões teóricas. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, pp. 11–65. Este ensaio é, possivelmente, a análise mais bem realizada e profunda produzida no Brasil sobre os estudos no Ocidente a respeito da relação interdisciplinar entre Direito e Literatura.
[nota 3] Cf. Trindade e Gubert, op. cit., p. 48.
[nota 4] Ronald Dworkin, De que maneira o Direito se assemelha à Literatura?, do livro Uma questão de princípio (São Paulo: Martins Fontes, 2019, tradução de Luís Carlos Borges), página 225. Este ensaio, publicado originalmente em 1982, é peça determinante no processo de expansão do que os norte-americanos referem como law as literature.
[nota 5] Trindade e Gubert, op. cit., p. 48.
[nota 6] Trindade e Gubert, op. cit., p. 49.
[nota 7] Cf Antonio Candido no ensaio O Direito à Literatura (no livro Vários escritos, São Paulo: Duas Cidades/ Ouro Sobre Azul, 2004), páginas 174–175: “A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas”.
[nota 8] Nesse sentido, relevantes são os trabalhos dos professores Márcio Seligmann-Silva (Unicamp) e Jaime Ginzburg (USP) desenvolvidos ao longo deste século.
[nota 9] Trindade e Gubert, op. cit., p. 49.
[nota 10] Jaime Ginzburg, Literatura, violência e melancolia. Campinas: Autores Associados, 2012, p. 24.
[nota 11] Maria Helena Damasceno e Silva Megale, Direito, hermenêutica e literatura. (Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2019), página 33: “É nesse sentido que Heidegger trata do entendimento prévio”.
[nota 12] A dissertação pode ser consultada no endereço: repositorio.ufsc.br/handle/123456789/106959
[nota 13] Márcio Seligmann-Silva, O local do testemunho. Em: Tempo e Argumento (Revista do Programa de Pós-graduação em História da UDESC), v. 2. n. 1. Florianópolis: UDESC, 2010, p. 10.
[nota 14] Seligmann-Silva em O local do testemunho, página 10 (ver nota anterior): “O apagamento dos locais e das marcas das atrocidades corresponde àquilo que no imaginário posterior também tende a se afirmar: não foi verdade. A resistência, quando se trata de enfrentar o real, parece estar do lado do negacionismo”.
[nota 15] Wilberth Salgueiro. Prefácio. Em J. Ginzburg. Literatura, violência e melancolia (ver nota 10).
[disposição hierárquica das regras e princípios jurídicos]