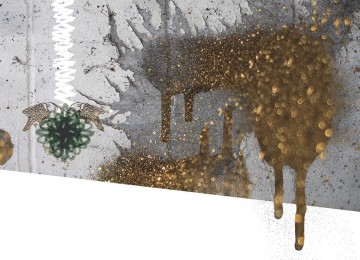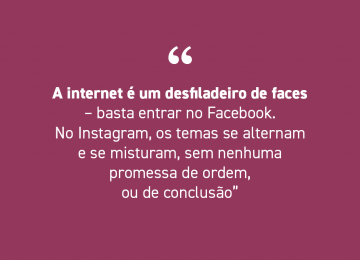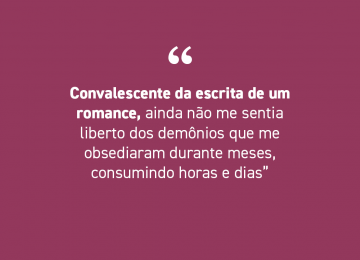“Linhagem é linguagem”, nos diz a artista Aline Motta nessa conversa. Lembro imediatamente de Toni Morrison em seu discurso de agradecimento pelo Nobel de Literatura: “Nós morremos. Esse pode ser o significado da vida. Mas nós fazemos linguagem. Essa pode ser a medida de nossas vidas”, dizia Morrison. Aline Motta faz eco às palavras da escritora estadunidense e produz uma linguagem que nasce e se molda formalmente na medida de suas (e de outras) linhagens, entrelaçando histórias e Histórias no mesmo plano. A água é uma máquina do tempo, publicado pelo selo Círculo de Poemas, é mais um testemunho disso. Trata-se de um livro que nos desafia a processar a linguagem de dentro do mar, ou melhor, da Kalunga, espaço “entre”, espaço de mediação, mas também de profunda meditação, e que compõe um conjunto maior de obras visuais e audiovisuais criadas por ela para contar “histórias submersas”.
Seu livro é resultado de um trabalho mais extenso que envolve obras visuais e audiovisuais que tecem intrincadas costuras entre a História de violência colonial no Brasil e a história pessoal da tua família. Cada obra sua abre novas teias de relacionamento entre o público e o pessoal. Queria que você falasse o que lhe levou a começar esse trabalho de ir atrás de desapagar apagamentos.
Acho que teve um momento em que eu não podia mais conter só para mim toda essa pesquisa. Esse continente de lágrimas, a matéria essencial deste livro, tinha que sair de algum modo. Nesse caso, foi uma publicação, mas esta mesma busca já assumiu outras formas em que trago à tona estas histórias submersas. Então, finalmente quando eu reuni uma série de circunstâncias, financeiras e emocionais, para dar conta desses entrelaçamentos, veio como uma grande onda que gerou uma quantidade considerável de trabalhos num espaço de tempo relativamente curto, e causou certo impacto pela intensidade das proposições e a densidade da pesquisa.
Quando você me mostrou a rede de relações que desenhou e que monta o cadenciamento de A água é uma máquina do tempo, pensei em como o formato livro lança desafios próprios que, muitas vezes, não se encaixam em categorias literárias preestabelecidas. O livro não é exatamente poesia, mas às vezes é, não é exatamente ensaio, mas às vezes é, não é exatamente crônica, mas às vezes é. De que maneira pensar na rede de relações lhe ajudou a fugir dessas classificações únicas?
Eu comecei a escrevê-lo em 2018, durante o Clipe, que é um curso de preparação de escritores criado pela Casa das Rosas (SP). Ele recebeu um financiamento da Bolsa de Fotografia ZUM/IMS em 2018 e depois da Fundação Pro Helvetia em 2020. Então, foi um longo processo até ele ser publicado pela Fósforo e pela Luna Parque [editoras responsáveis pelo selo Círculo de Poemas] em 2022. Durante este tempo eu criei várias versões e formatos, fiz incontáveis revisões no texto, cortando e cortando, até que ele chegasse na forma bem concisa que tem hoje. Desde o início, meu desejo era de que o livro pudesse chegar no maior número de pessoas possível, e não entrasse para um nicho das artes visuais, que é o chamado “livro de artista”, com uma tiragem pequena e frequentemente objeto de interesse de poucos colecionadores. Para isso, eu contei com o apoio inestimável dos meus editores, Marília Garcia e Leonardo Gandolfi, que eu já admirava muito como escritores. Além de comentários pontuais, mas indispensáveis, o mais importante para mim foi o constante encorajamento acerca das qualidades do livro e a confiança de que ele estava mesmo terminado. Se dependesse de mim, eu ainda o estaria escrevendo, como de fato ainda estou, só que agora fotografando e filmando o que não entrou no livro como palavra. Eu achei interessante o livro sair dentro do Círculo de Poemas, mesmo abarcando vários gêneros literários diferentes numa mesma publicação, como você diz. Se a poesia ainda consegue ser um campo de experimentação e de manobras arriscadas, é sinal de que ela continua fazendo o seu trabalho de dissidente político no mercado editorial.
A estrutura formal do livro carrega o ir e vir das ondas do mar: há sensações que surgem em uma página, desaparecem pelas páginas seguintes e em algum momento adiante, retornam. O quão importante é a figuração do mar, e da água de uma maneira geral, pra você mover o seu trabalho?
A água é um elemento muito presente em todo o meu trabalho. Como eu já disse num ensaio que escrevi, e que tem o mesmo título do livro, eu falo sobre a Kalunga, que numa visão Congo-Angola é uma linha fina de água que separaria as dimensões dos vivos e dos mortos. Portanto, nessa forma de ver o mundo, a água guarda memória, é vista como um veículo, a água é uma máquina do tempo. É uma iniciação. No caso do livro, procurei fazer com que essas sensações de ir e vir estivessem na própria passagem das páginas, com vários espaços em branco e textos esparsos, inclusive com a possibilidade de uma leitura não linear. O dispositivo de mediação entre esses mundos passa a ser o próprio livro que opera como um transporte no espaço-tempo também na experiência da leitura.
Sobre esse ir e vir, na página 49 você escreve: “discutir racismo na minha família era como entrar naquela parte do mar em que não dá mais pé”. E adiante, na página 89, vem a pergunta: “estávamos nadando ou sendo arrastados pela onda?”. Não sei se eu já estava condicionada, por ter visto outros trabalhos seus, a ler as coisas em dípticos ou trípticos, mas imagino que essa estrutura seja algo que te interessa.
Sim, acho que, às vezes, algumas páginas formam dípticos e polípticos se aproveitando do próprio formato livro e, por vezes, ele também se contrai e vários movimentos se condensam em uma única frase. Quis imprimir um ritmo que se parecesse com a própria respiração quando estamos no calor dos acontecimentos.
Voltando à Kalunga, acho que vale comentar que eu abri uma exposição no átrio do Sesc Belenzinho (SP) recentemente que se chama Máquina Kalunga, que conjuga algumas destas ideias só que materializadas a partir de um diálogo com a própria arquitetura do espaço com suas transparências, superfícies espelhadas e rebatimentos. Os reflexos se transformam em possíveis manifestações físicas do mundo espiritual, que é uma ideia também presente no livro. No caso desta instalação, a Máquina Kalunga é uma máquina de ver o invisível com seus olhos d’água.
Para mim, este trânsito entre os diversos meios de expressão e práticas artísticas estão muito integrados, por isso essa sensação de que um trabalho contém todos os trabalhos, os que já fiz e os que ainda vou fazer. Ou de que o conjunto deles é uma peça única que vai mostrando suas diferentes nuances ao longo da minha trajetória.
No começo do livro, você resgata, de forma muito inventiva e graficamente nova, um dos contos de Machado de Assis, Pai contra mãe, em que ele se endereça frontalmente às perversidades do Brasil Colonial. Além de ter relação com as histórias que você conta, trazer esse texto à tona me parece uma forma de também produzir um outro tipo de desapagamento, que é o de situar a obra machadiana nesse debate – já que uma parte da crítica literária branca o exclui dessa conversa, num exercício retórico de embranquecimento dele. Era também essa sua intenção?
Quando encontrei a documentação de que minha tataravó Ambrosina havia falecido na Rua Evaristo da Veiga [no Centro da capital fluminense], a antiga Rua dos Barbonos, foi impossível não conectar com o conto Pai contra mãe. Agora já existem diversos estudos que evidenciam que ele discutiu e muito aspectos da escravidão na sua obra, mas, como você disse, durante muito tempo seu projeto literário não era encarado como deliberadamente crítico e deu margens a interpretações equivocadas quanto ao seu posicionamento, um tanto ambíguo e dissimulado para uma leitura que se encaixasse facilmente como um libelo antiescravista.
O poeta Ricardo Aleixo escreve algo muito bonito na orelha do livro, falando que você se torna “cavalo de sabe-se lá quantas vozes”. Você se sente de alguma forma cavalo dessas que foram e talvez das que ainda estão por vir?
Acho que é igualmente interessante, como o uso que se dá na umbanda para o termo cavalo como sinônimo da incorporação dos guias, o significado original de kavalu no Kimbundu. Pelo Dicionário Kimbundu-Português de Assis Jr., assim também como já atestou Nei Lopes, kavalu quer dizer tanto “pessoa com que se tem relações de amizade”, quanto “se diz da mulher que vive maritalmente com um homem”, ou seja, “esposa”. Estabelecer os elos e dar forma a esta complexa teia de relações de proximidade e parentesco parece se assemelhar com a operação que fiz ao ficcionalizar o vivido, junto com os relatos orais e com a documentação encontrada sobre a minha família. No meu caso, de fato, linhagem é linguagem.
“Inverter a lógica dos embriões” é também inverter a lógica do tempo. O título do seu livro carrega a ideia nadar pra frente e pra trás no tempo, simultaneamente. Sua relação circular com a percepção de tempo é algo que precede suas obras ou vai se transformando com elas?
Acho que esta inversão faz parte do mecanismo desta máquina do tempo que faz com que o coro de vozes de mulheres do livro tome a frente e embaralhe a percepção cronológica dos acontecimentos a cada fragmento que se apresenta.
Sei que o projeto do filme que se desdobra desse livro já está em curso. O que você já pode falar sobre o filme?
Como em outros projetos que já realizei, este livro se reconfigura em outras expressões artísticas. Ele é transportado, ou melhor, teletransportado na forma de uma leitura performática que tenho feito ao vivo com videomapping, adaptando as imagens à arquitetura de diversos espaços. Também estou criando uma videoinstalação e um filme que farão parte da Bienal de Sharjah [nos Emirados Árabes] em 2023.
A figura mais central do livro é a sua mãe, ou melhor, as memórias que você tem dela. Lidando com toda a complexidade que é essa memória, houve alguma coisa que você descobriu dessa relação entre você e sua mãe depois do livro pronto?
Acho que foi a liberdade de criar um mundo paralelo onde não exatamente eu e não exatamente ela podemos existir. A criação literária permite inventar um mundo, onde uma versão de nós mesmas convive e reage ao vivido, com uma certa distância do tempo passado, mas também com a visceralidade das emoções que esta intensa relação de mãe e filha suscita. Portanto, seria impreciso chamar este livro de “autobiográfico”. No entanto, refletir, enfatizar, traduzir, enfeitiçar fazem parte do jogo literário que transpõe uma certa percepção do real para o papel. Neste deslocamento, cria-se todo um cenário ficcional, onde somos nós mesmas, autoras e personagens de uma narrativa. Escrever esse livro fez que eu me sentisse mais livre da rigidez de condicionamentos e das respostas traumáticas que certos acontecimentos me causaram, e talvez esta seja a mágica, a força da imaginação da qual Dona Ivone Lara falava. Eu sinto um desprendimento e uma liberação, que reverbera em cada exemplar publicado e que segue abismado do seu destino até chegar ao leitor.