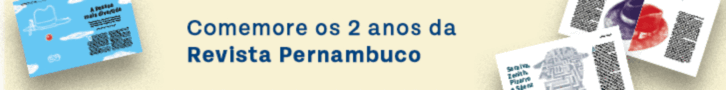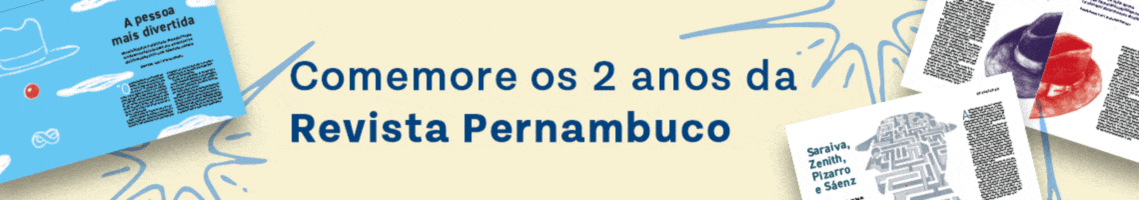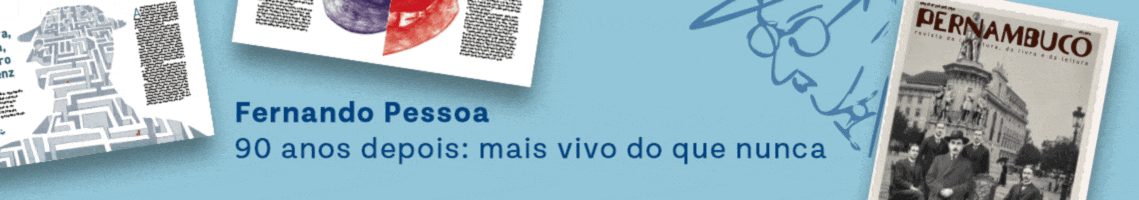As sensações dos acasos, tomadas como momentos decisivos da caminhada dos seres humanos sobre a terra, suscitam problemas insolúveis. Por mais que se explique a razão dos acasos, parece razoável admitir que, como acontece com o mistério, não se deve ter em mãos a chave que o desvele sob pena de exterminá-lo para sempre.
Essa rápida digressão serve como mote para comentar o meu inesperado encontro com dois escritores: Eduardo Galeano e Juan Rulfo. O fato se deu em Madri, em 1983, quando ambos participaram de congresso de escritores latino-americanos, o mesmo ano em que Rulfo fora a Espanha receber o Prêmio Príncipe de Astúrias.
Procurei Galeano no hotel. Ali fui informado de que ele não se encontrava. O gentil funcionário da portaria disse-me que ele dividia o quarto com um amigo e, quem sabe?, este saberia a hora de retorno do escritor uruguaio. Perguntei o nome do amigo de Galeano e a resposta foi imediata: o escritor mexicano Juan Rulfo.
Confesso que fiquei na dúvida se devia ou não falar com Rulfo. Decidi, então, abordá-lo mesmo temendo criar algum constrangimento, vez que ele poderia ser pessoa de difícil acesso. De repente, disse sim e a ligação com o quarto se concretizou. Falei ao telefone com ar de alegria e surpresa:
- Juan Rulfo, bom dia!
- Não é ele... – ouvi, surpreso, a voz indecisa e lacônica do outro lado da linha.
- Quem fala, então?
- É o irmão dele...
Diante daquele inesperado e estranho episódio, agradeci e desliguei o telefone. Confesso que não me senti apenas frustrado, mas, desolado. Comentei o ocorrido com o funcionário do hotel, o qual me disse não ter ninguém no quarto com o escritor Juan Rulfo. Será que ele temia falar com um estranho e a justificativa de ser o irmão e não o escritor ocorreu-lhe de repente?
Caminhei lentamente e sentei-me num banco da ampla avenida, diante do Museu do Prado, a meditar sobre o curioso comportamento de um escritor que se tornara famoso no mundo apenas com um pequeno livro: o romance Pedro Páramo (1955), que os editores o publicavam num só volume com a coletânea de 16 contos, que toma o título de um deles - O planalto em chamas (1953). E mais: a fama de Rulfo, reconhecida pela crítica especializada, residia na revelação de arquétipos informadores da própria tragédia da revolução mexicana de 1910, ancorada, segundo creio, em profundos reflexos ancestrais do drama da vida e da morte vistos e sentidos também pelos primitivos indígenas dali. Tradição, por sua vez, sedimentada na civilização ocidental, um mundo erguido sob a ótica da queda, fenômeno que explica a origem da vida e da morte, como, de resto, sugere o drama de Adão e Eva, punidos por terem provado do prazer carnal, gesto capaz de fecundar a vida. Aliás, como complementa a versão do Gênesis, mais tarde os seus filhos, Caim e Abel, logo se envolveram num duelo, obrigando um deles a defender a própria vida com a morte do outro.
Eu, então, naquele dia, diante do encontro frustrado, continuei sentado no banco da ampla avenida madrilena a buscar saída daquele inesperado laço que o destino me jogara sem pedir licença.
De repente, comecei a pensar na atmosfera reinante em Comala, a cidade dos vivos e dos mortos, criada por Juan Rulfo, onde seus personagens reinventavam um tempo impossível, imemorial, inalcançável. Tudo se dava como se Rulfo repetisse as mesmas palavras de abertura de seu único romance, pela voz de Juan Preciado:
“Vim a Comala porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo”.
A cidade de Comala encontra precedente plausível nos intermináveis mistérios do México. Os mortos de Comala, assim como se deu com milhões de maias e astecas, acreditavam na existência de um mundo fora da realidade temporal, onde os seres humanos iriam morar. Por isso, os espetáculos dantescos e monstruosos dos corações arrancados de seres vivos para que o sangue quente, ao jorrar e borbulhar sobre a pedra ígnea, provocasse eletrizantes transes nos olhos e nos corações de crédulos viventes.
Essa predileção do ser humano pelo terrível, o macabro, a maldade, enfim, o mal, me faz lembrar o prazer que as crianças sentem ao apreciarem a figura do Lobo Mau dos irmãos Grimm, reduzindo a impotente vovozinha a um ser desprezível e sem nenhuma possibilidade de reação e de viver outro final. Essas façanhas, aliás, em grande parte, foram herdadas de Esopo, nas quais a maldade, como se fora a única energia capaz de sensibilizar os corações humanos, surge em detrimento, vejam só, da bondade.
Enquanto eu me envolvia nessas ideias logo perdidas no vão dos mistérios, eis que me ocorreu algo inesperado: me veio à mente um outro universo parecido ao de Comala, existente aqui no Brasil, várias décadas antes, criado por Machado de Assis, em seu estranho e, ao mesmo tempo, maravilhoso Memórias póstumas de Brás Cubas.
A ideia inesperada me fascinou de tal sorte, que me levantei do banco e nem sequer contemplei o Museu do Prado, que, como todos os museus do mundo, fora criado para nos proporcionar prazer e descobertas inusitadas. Eu queria chegar em casa para anotar, ainda que em rápidas frases, as imagens e as vozes passageiras que inundavam minha mente. Uma delas me dizia que o mundo dos mortos de Machado poderia ter levado ou influenciado o ficcionista mexicano a criar a sua Comala. As semelhanças eram notáveis e, na medida em que se encaixavam ou se afastavam, logo depois surgiam novas sugestões. Isso era o suficiente para confirmar a imensa amplitude do mundo ficcional, mesmo quando as coincidências servem mais para convergir pistas aparentemente inexistentes do que para gerar perigosas semelhanças.
Machado de Assis parecia imerso numa dimensão abismal, ambiente inescrutável que nos desaloja, de imediato, deste mundo solar, onde o que mais importa é respirar, alimentar-se, dormir, sonhar, acordar e pensar, na maioria dos casos, ser um imortal. O bruxo do Cosme Velho, portanto, invadiu a região dos sepulcros por meio da inaugural dedicatória de Memórias póstumas de Brás Cubas, ideia tão abstrusa que vai além da necrose celular e chega ao invisível refúgio da Morte, embora, a certo ponto, diga o memorialista que nelas “só entra a substância da vida”, mesmo estando ele do outro lado da existência. Eis a dedicatória. Ou quase epígrafe?:
“Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas”.
A “bela chácara de Catumbi”, espaço carioca da predileção de Brás Cubas, talvez não se assemelhe à cidade de Comala, território criado por Juan Rulfo, onde o filho, Juan Preciado vai procurar o pai morto, Pedro Páramo. Essas obras literárias, no entanto, criadas por dois escritores vivendo em ambientes tão distantes no tempo e no espaço, apesar de tudo, levam seus personagens a buscar algo inatingível. E nesse particular se parecem.
No final de Memórias póstumas de Brás Cubas, vemos o narrador chegar à conclusão de que toda sua existência foi vivida como se fora um rosário de negativas, sugerindo que a impossibilidade de não deixar o legado da descendência, não significa uma crueldade do destino, mas um triunfo, porque, enfim, não comeu grave erro. Qual?
“– Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria”.
Já Juan Rulfo, em Pedro Páramo, nas últimas palavras, ante o mesmo desespero das buscas empreendidas no universo de Comala, onde a vida e a morte irmanam-se numa conspiração contra a existência, Pedro Páramo morre como se atacado por repentina metamorfose ou encantamento, no qual o sonho de toda uma vida se converte num simples mineral:
“Deu uma pancada seca na terra e foi-se desmoronando, como se fosse um monte de pedras”.
Foi na imagem desse “monte de pedras” que imaginei, naquele dia, em Madri, ao ouvir as palavras de Juan Rulfo transformá-lo na figura do escritor que morria para dar lugar ao seu irmão ausente, também, morto.