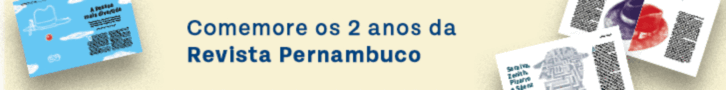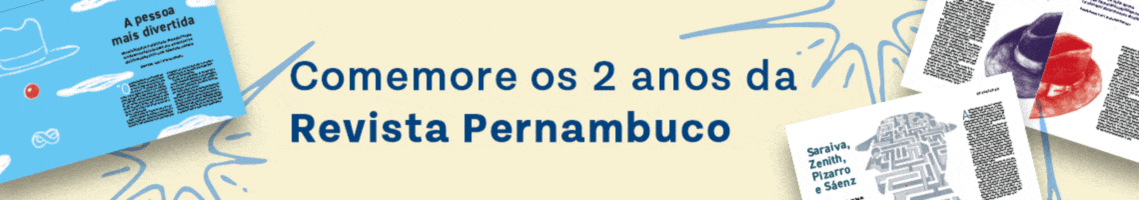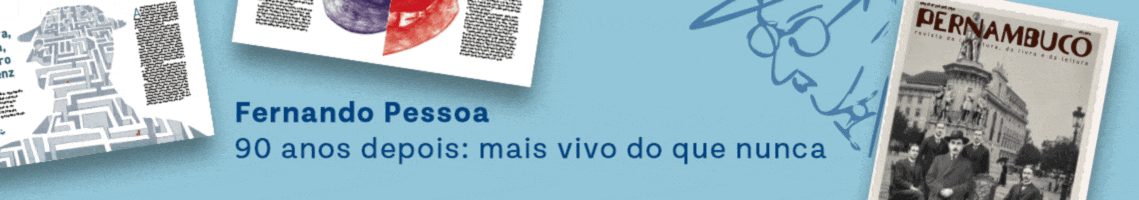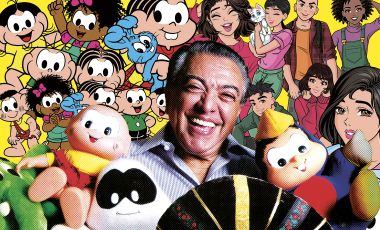Foi durante o mestrado em História que a pedagoga Eliane Boa Morte primeiro ouviu falar sobre os adinkra. Debruçou-se em pesquisas e, diante de seu projeto, decidiu que faria um livro didático que investiga aspectos do continente africano e deste conjunto de ideogramas chamados de Adinkra. Foi assim que nasceu História e cultura da África nos anos iniciais do Ensino Fundamental: os adinkra, obra voltada aos professores e composta por textos explicativos e opções de atividades construtivas para os alunos.
Interessada em desmistificar a “história única” da África e levar conhecimento acerca dos diferentes povos, manifestações culturais, histórias e símbolos desse continente plural, Eliane trabalha ativamente com a formação de professores, e a publicação de seu projeto de mestrado foi uma das formas que encontrou para munir educadores de informações específicas e de alto nível. Parece óbvio, mas, muitas vezes, não é: para ensinar às crianças sobre a África, é preciso que os professores conheçam o continente, sua história, geografia e cultura.
O livro História e cultura da África nos anos iniciais do Ensino Fundamental: os adinkra publicado pelo Griô Educacional é mais do que um produto destinado a garantir uma educação étnico-racial no Brasil. Mesmo partindo da questão “como estudar e ensinar a cultura afro-brasileira sem o afro?”, vai além. Para contribuir com a construção da identidade das crianças e adolescentes brasileiros é preciso entender que os povos africanos têm tantas particularidades a serem exploradas quanto os demais que atuaram e atuam na construção do que se entende por Brasil.
Em entrevista à revista Pernambuco, Eliane Boa Morte aprofunda-se na própria relação com a identidade de mulher negra na sociedade para explicar o interesse contínuo em criar um ambiente escolar onde as pluralidades da África sejam ensinadas e valorizadas por professores e alunos.
Como foi pra você se reconhecer como uma mulher negra na sociedade brasileira?
— É uma história longa… A minha visão de mulher negra tem uma origem, primeiramente, na família. Sou filha única, então a minha visão de ser humano foi construída dentro de casa. Eu não fui nunca nem vista, mas na adolescência a minha aparência foi questionada pela minha própria família, até pela minha mãe. A segunda coisa, de marcos na minha vida, foi quando eu tinha 12 anos, era uma pré-adolescente e um menino passou por mim e me chamou de macaca. Eu lembro fortemente disso. A tal palavra veio reforçar aquele sentimento que eu tinha de mim mesma: de não beleza. Foi um ano bem complexo na minha vida. Eu faltava a algumas aulas e repeti o ano. Nesse momento, minha mãe me fez uma pergunta muito emblemática: você quer estudar ou você quer trabalhar? A visão de trabalho da minha mãe era a de virar trabalhadora doméstica. Eu escolhi estudar. Acho que esse momento foi um divisor de águas na minha vida, em termos de me sentir mulher negra na sociedade e uma mulher negra feia, na minha concepção.
Então eu pulo para outro momento da minha vida, que foi quando eu passei a morar em Salvador. Depois de um certo tempo, entrei no movimento negro e descobri a Irmandade da Boa Morte. Isso ressignificou meu nome, porque “Boa Morte” é um nome de família, e, ao mesmo tempo, a minha condição de ser mulher e negra. Eu tinha uma ligação com um grupo de mulheres negras que tem uma importância muito grande na história, porque ela alforriava pessoas negras e dava a elas uma dignidade que muitas não tinham. Então eu fui modificando um pouco a minha visão sobre o que era ser uma mulher negra na sociedade, mas sempre de uma forma muito negativa. Essa construção era a de uma mulher feia, de uma pessoa que não sabia fazer as coisas, muito do estereótipo que carregamos de incapaz.
Quando foi que essa imagem de si e do que é ser uma mulher negra mudou para você?
— Olha, vou dizer para você que demorou muito tempo. Muito tempo. Eu me lembro de que fui a um terreiro de candomblé e lá conversando, o Pai de Santo me chamou e disse que tinha um caboclo que tinha gostado muito de mim. Isso mudou a minha vida. Porque eu pensei o seguinte: “Se um ser superior podia ver alguma coisa de bom em mim, era porque eu tinha alguma coisa boa”. Mudou a minha vida completamente. Isso aconteceu quando eu tinha quase 40 anos; então veja o tempo que eu levei para começar a achar que eu tinha alguma coisa boa para dizer a outras pessoas.
Foi com 23 anos que comecei a falar, a fazer palestras e formações de professores a partir das minhas leituras e experiências no movimento negro, mas em qualquer outro lugar entrava muda e saia calada, tinha muito medo de dar minha opinião. A minha formação é de movimentos sociais negros e, depois, acadêmica. Foi uma construção muito longa e complexa de começar a me despir de todo o estereótipo e começar a construir uma identidade nova. É muito em função dessa identidade nova que eu aceitei minha proposta de formação de professores, desde então, porque eu comecei a pensar que não era possível os estudantes esperar chegar na idade adulta, tão avançada, para começar a perceber que existe algo de importante em si, de conhecimento e inteligência. Então, deste ponto, eu faço minhas reflexões. Uma pessoa começar a perceber e se perceber como pessoa, não enquanto mulher negra ou homem negro, mas enquanto pessoa capaz. Portanto, a minha formação, minha discussão e minhas reflexões estão nesse caminho.
Voltando um pouco, como foi se encontrar na pedagogia?
— Eu morei em vários lugares, em vários estados, e estava morando no Rio de Janeiro, quando vim para Salvador, com 16 anos, já no segundo ano do Ensino Médio. Quando cheguei aqui, queria fazer o magistério, mas não tinha vaga, e eu fui fazer secretariado. Quando terminei a escola, fui fazer o vestibular e fui avaliando os cursos da Universidade Federal da Bahia para me inscrever. Encontrei pedagogia. Era muito próximo daquilo que eu achava que era ser professora, então escolhi. Foi a escolha mais acertada que eu fiz na vida. Não me vejo fazendo outra coisa. Só que todo o conhecimento que eu adquiri no movimento negro, associei ao meu curso de pedagogia; então, tudo o que eu aprendi e aprendo até hoje em relação à metodologia, à didática, eu emprego para falar sobre a temática étnico-racial. Tenho 40 anos de formada em pedagogia.
Quando você começou a trabalhar e ter um contato efetivo com estudantes, principalmente os estudantes de escola pública, você percebeu que existia uma falta de conhecimento sobre as culturas africanas?
— Eu me lembro de que comecei a trabalhar com estudantes do Ensino Fundamental, do sexto ao nono ano. Foi uma trajetória longa dentro de sala de aula e também na gestão da escola. Eu fui supervisora escolar, fui coordenadora pedagógica, também fui vice-diretora de uma escola durante muitos anos, sempre com um olhar apurado em relação à temática étnico-racial. Também trabalhei muito tempo com projetos sociais, e, nesses projetos, com jovens carentes, sempre fazendo essa relação com a sociedade. Mas foi há muito pouco tempo que eu me despertei para a questão da história da África, por incrível que pareça. Entrei no mestrado em História, em 2014, pensando em construir meu projeto voltado para professores, mas eu tinha uma coisa muito ampla para falar sobre cultura afro-brasileira. O que me despertou sobre a história da África foi quando fui fazer uma fala em um curso de especialização, sobre essa temática, e perguntei aos cursistas, que eram professores, o que eles trabalhavam sobre a história da África. Duas respostas específicas me chamaram atenção: um me disse que trabalhava o candomblé, e outro falou que trabalhava capoeira. Nenhum dos dois é africano. Tanto o candomblé quanto a capoeira são reconstruções de elementos africanos em solo brasileiro. Eu percebi aí o total desconhecimento da categoria em trabalhar história da África. Desde então, eu me dedico a discutir a história da África para poder trabalhar a cultura afro-brasileira. Inclusive eu pergunto: como estudar e como ensinar a cultura afro-brasileira sem o afro? Então é uma pesquisa e aprofundamento que eu faço desde então, trazer a África para que se possa trabalhar a cultura afro-brasileira.
A publicação do seu livro História e cultura da África nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os adinkra é uma culminância do seu projeto e da percepção dessa falta de conhecimento sobre o continente africano?
— O livro é produto do mestrado profissional. Eu tinha a ideia de fazer livros, mas a banca me disse para escolher um tema e fazer apenas um. Por incrível que pareça, e na minha defesa eu falei sobre isso, eu fui conhecer os adinkra com 54 anos. Tínhamos uma comissão de estudantes no mestrado para fazer uma revista eletrônica e nos perguntamos que nome daríamos a essa revista. Foi quando uma colega, que é historiadora, sugeriu Sankofa e disse que era um adinkra. Eu nunca tinha escutado essa palavra e fui pesquisar. Só tem um livro na língua portuguesa sobre os adinkra. Eu pensei em um livro para professores, ou seja, em como os professores poderiam levar os adinkra para a sala de aula. Então o meu livro fala de um conteúdo que a gente encontra na literatura e na internet, inclusive, mas ele vai além, porque ensina como os professores podem levar um assunto que é de história da África para os anos iniciais no Ensino Fundamental. Nesses anos iniciais, é muito difícil o professor trazer esse conteúdo. Eles não trazem uma aproximação de um elemento do continente para trabalhar desde o início. Mas trago formas de que esses símbolos possam ser trabalhados para que as crianças possam reconhecer seus significados e como símbolos de uma outra cultura.
Qual é a definição de adinkra?
— Adinkra são ideogramas. Assim como as pessoas conhecem vários símbolos chineses, fazem tatuagens e tudo, os adinkra são ideogramas e cada símbolo tem uma mensagem. Então adinkra é um conjunto de símbolos, por isso que é os adinkra e não o adinkras, porque a palavra adinkra é o plural. Eu pesquisei 84, mas existem muitos mais, e esses símbolos são mensagens do povo Akan que eram utilizados no momento que as pessoas morriam. Levavam para o outro plano de vida, essas mensagens carimbadas nas roupas das pessoas que iriam para a cerimônia. Encurtando, são ideogramas, símbolos que trazem valores e mensagens.
E qual é a importância de que as crianças no Ensino Fundamental tenham contato com os adinkra?
— Eu tenho a teoria de que o professor bem-informado levará conhecimento à sala de aula. Então o livro é para os professores porque é importante que eles conheçam os adinkra. Não só no dia 20 de novembro, mas ao longo do ano o professor bem-informado vai levar esse conhecimento para as crianças conhecerem outras culturas. A gente fala de italianos, fala de alemães, de portugueses e espanhóis, mas não falamos de povos africanos. É a mesma coisa, um continente com vários povos, povos inclusive que foram trazidos para o Brasil, influenciaram a base da cultura brasileira e a gente não sabe. Eles influenciaram de tal maneira a nossa forma de ser, que até a nossa forma de falar é influenciada por línguas africanas. Então é importante que o professor saiba disso para levar esses elementos para as crianças, é necessário passar que existem outras culturas, várias e que essas culturas estão em nosso cotidiano. O livro leva de uma forma leve e transversal esse conteúdo que é apenas um, entre diversos conteúdos que podem ser trabalhados. Esse foi o conteúdo do meu mestrado. No meu doutorado eu trabalho com sete povos, levando essas culturas também para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Os professores precisam conhecer a África para além dos países africanos, mas a África a partir de povos e culturas.
Munir professores de conhecimento sobre a história e cultura da África é, então, uma forma de interromper um ciclo de desinformação, correto?
— Sim, correto, e nessa perspectiva de povos e culturas africanas. É importante que, quando eu falo dos adinkra, eu fale também de tecnologia. Tem um capítulo no livro que fala em tecnologia para que a gente possa ampliar o olhar de que tecnologia é só computador, só internet. Tecnologia é lápis, é enxada, é uma pá, assim se forma tecnologia também. Quando você pega aqueles símbolos e os coloca em um carimbo para transferi-los para roupas e tecidos, você está construindo uma tecnologia. Tear é uma tecnologia; preparar as tintas para fazer essas pinturas é uma tecnologia. Ou seja, o professor precisa perceber que a humanidade surgiu na África e consequentemente muito do que se utiliza hoje pela humanidade foram tecnologias construídas e pensadas lá. Isso nos leva a crer que nós, negros do Brasil, não somos descendentes de escravizados, como muita gente diz, de pessoas desprovidas de conhecimento, que só sabiam trabalhar à base de ferro e chicote e que aprenderam tudo aqui no Brasil. Não era assim, na verdade, nunca foi, não é. Somos herdeiros da inteligência e da capacidade criativa e criadora dessas pessoas. Isso faz com que a gente desloque a ideia de que a gente precisa só trabalhar a estética negra, “negro é bonito, o cabelo do negro não é ruim, o nariz…”. Para além disso, a gente tem que trabalhar a inteligência e a capacidade. Quando se começa a trabalhar a história da África, dá um passo atrás da colonização e da escravidão no Brasil para conseguir ver povos africanos com sua inteligência e capacidade, que foram trazidos ao Brasil nessa condição de escravizados e aqui construíram seus conhecimentos com base naquilo que sabiam: a pecuária, a mineração, a agricultura. Tudo o que já tinha sido desenvolvido na África nós mantivemos e aplicamos no Brasil.
Na introdução do seu livro você cita Chimamanda Adichie e o “perigo de uma história única” ao olhar para a África. Como ensinar professores sobre o continente atuar de maneira a transformar essa visão estereotipada e singular?
— Eu estou hoje na formação de professores e durante esses 20 anos em que eu trabalho na Secretaria de Educação de Salvador, sempre fazendo palestras e formações, essa visão única da África se traduz naquilo que a gente vive. Falamos “a história da África”. É uma história só? Não é. A gente fala de um continente inteiro como se fosse uma coisa única. História da África, cultura da África, a gente usa o singular, sempre como se fosse uma coisa só. Nós usamos continente como se a África fosse um país. Eu sempre falo disso, é muito complexo. Países africanos é como a gente relaciona a África com a colonização europeia.
Uma vez fui fazer uma pesquisa e os professores queriam fazer um trabalho sobre países africanos de língua portuguesa. Eles estavam fazendo um projeto sobre colonização europeia, mas não era uma colonização qualquer, e, sim, a portuguesa. Nós fizemos uma discussão sobre os povos que estão nesses países de língua portuguesa. Temos 2 mil línguas na África, temos muito mais povos do que os 54 países que correspondem à divisão europeia, que não considerou povo, considerou apenas território. Essa é uma discussão que começa a mostrar aos professores que eles diminuem muito essa visão de África, que é muito mais complexa do que eles possam saber. Então, na verdade, não dá para ensinar a história da África, é uma coisa grandiosa, mas é despertar os professores para que eles saibam que não é uma “máscara africana” e, sim, a máscara de um povo africano, tem que saber de que povo é quem utiliza, em que ritual… ou seja, o contexto. É deslocar o professor para essa simplificação que eles veem em algo tão complexo como é o estudo da história da África. É essa perspectiva que eu levo nas formações a fim de despertar o professor para aquilo que ele fala no cotidiano e refletir sobre.
CONTEÚDO NA ÍNTEGRA NA EDIÇÃO IMPRESSA
Venda avulsa na Livraria da Cepe