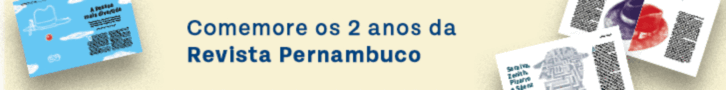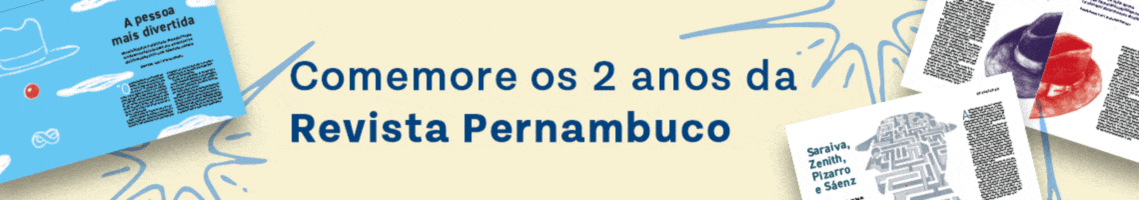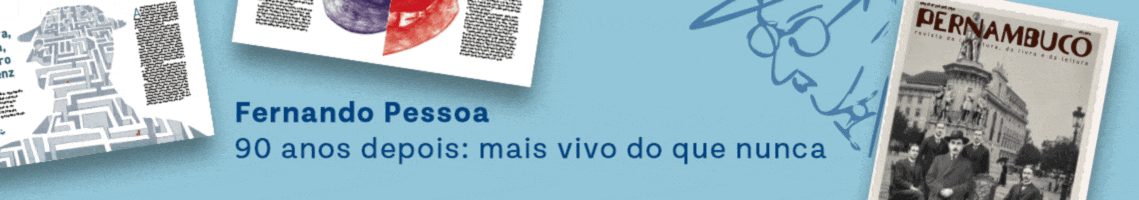Desde que li O trauma do nascimento, o grande livro do psicanalista austríaco Otto Rank – contemporâneo e dissidente de Freud –, ando obcecado pela procura das origens. Passo horas lendo sobre a história da África, de onde todos viemos. Volto aos primeiros romances da História, como o Satyricon, de Petrônio, do século 1, e o Asno de Ouro, de Apuleio, do século II, de onde todos os romances procedem. Aferro-me aos antigos, na esperança de encontrar um início, mas nunca chego ao início. Sempre esbarro em uma parede invisível, em uma grande bruma. A grande cerração do tempo.
Tento descobrir de onde eu mesmo vim. Sempre achamos que ainda não chegamos às origens, me disse um sacerdote com quem conversei em uma igreja de Meteora, na Tessália. Sempre achamos que ainda estamos nas antessalas, que vamos avançar mais pouco, e mais um pouco, e enfim chegaremos ao grande salão do nascimento. Será mesmo assim que as coisas acontecem? – ele me perguntou. Pelo que entendi, os sacerdotes gregos têm uma visão circular do tempo. Nunca chegamos às origens porque, quanto mais avançamos em direção às origens, mais retornamos ao ponto de partida. A origem permanece tão inacessível quanto o futuro. Só temos o presente e nada mais, foi o que o sacerdote quis me dizer.
Penso na juventude de meu pai, José Ribamar, passada na Parnaíba, Piauí, até sua vinda para o Rio de Janeiro ainda nos anos 1920. Tento chegar ao que havia antes dessa Parnaíba mítica de meu pai. Meu pai não nasceu na Parnaíba, mas em União, na caatinga. De mãos dadas com ele, recuo o mais possível, mas simplesmente não consigo chegar ao início de tudo. É a ideia de Rank: sobre as experiências mais remotas, mais primárias, esbarramos apenas em portas lacradas. Há uma tranca – um recalque – que impede nosso acesso ao momento original, ao qual nunca voltaremos. Avançamos no escuro, atravessamos os corredores da história, mas ali ficamos, enredados em um labirinto de imagens imprecisas, de ilusões e de ficções. E logo somos obrigados a nos conformar com as memórias mais claras da segunda infância, que apenas encobrem a verdade que procuramos.
Estou anotando essa crônica quando a campainha toca. É a senhorita Anderson, minha vizinha do 1907, que quer saber se eu vi Tambo, seu gato siamês. Não, não vi, mas ela não se conforma. Reclama que, apesar de tratar bem o gato, ele não pode ver uma porta aberta que escapa. Está sempre interessado em fugir. “O que ele tanto procura”? – a senhorita me pergunta, desolada, enquanto lhe sirvo um café. Penso, mas não digo: também os gatos fujões, mesmo sem saber disso, buscam suas origens. Metem-se em fendas obscuras, desaparecem em vãos, escavam lixeiras à procura de algo que nunca encontrarão.
“Meu gato é um sonso, procura o que não existe”, a senhorita desabafa. “Está tão bem em casa, por que busca outra coisa”? Não vou perder tempo explicando à senhorita Anderson que existe em todos nós, mesmo nos gatos, um impulso para o desconhecido. “Todos queremos ir além”, eu lhe digo. Mas ela protesta: “Ir além de quê”? A senhorita só se interessa pelos fatos. Parasse para pensar e veria que, também em seu caso, existe uma Parnaíba perdida, que ela desconhece. O pior: que ela jamais encontrará.
Mas vejam o lado bom disso tudo. Hoje entendo que é essa procura fadada ao fracasso que nos empurra e nos faz viver. Procurar por uma Parnaíba que desapareceu para sempre é seguir em frente – é agarrar-se à vida. Todos precisamos de sonhos. Também Lucius, o narrador de Apuleio em O asno de ouro, faz uma viagem à Tessália, na Grécia central, em busca de bons negócios. São outras as coisas que ele encontra – a começar por uma bruxa. Mas é assim, sem nunca chegar ao que procuramos, que encontramos o que não esperamos.