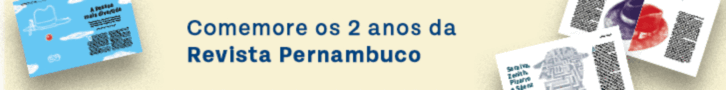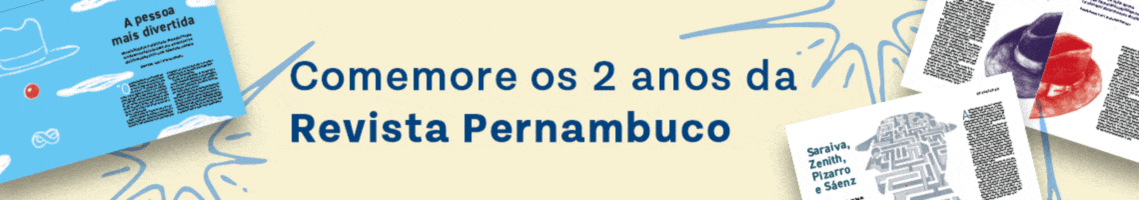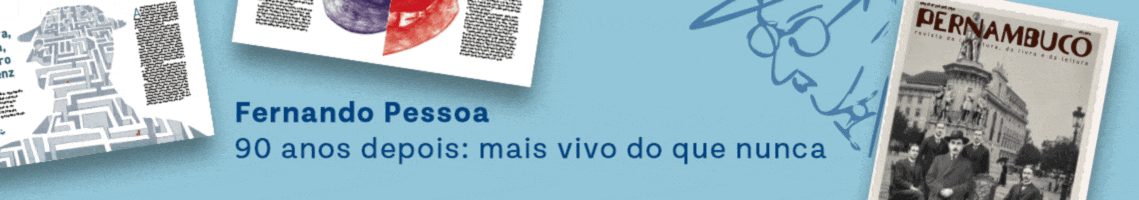Ainda aprecio ler José de Alencar. Outro dia, reli os romances Senhora, O sertanejo e Ubirajara. Confesso que gostei muito. Ubirajara trata pela primeira vez na literatura brasileira de uma sociedade pré-colombiana. Senhora, romance urbano, me pareceu tão bom como algumas obras de Balzac.
Perguntei a Milton Hatoum por que no mundo acadêmico há incensamento a Machado e nariz torcido a José de Alencar. Ele respondeu que Alencar se tornou ilegível por conta de sua linguagem. Sim, há excesso de romantismo, floreios, rebuscamentos, inversões, porém continuo preferindo José de Alencar a Machado de Assis. Não falem a Raimundo Carrero, que se dedicou a ler, estudar e dar oficinas sobre Dom Casmurro. Nem a Luiz Costa Lima.
Também reli Memórias póstumas de Brás Cubas, numa edição primorosa da Zahar. Impressionou-me a modernidade do romance, o que Hatoum chama de linguagem, as reflexões filosóficas e psicanalíticas, embora me incomode a ortografia de “cousa”, “doudo”, as trocas do “i” pelo “u”, o que não deixa de ser um maneirismo. Ao final da leitura, lembrei Jorge Luis Borges, que lia apenas o que lhe dava prazer. Corro o risco de me cancelarem, mas não sinto prazer lendo Machado.
Investigo esse gosto ou desgosto. No Crato, Ceará, onde morei dos cinco aos 16 anos, frequentava uma biblioteca diocesana – cheia de livros católicos ruins –, a do curso de Filosofia, com a literatura clássica, e as duas bibliotecas do meu primo José Leandro Correia, Gessy.
Autoritário e arrogante, era filho único de um irmão do meu avô paterno. Na casa da cidade, ele tinha as obras completas de Alencar, Machado, Lobato, e livros de Humberto de Campos e Jorge Amado. Na casa de engenho do pai, guardava os clássicos, comprados quando estudou no Rio de Janeiro, mais de mil volumes que as traças e os cupins devoravam sem compaixão.
Quando vim estudar no Recife, já lera todos os livros das estantes na cidade e os pedaços que sobraram de traças e cupins no engenho, o que me deixou o complexo de leitor fragmentário.
Apesar da biografia desastrada, da falência a que levou meu tio e meu pai, tenho gratidão a esse personagem estroina e intratável, por conta dos seus livros. Depois de espoliar a família, abandonou-a e exilou-se no Paraná, onde morreu na miséria. Carregava um saco de areia do engenho paterno, e quis que ela fosse espalhada sobre o seu corpo, quando morresse.
Mas serei injusto se não referir um livro importante de nossa casa, de que nunca me separei: A história sagrada. Aos 10 anos, já conhecia tantas narrativas dessa súmula bíblica, que acabei finalista numa maratona sobre religião. O rival, mais velho e de série avançada, se chamava Rui Siebra. Eu não passava de um menino de cabeça grande e olhos arregalados.
Esgotaram-se os conhecimentos das professoras da escola. Chamaram o bispo para nos arguir, dom Vicente de Araújo Mattos, homem grande, anelão no dedo, diziam existir nele uma felpa da cruz de Cristo. Dobrei o corpo e beijei o anel. O bispo se sentou numa cadeira de espaldar alto, Rui e eu ficamos de pé nas cabeceiras da mesa.
O prêmio? Um trancelim de ouro e uma medalhinha de porcelana com a imagem de N. S. da Conceição.
Sucederam-se as perguntas por mais de uma hora, nós éramos imbatíveis. Suando, o bispo revelou que continuávamos empatados. Usou um ardil para o desempate.
– Sei que os dois são batizados. Mas quem é crismado?
Rui balançou a cabeça afirmativo. Eu não era. Se digo que sou, minto e vou para o inferno, pensei. Se digo que não sou, adeus prêmio.
Afirmei a verdade e perdi o trancelim e a medalhinha.