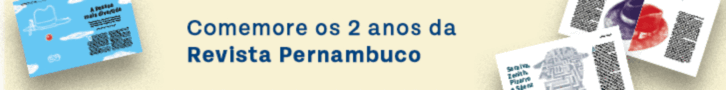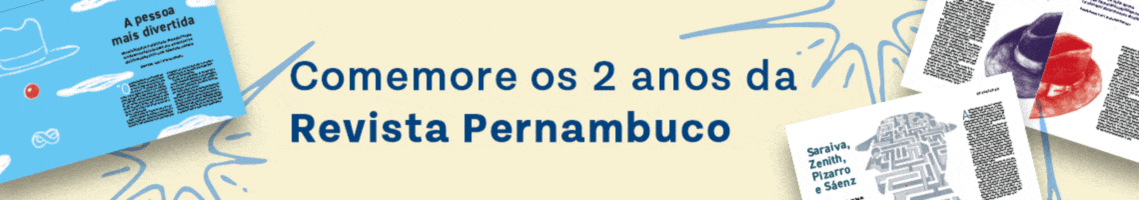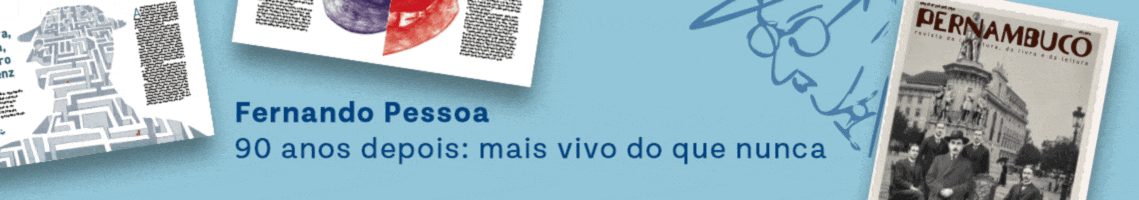A mesa do delegado está coberta de armas. Contra a claridade do dia, elas reluzem. Apesar do sol forte, uma tempestade sacode as cortinas da chefatura. O calor da Baixada Fluminense, com seu bafo de sanitário, me sufoca. Não sei se devo me sentar. Enquanto o delegado me observa em silêncio, em vez de pensar, bocejo.
Trago uma missão condenada ao fracasso. Devo descobrir os elos entre os policiais da delegacia de Queimados e ataques insanos a um grupo de adolescentes. Não existem provas, só suposições. Tenho pouco mais de 20 anos, sou um repórter inexperiente, lançaram-me no fogo. Vou dar o nome: quem me lançou ao fogo foi meu chefe de reportagem, Eulálio Fortes. Estamos nos anos 1970. O ar está impregnado dos odores da ditadura.
Célebre por suas aparições no noticiário policial, o delegado Zacarias Simão é direto: “Diga o que tem a dizer”. Mas o que tenho a dizer? Dizer que, na zona sul do Rio, um chefe de reportagem pernóstico suspeita que ele, o delegado, esteja envolvido com brutalidades? Zacarias Simão percebe meu desespero. Para aumentá-lo, começa a brincar com as armas que tem diante de si.
“Não tenho tempo, seja rápido.” Aos gaguejos, digo: “É a respeito dos adolescentes espancados”. Foram detidos por suspeita de furtos. Horas depois, reapareceram cobertos de feridas. “São uns imbecis. Trabalham para o tráfico”, o delegado diz. Penso em argumentar que nem isso justifica a violência, mas onde está minha coragem? Mais uma vez, gaguejo: “E quem feriu os garotos”?
Um silêncio de aço se derrama sobre a chefatura. A realidade despenca sobre mim. “O que estou fazendo aqui”? – eu me pergunto. O que espero, que o delegado confesse seu crime? Confesse a mim, um repórter fraco e tolo? Zacarias Simão se ergue. Não afasta os olhos malignos. Observa-me – inspeciona minha alma. É um sensitivo, um mágico. Guarda poderes que ultrapassam sua autoridade policial. Seu olhar me pressiona contra o chão, sou uma barata. Nem rastejar posso.
Naquela época, eu não parava de ler A metamorfose, de Franz Kafka. Identificava-me ferozmente com Gregor Samsa e sua dor. Diante do delegado, também eu não passava de um inseto. Como eu, um inseto, podia ousar? Como me atrevia? Zacarias Simão continuava a vasculhar seus pensamentos. Parecia mastigá-los, lentamente, e só depois os dispararia sobre meu peito. Eu seria preso. Talvez fosse torturado. Seu olhar me esmagava.
Em passos de chumbo, aproximou-se. Puxou uma cadeira e disse: “Sente-se”. Sua figura se avolumou à minha frente. Era o efeito que o delegado desejava. Ele dirigia a cena e eu era só um figurante. “Sabe que você é um rapaz corajoso” – me disse. Foi um soco. Seria aquilo, de fato, um elogio? Um elogio a troco de quê? O que Zacarias Simão queria em troca? Que eu o livrasse de seu crime?
“Ou você é corajoso, ou é idiota”, prosseguiu. Fosse um idiota, mereceria seu escárnio. Fosse corajoso, me convidaria para um café. Quem sabe, para um trago. Continuei em silêncio, à espera de minha sentença. Os dois investigadores que estavam na sala começaram a rir. Eu tinha vontade de chorar, mas seria ridículo.
Enquanto o delegado mastigava os pensamentos, eu continuava a tremer. Até que o telefone tocou. O detetive que atendeu disse: “É da televisão”. Zacarias Simão, o delegado das notícias, deu um sorriso. Perguntou a que horas chegariam e onde deixara seu paletó. “Tirem essas armas de minha mesa”, ordenou. De uma gaveta, puxou uma gravata. Arrumava-se diante do espelho, quando se lembrou de mim. “Tirem esse paspalho da minha frente”, se limitou a dizer.
Nem corajoso nem idiota, só paspalho. A qualquer momento, pensei, a faxineira da família Samsa chegaria com sua vassoura para me varrer para o lixo. Gregor Samsa, o personagem de Kafka, se encarnava em mim. A ficção me salvava de minha derrota.