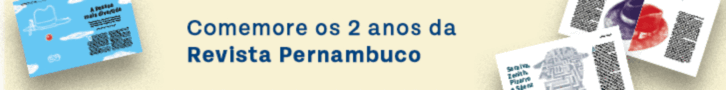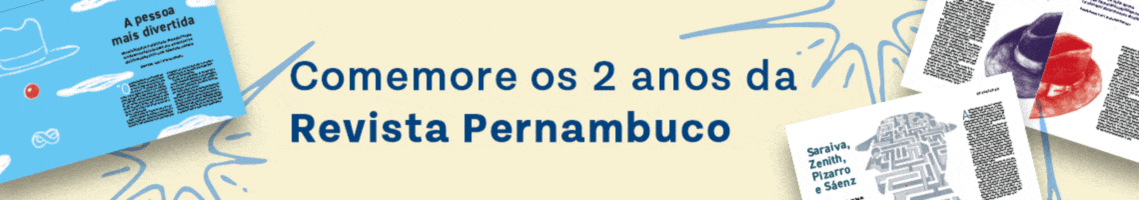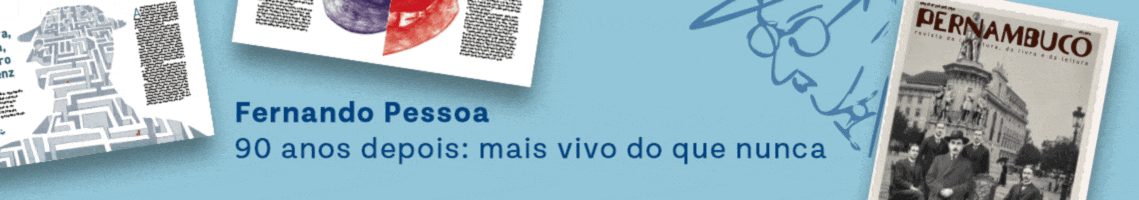Contam que um guerreiro bárbaro, num assédio a Ravena, Itália, abandona os companheiros e morre defendendo a cidade que antes havia atacado. Verdadeiro ou falso – não importa –, o relato serviu de tema a um conto do argentino Jorge Luis Borges: “História do guerreiro e da cativa”. Borges imagina o indivíduo, talvez um lombardo, oriundo das selvas e lodaçais dos rios Elba e Danúbio, deslumbrado com algo que jamais vira: “uma cidade, um organismo feito de estátuas, de templos, de habitações, de grades, de jarrões, de capitéis, de espaços regulares e abertos”. Porém, nenhuma dessas obras o impressiona por ser bela, mas porque advinha em tudo o que vê uma inteligência imortal.
Bruscamente, fica cego e renovado por essa revelação: a cidade. “Sabe que nela será um cão, ou uma criança, e que não começará sequer a entendê-la, mas sabe também que ela vale mais que seus deuses e que a fé jurada e que todos os lodaçais da Alemanha”. O guerreiro abandona os seus e peleja por Ravena. Morre e, na sepultura, gravam palavras em latim que ele não teria compreendido.
Essa narrativa, que li no início da década de 1970, pouco tempo depois de chegar ao Recife, me fez pensar sobre um sentimento amargo que sempre carreguei comigo, o de não pertencer a nenhuma cidade. Nasci na fazenda Lajedo, município de Saboeiro, região dos Inhamuns, mas aos 5 anos mudei-me para o Crato. Deslocado do sertão de origem, a pequena e velha Saboeiro não significou muito para mim. O Crato, aonde cheguei no final do ano de 1955, com suas praças, luzes e cinemas, foi um alumbramento. Amei a Princesa do Cariri como se fosse o meu paraíso na terra. Mas ali, também, me sentia um estrangeiro.
Quando morei e estudei em Fortaleza, durante o ano de 1968, o estranhamento se agravou. Não conseguia estabelecer vínculos estáveis com a cidade, talvez porque ela tenha sido construída sobre areia em contínuo movimento, que nos empurra para longe. A firmeza aos pés, me faltava ali. Desgarrado, vim tentar a sorte no vestibular de Medicina do Recife, no ano de 1969. Encontrei a cidade assombrada pelo golpe de 1964.
Meus antepassados largaram um engenho em Tracunhaém, no final do século XVIII, arriscando a sorte nas terras sertanejas do Ceará, margeando o Rio Jaguaribe e seus afluentes. Todos da família tinham passagem pelo Recife. Portanto, minhs raízes já estavam plantadas na cidade e a chegada no ano de 1969 é apenas um retorno.
O Sul do Ceará, o Cariri, sempre manteve vínculos com Pernambuco, somos uma extensão desse estado pela Chapada do Araripe. O Recife era a nossa capital afetiva. Do Seminário de Olinda, partiu José Martiniano de Alencar, um jovem aspirante a padre, de apenas vinte anos, levando aos cearenses os ideais republicanos da Revolução de 1817 e, mais tarde, em 1824, os da Confederação do Equador. O trânsito entre o sul cearense e o Recife só fez intensificar-se ao longo dos anos. O Padre Cícero embarcava para Roma, no porto do Recife, fugindo às hostilidades do bispado de Fortaleza. Outro cearense, Miguel Arraes de Alencar, também fez história em Pernambuco.
Volto ao guerreiro de Borges, o lombardo fascinado por Ravena. Lembrei-o porque senti algo parecido ao ver o Recife pela primeira vez: uma cidade onde era possível reconhecer a história, camadas de tempo, tipos de arquitetura, os caminhos sinuosos do Capibaribe, o mar azul, a luz de punhais de que fala João Cabral, cores e sombras, brisa amena e cheiro podre de maré. Capitulei como se houvesse chegado a um porto. O deslocamento e o não pertencimento nunca me deixariam. Mas o sentido de viver para uma cidade tomou conta de mim.