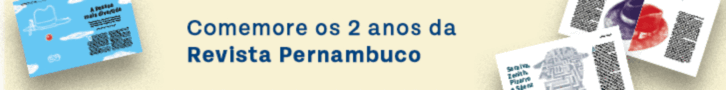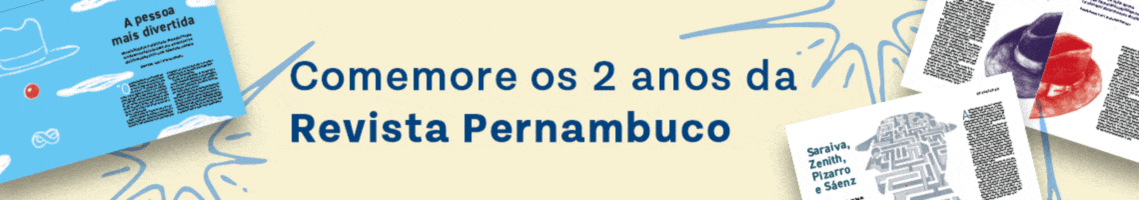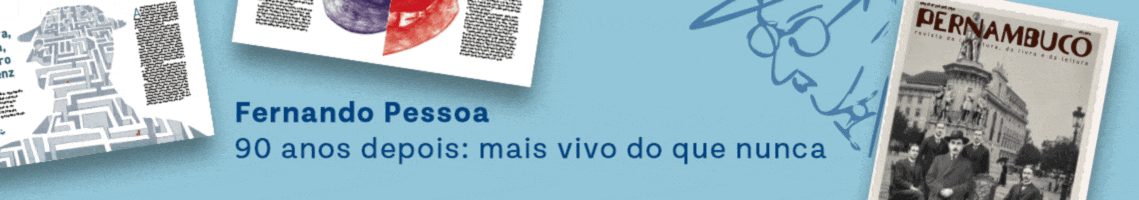1.
Um mago é traído pela esposa. Então ele constrói um crocodilo de cera que toma vida quando entra em contato com a água. A ideia é lançá-lo no córrego por onde o amante de sua mulher entra e sai de sua propriedade. Dito e feito. O animal termina por capturar o homem e passa sete dias com o coitado sob as águas de um lago até o feiticeiro traído voltar para casa para acertar as contas com o esperto.
Essa história está no Papiro Westcar, datado cerca de 1700 a. C., que se encontra no Museu de Berlim, e é um dos primeiros registros de humor na literatura. São histórias com anedotas humorísticas e contos de magos que realizam feitos extraordinários, muitas vezes com clímaces cômicos. Veja o exemplo do quarto conto, do mágico Djedi, que zomba dos homens velhos, com hipérboles boas de roteirizar tirinhas de jornal ou caricaturas:
“Existe um velho de nome Djedi que reside em Djedseneferu (...). É um velho com cento e dez anos que come ainda quinhentos pães, metade de um boi e que bebe, ao mesmo tempo, até os dias de hoje, cem cântaros de cerveja”.
O humor, o escárnio, a ironia eram comuns em várias literaturas, inclusive em textos religiosos, hindus, como nos Vedas, ou nos épicos Mahabharata e o Ramayana, com passagens que podem ser interpretadas com acento humorístico.
Em muitos casos, antigos, o humor servia para transmitir lições de moral e normas de relacionamento e ética. Ocorre assim na coleção de fábulas d’O Panchatantra (ou Os cinco tratados), um clássico da literatura indiana, escrito em sânscrito, possivelmente no século III a.C. Historietas ou anedotas esculpidas nas proximidades dos templos budistas. (Os cinco livros foram traduzidos para o português e você pode baixá-los de graça no Portal de Livros Abertos da Universidade de São Paulo).
Em especial, os egípcios antigos eram bem-humorados. No “Conto de Setne Khamwas e Si-Osire”, encontrado em outro papiro antigo, um pai e um filho observam a procissão de corpos sendo levados ao cemitério. Ali vão um homem pobre e um homem rico. Setne, o pai, supõe que o rico deve ter sido feliz e será lembrado com tristeza. O que não acontecerá com o pobre. Si-Osire, o filho, uma espécie de criança-feiticeira, contradiz seu pai. Para comprovar isso, transporta o pai e a ele próprio ao mundo dos mortos. Cheia de “ensinamentos” morais, a história da viagem de Setne e Si-Osire à terra dos mortos se parece com uma comédia de erros, cheia de mal-entendidos, enganos ou coincidências cômicas. Dela descendem anedotas hoje bem populares em várias culturas, ao modo das comparações entre a vida do pobre e do rico ou, ainda, no Brasil, nas pulhas ou nos jogos de “perguntas difíceis”, muito parecidas às peripécias de populares solomões e tiradas traiçoeiras de Camonge ou as anedotas picantes de João Grilo, no nosso Velho Nordeste.
2. Ironia e sátira
O humor é uma forma de enfrentar a morte, e fracassar. A forma, ou fórmula, está presente no Gilgamesh, texto escrito 1.500 anos antes da Odisseia, de Homero. Esse grande poema, o mais antigo da literatura épica, tem origem na Suméria, uma das primeiras civilizações a desenvolver a escrita. Não é um livro humorístico. Pelo contrário.
Entretanto, ali aparece o humor, às vezes bem amargo. Há episódios mais leves, como nesta passagem, considerada a piada mais antiga do mundo: “Algo que nunca aconteceu desde tempos imemoriais: uma jovem não peidava no colo do marido”.
O humor e o sarcasmo são bastante comuns na Grécia antiga. As comédias de Aristófanes, que viveu no século V a.C., são exemplos desse humor. Suas peças satíricas, como Lisístrata e As rãs, são repletas de críticas sociais, morais, políticas, sexuais.
Do ponto de vista cultural, o humor étnico, o humor sobre religiões, o humor cujo ponto mais forte é a trapaça, os enganos de amor ou amizade estão presentes em variados graus nas regras de relacionamento, de controle social e fonte de prazer.
Sigmund Freud (1856-1939), messias dos princípios do prazer e dos instintos de morte, era bem mais humorado do que muitos dos psicanalistas atuais. Todos conhecem seus estudos sobre os chistes, de 1905, embora insatisfatórios, para especialistas mais recentes.
Mas Freud era um homem espirituoso. O termo vem do francês, esprit, que quer dizer espírito. Tem a ver com a habilidade de se responder rápida e livremente a situações inesperadas. O espírito da coisa. Graça de espírito. Esperteza. Um tipo de sabedoria, não do sábio, mas do sabido.
Há um exemplo na vida, fora dos livros, de sua relação com o humor, com a morte e a angústia: o caso, contado por Peter Gay, demonstra “seu senso de humor irreprimível”. Em 1938, sua filha, Anna, foi presa e interrogada pelos nazistas. Depois disso, Freud foi obrigado a assinar um documento, relatando não ter sofrido maus tratos. Assinou tudo e fez uma anotação, com a própria letra, no final da declaração: “Posso recomendar altamente a Gestapo a todos”.
Reconheçamos: era uma tirada de humor bem perigosa para aqueles tempos. Peter Gay (1923-2015), autor da biografia Freud: uma vida para o nosso tempo, tem uma explicação bem freudiana para a atitude Freud: o desejo inconsciente de suicídio. Gay era meio amigo da onça de si mesmo, nesse exemplo. Porém, o amigo reconhecia que a atitude era um exemplo de coragem e vitalismo. Uma característica paradoxal do chamado humor negro, tão combatido, hoje, pelos politicamente corretos. “Numa brincadeira pode-se até dizer a verdade”, ele comenta n’Os chistes e sua relação com o inconsciente (1905).
Se alguns seguidores de Freud soubessem que ele colecionava piadas sobre judeus, dessas que não se contam mais, talvez abandonassem seu Instagram. Verdade: essa coleção está citada em carta sua a Wilhelm Fliess (1958-1928). A carta é de 12/6/1897.
Vale a pena ler o que afirma o psicanalista brasileiro Joel Birman para entender melhor:
“Transformar a agressão mortífera em chiste e ainda gozar com o que se realiza, pelo riso que provoca, implica, para a tradição judaica, não se identificar com o agressor e esvaziar em ato, em cena social, o aniquilamento presente no gesto antissemita”.
No geral, talvez Freud visse no humor uma forma de lidar ou encobrir o horror.
É ainda parte de sua coleção a anedota, do gênero das “piadas de cadafalso”, sobre um condenado à morte, nas primeiras horas de uma segunda-feira. Naquele dia, a caminho da execução, o homem declara: “É, a semana está começando otimamente”.
O humor freudiano parecia trágico e alegre, sem nunca perder a visão da morte no horizonte. Seus estudos buscavam compreender por que uma piada era risível e de qual forma o riso era um escape psíquico, em uma época, o fim do século XIX, em que estava na moda escrever sobre o riso.
O tema do riso, por si, daria outro ensaio. Sobre isso escreveram o suíço Jean-Jacques Rousseau (1712-1778); Henri Bergson (1859-1941); Vladimir Propp (1895-1970), este com ênfase para o riso de zombaria. Propp analisa nossa capacidade de rir, alegres ou tristes, por sermos inteligentes ou bobos, irônicos ou sinceros, amáveis ou grosseiros, por humanidade ou por sermos animalescos, assim ele discorre em seu Comicidade e riso.
Para ele, além de certa distinção de pessoas mais ou menos propensas ao riso, há uma diferença entre o riso humorístico e o satírico. O primeiro é o riso natural, sem maiores significados sociais ou ideológicos.
O riso e o cômico (outro termo muito amplo) têm destaque no estudo de Freud, mas quase sempre ligado à piada, ao prazer (ou a recuperação de um prazer ou de um tempo, como a infância), à vida em sociedade. Para ele, o humor é um sintoma, mais pontualmente ligado ao cotidiano que à literatura. Esses pontos, quase mecânicos do consciente e inconsciente, o levaram a escrever vários textos sobre o assunto, mais especialmente O humor, publicado em 1927, no qual mostra o quanto o humor tem a mesma origem dos atos falhos, dos sonhos, e das neuroses, da tensão ou distensão psíquica.
No humor satírico (e até escatológico) se destacam, surpreendentemente, autores como Gershom Scholem (1897-1982), teórico da mística judaica, e, de modo muito mais sofisticado, o escritor Philip Roth. Toda sua obra é permeada por essa atmosfera, de personagens que têm repugnância dos seus próprios desejos, repugnância e rancor expressos em muita escatologia, em monólogos masturbatórios, se fechamos a lente n’O complexo de Portnoy.
O romance é a narrativa de Alexander Portnoy, um advogado de Nova York. Alguém cuja inteligência e ironia são as características mais expressivas, não deixando em paz nenhum fantasma, privado ou público. Um desfile de “sincerícidos”, domésticos, como este, da mãe ao falar da filha, a irmã “mais velha, pálida e gorda” de Portnoy: “Esta criança não é nenhum gênio, porém, não nos cabe querer o impossível.”
Seu humor em relação à família não para, e só melhora: “Um judeu com os pais vivos é a maior parte do tempo um indefeso bebê!” Ou, mais à frente, quando o próprio humor se torna uma prisão para Portnoy: “Livre-me do desempenho deste papel do filho afogado da anedota judaica!”
Roth tem um estilo rápido, de lançador de shurikens. Mas há momentos líricos, quase poéticos. Essas oscilações planejadas fazem de Roth um dos melhores autores contemporâneos. Nesse romance, a trajetória do protagonista vai da máxima vitalidade à impotência sexual, em longas autopunições, da zombaria consigo e com sua comunidade. Sem piedade. No que sugere muitas vezes a postura desses caras rabugentos da comédia stand up, uma tolice que os brasileiros miamizados importaram a granel dos americanos. No caso de Roth, um humor que disseca, com apuros de anatomista. Roth é um Woody Allen sincero e corajoso, digamos.
Não à toa, por essas e outras, depois da publicação de O complexo de Portnoy, as relações de Roth com a comunidade judaica nunca mais foram as mesmas.
Sobre rir de si próprio e do seu povo, essa marca do humor judeu, há um trecho do romance, sob intertítulo de “Melancolia judaica”, no qual o narrador-protagonista decide não tratar ninguém como um ser inferior, com exceção os de sua família. Ele se exaspera: “Judeu judeu judeu judeu judeu judeu! Já está transbordando dos meus ouvidos, a saga dos judeus sofredores! Me faça um favor, meu povo, pegue seu legado de sofrimento e enfie no cu – porque por acaso eu também sou humano!
A tradução deste trecho, no Brasil, é bem-recatada se comparada com traduções onde fica mais acentuada a escatologia: “enfie sua herança sofrida no seu rabo sofrido”. Mas talvez daí não soubéssemos se tratar de Roth ou de Charles Bukowski, tão eloquente quanto sarcástico.
O termo “melancolia”, que abre aquele capítulo de Roth, é apropriado para a ideia dos transtornos do humor do narrador. Porém, pouco preciso, tendo em vista que Portnoy não é um sujeito melancólico. Alguém melancólico é apático, incapacitado para lidar com crises. Portnoy, pelo contrário, se revolta o tempo todo com sua condição, seu povo, além de demonstrar grande indiferença às questões judaicas, e exerce seu humor como defesa ou escape no ponto de vista freudiano. Não para “preencher vazios”, como prefere a psicologia barata, mas com a intenção de ali duelarem com a linguagem o tempo todo, como na obra de Roth, com antagonismos e alterações entre o humor e a ironia.
A ironia é uma modalidade particular e complexa do humor. De acordo com o filósofo André Comte-Sponville, no seu Dicionário filosófico, traduzido por Eduardo Brandão: “O ironista ri dos outros. O humorista, de si ou de tudo. Ele se inclui no riso que provoca. É por isso que nos faz bem, ao pôr o ego à distância. A ironia despreza, exclui, condena; o humor perdoa ou compreende. A ironia fere; o humor cura ou aplaca.”
A palavra vem do grego, Eironeia, é quer dizer: interrogação. Isto torna Sócrates um hit parade neste ensaio. Perguntar, interrogar, de modo a fingir que sabe, na busca de descobrir a verdade: nisso consiste o recurso socrático.
Ferir e curar são pontos levantados e talvez precisem de algum esclarecimento. Não há humor para si mesmo. O humor deve provocar algo no outro, e alguma dor, no caso da ironia e da sátira, ou prazer, de nos sentirmos superiores ou inferiores a alguém. Por isso, nessas circunstâncias, rimos. Nunca é por gentileza. Isso envolve um conceito antigo: a empatia.
De muito gorda a porca já não anda e a palavra vem perdendo a força.
Para alguns estudiosos, a empatia tem raízes no amor materno. Alguns o relacionam com a oxitocina como facilitadora da empatia. A oxitocina é um hormônio produzido pelo hipotálamo. Na hora do parto, o hormônio auxilia nas contrações uterinas. Minha mãe morreu durante o parto de meu irmão, por conta de uma injeção malplanejada de oxitocina. O hormônio está presente também durante a lactação.
A empatia é, dizendo-se em linguagem figurada, um instinto, praticamente. Não está restrito a cuidados com a própria espécie, somente. Há quem queira salvar as baleias e os animais abandonados na rua, por conta desse sentimento. Menos que isso: instinto. Algumas pessoas se afetam mesmo com isso.
Sua evolução se dá por conta de querermos, primeiramente, proteger os nossos, dos nossos grupos familiares. Trata-se de preservação da espécie e autopreservação, ao mesmo tempo. Uma luta contra a natureza. Um torneio ou competição para o qual estamos fadados a perder. Sua evolução se dá porque somos animais sociais, cooperativos.
O problema, diz o primatólogo e biólogo Frans de Waal (1948-2024) no seu livro A era da empatia, é quando temos em mente um equívoco, a ser combatido: “A natureza é uma luta pela vida, um terrível processo de competição e precisamos imitar isso na sociedade”.
Definitivamente, a sociedade não é uma imitação da natureza. Para Waal, é preciso construir uma sociedade baseada na capacidade de cooperação e não somente na necessidade de competição. Enfim, empatia e compaixão. Um apelo, se considerarmos o subtítulo da obra: “Lições da natureza para uma sociedade mais gentil”.
Waal foi um dos mais sérios pesquisadores em sua área. E importante na história cultural mais recente do humor. Um de seus orgulhos, li no seu obituário, no The Guardian, era ter ganhado o Prêmio IgNobel, criado pela revista de humor científico Annals of Improbable Research. Seu lema é “fazer primeiro as pessoas rirem, depois pensarem”.
Em 2012, Wall e a colega Jennifer Pokorny foram os vencedores por um artigo demonstrando que os chimpanzés podem reconhecer uns aos outros por suas nádegas.
Wall estudou chimpanzés por décadas e décadas. Eles diferem de nós, humanos, somente em 1,5% da sua carga genética. Da ordem de primatas, somente um remexe as nádegas no TikTok. Para pensar, e rir.
Essa ironia e sarcasmo em relação ao modo como nos sentimos diante do outro estão presentes também na dramaturgia de Bertolt Brecht (1898-1956), que não se sustenta somente nas profundas reflexões sobre o fazer teatral. Por exemplo, quando se trata de compaixão e empatia, você as encontra sob a atmosfera da paródia/sátira Ópera dos três vinténs (1928), onde o humor cínico aparece. O texto alemão já é uma paródia da obra do inglês John Gay (1685-1732): Ópera dos mendigos (1728). Ópera do malandro (1978), de Chico Buarque, já é uma paródia da paródia da paródia.
Logo no primeiro ato da peça de Brecht, na tentativa inútil de contrariar o endurecimento dos corações humanos, Jeremias Peachum, um empresário de mendigos, fala para o público aburguesado, reconhecendo-se uns aos outros pelas nádegas sentadas nas poltronas:
“Meu trabalho é muito difícil, pois meu trabalho é estimular a compaixão humana. É verdade que existem algumas coisas que abalam o homem – algumas coisas –; mas o ruim é que, basta aplicar algumas vezes e já não fazem efeito (…) Acontece, por exemplo, que um homem que vê outro homem numa esquina, mostrando o coto do seu braço, pela primeira vez, de susto, dá-lhe dez centavos; o segundo, apenas cinco, e o terceiro talvez entregá-lo sem cerimônia à polícia”.
3. "Professor de melancolia"
Para lembrar o réptil feito de cera e magia do Papiro Westcar, que inicia este ensaio, incluímos ainda nesse mundo da sátira o atormentadíssimo e trágico Dostoievski (1821-1881), e seu conto satírico “Crocodilo” (1865). A história, na verdade, é um “relato verídico de como um cavalheiro de idade e aspecto conhecidos foi engolido vivo e inteiro por um crocodilo...”
Conta sobre um funcionário público, Ivan Matviéitch, vivendo nas entranhas de um animal, a se conscientizar de sua desgraça. É uma da sátira sobre a filosofia, a política, a ciência e mais sobre a economia, poderíamos dizer.
Numa anticronologia, há ali tintas de Kafka (embora A metamorfose só tenha sido publicada 50 anos depois, em 1915) e mais pinceladas do Murilo Rubião (1916-1991) – no seu conto “O ex-mágico da taberna minhota”, só publicado em 1947) –, o russo deixou esse conto inconcluso, contudo ali está bem-definido o forte acento satírico e não especialmente do realismo trágico nos seus romances, por exemplo.
Os exemplos na literatura se ampliam.
O próprio Kafka, citado agora, já garantiria outro artigo, com o seu humor sem margem para qualquer consolação. Ou como disse seu conterrâneo Milan Kundera (1929-2023), em A arte do romance (1986), sobre o cômico em Kafka, que se estabelece “privando as vítimas da única consolação que elas assim possam esperar: aquela que se encontra na grandeza (verdadeira ou suposta) da tragédia”.
Por mais antipáticos que pareçam o sarcasmo e a ironia na expressão do humor, no fundo, trata-se de um reconhecimento de sermos da mesma espécie e de que nossa luta contra a natureza já tem um vencedor: a morte. Então, que possamos rir, porque, como nos ensinou Rabelais: “o último destino humano é rir”. Mesmo segurando fios de eletricidade soltos e desencapados o tempo todo.
No estudo do humor, a melancolia é parada obrigatória. Há uma teoria, obsoleta, a dos quatro humores, que tentava demonstrar o quanto o comportamento humano era influenciado por alguns fluidos corporais: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra.
Segundo essa teoria humoral, estaríamos sujeitos a quatro tipos de “temperamentos": sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico.
A melancolia (etimologicamente, melaina chole), ou acídia, estaria ligada a distúrbios da chamada “bile negra”, que poderia causar variados estados mentais: se mais fria a bile, poderia levar à apatia e indiferença; se mais quente, a estados eróticos “proibitivos”, em especial nas mulheres.
A melancolia é um humor misto de medo e tristeza.
A literatura, o cinema, o teatro, a música adoram personagens melancólicos. Talvez porque para fazer valer a interrogação de Aristóteles: “Por que todos os homens de gênio, no que concerne à filosofia, à poesia ou às artes, são tão melancólicos?”
“Plaine de deuil et de melancolye” (“Pleno de luto e de melancolia”), uma canção composta em 1545 pelo francês Josquin Desprès (c.1440-1521), é um desses exemplos antigos, aqui em tradução livre:
“Cheio de luto e melancolia,
vendo meu mal que sempre se amplia
e que no fim já não posso suportar.
Forçado sou a me confortar
a te devolver o resto da minha vida”.
O tom e o tema não são tão diferentes de “Melancolia” (música de Fernando César), gravada 400 anos depois (1956) pela atriz e cantora brasileira Doris Monteiro, nascida em 1934 e morta em 2023:
“A vida passa e perde a graça
Melancolia
Folhas caindo, alguém partindo
Melancolia
Trazem um dia pra nosso mal
Tristeza e pranto
Melancolia
Ponto final”.
Certamente, o pesquisador Jean Starobinski (1920-2019), autor de A tinta da melancolia, não pensava em Josquin Desprès ou Doris Monteiro quando se referia a certo tratamento para a esse estado de humor, trecho traduzido aqui por Rosa F. d’Aguiar:
“A música, se aproximando muito da poesia, também foi tratamento sugerido pelos especialistas do tratamento moral. Embora a seus olhos a melancolia se cristalize em torno de um núcleo intelectual, de uma ideia fixa, ela deve ser atingida e modificada ao nível dos sentimentos e das paixões, isto é, num ponto mais profundo que aquele do raciocínio e do pensamento conceitual. (...) a música aparece-lhes como o meio privilegiado que saberá atingir diretamente o ser afetivo, sem passar pelas representações e pelas ideias. Age imediatamente na alma”.
Na literatura brasileira, passando pela alienada Macabéa, de Clarice Lispector, ou pelos personagens machadianos, maníacos/melancólicos, de O alienista e Dom Casmurro; pelo tristíssimo Jeca Tatu, de Monteiro Lobato, ou a melancolia de Fabiano, sinhá Vitória, em Vidas secas (1938), de Graciliano Ramos, não faltam exemplos. No caso de Vidas secas, na construção de um dos maiores personagens da literatura brasileira, a meu ver, a cadela Baleia, esse sentimento de tristeza e apatia é terrível. Não à toa, a figura do cão estava associada a esse humor desde a antiguidade.
Assim, a lista de melancólicos “literários” não termina. É mais ou menos como o verso de “A felicidade”, de Tom & Vinicius: “Tristeza não tem fim”.
Na literatura e teatro universais, ninguém pode ter humor tão verdadeiramente melancólico como o príncipe melancólico Hamlet. Ou o colérico e ao mesmo tempo melancólico, o Cavaleiro da Triste Figura, o Quixote, de Cervantes. Falaremos sobre eles, ainda.
Se o humor é uma válvula, um escapamento, a ironia literária, dentre os vários tipos de ironia, é um gatilho. Ela tem caráter geralmente crítico, como é o caso indefensável dos contos de Voltaire (1694-1778). Falo de Mennon (1750), Zadig (1757) e Cândido (1758). É impossível abraçar tudo aqui. Mas fica a lembrança de um dos mais irônicos e venenosos autores da Terra.
Uma das funções da ironia é fazer o leitor buscar seu próprio rumo no texto, além do escrito. Mais: além do que ele mesmo lê. Ela não nasce por decreto ou técnica. É uma força latente, transconsciente. Ocorre mais no universo dos personagens, da trama ou da linguagem em si, que no paupérrimo mundo do autor. É uma trilha evanescente para ele, esse escavador de vazios. Isso o fascina, é sua terra e sua tara. Ele só se completa quando o leitor lê o que ele não escreveu. Não somente pela troca de sinais, pelo efeito retórico, a ironia vulgar, o riso ou choro vulgares. A ironia é, sobretudo, linguagem. Por isso seu reino é o mesmo da literatura. Talvez alguns versos do poema “Autopsicografia”, de Fernando Pessoa (1988-1935) possam explicar, em parte: “... Na dor lida sentem bem,/ Não as duas que ele teve,/ Mas só a que eles não têm”.
Os exemplos desse humor na literatura, repito, não param.
Para um ficcionista, a ironia está entre suas melhores performances ou transgressões: se completa no prazer de invadir de verdade uma outra mente, a mentalidade de alguém ou de um tempo, uma maneira de pensar, o estado de espírito de quem (não) o lê, como a luz do sol ao atravessar a copa das árvores.
Essa ironia é uma atitude diante da questão da linguagem, e também a força da hybris ao desafiar os deuses da nossa existência e experiências.
Para entender esse provocante jogo e seus paradoxos, o leitor não precisa ser tão autodestrutivo quanto Philip Roth. Nem ser especialmente leitor de Freud, é claro. O Nobel de Literatura em 1949, William Faulkner (1897-1962), por exemplo, nunca o leu. Assim ele diz em entrevista a Jean Stein Vanden Heuvel, na Paris Review, em 1956: “Todo mundo falava de Freud quando eu vivia em Nova Orleans, mas nunca o li. Nem Shakespeare o leu. Duvido que Melville o tenha lido, e tenho certeza de que Moby Dick não o fez”.
Esse mesmo irônico Faulkner da entrevista comparece com seu humor indisfarçável, na “trilogia dos Snopes”, ambientada no “Sul Profundo” estadunidense. Seus romances que tratam da ganância dos americanos no pós-guerra. É o mesmo humor que aparece quando o autor aborda o racismo, a violência e o horror, como no conto “Folhas rubras” (1930), outra obra-prima.
Assim, temas comuns à condição humana (o envelhecer e o morrer, a maldade, a falha moral, o defeito, que nos fazem rir), nos levam também a criar e alimentar defesas psíquicas, esconder a agressividade, grosso modo. O humor, tanto quanto as artes, é uma dessas saídas, ligadas à vida, em franca contraposição à morte. Para a psicanálise, simbolicamente, um tipo de sublimação, de repressão. Na vida real, uma forma de não perder totalmente a graça de sobrevivermos aos sofrimentos. De sair da posição de vítimas de nossa condição, para ver a vida através de outras janelas.
4. As janelas de Tchekhov
Segundo o dramaturgo russo Anton Tchekhov (1860-1904), a realidade pode ser vista tanto pela janela do cômico como pela do trágico. Além dos seus contos humorísticos, “Dois jornaleiros – conto inverossímil”, ou “Sem lugar”, ambos de 1885, podemos nos lembrar do seu primeiro conto publicado, “Carta a um vizinho erudito”, de 1880, que ilustra bem essa ideia de ver o mundo com algum humor, por diferentes aberturas, por extremos e ironias, aqui na voz de seu personagem Siêmi-Bulatov:
“Pois se um homem, o governante do mundo, o mais inteligente dos seres que respiram, viesse de um macaco estúpido e ignorante, então ele teria uma cauda e uma voz selvagens. Se fôssemos descendentes de macacos, então seríamos levados agora aos ciganos para visitar as cidades e pagaríamos por nos mostrarmos um ao outro, dançando sob as ordens do cigano ou sentados atrás das grades do zoológico”.
Como não se lembrar do conto sarcástico e bem-humorado, “O camaleão”? É mesmo uma história engraçada, e, ao mesmo tempo, terrível: certo dia, numa feira pública, um cachorro morde o dedo de um homem. Se estabelece a confusão. Diante disso, o inspetor de polícia é convocado.
“É simples”, ele grita: “o animal deve ser abatido e seu dono, multado”.
Mas então se descobre que o cão pertence ao general. Aí tudo muda de figura, e a opinião do oficial agora é outra. Não o cão: o homem é o culpado. Há outras peripécias no conto, que o aprofundam em outras camadas, mas esse humor e sarcasmo estão bem presentes na obra de Tchekhov.
Isso se acentua mais nos contos. Um exemplo está em “Dramaturgo”, onde critica com humor amargo o grande pastiche que se tornou o teatro russo, à época, lá pelos anos 1880. O gênero vaudeville era um tipo de entretenimento que envolvia canções, monólogos, danças, de fácil assimilação pelo público, e vistos nas ruas e feiras. Um conjunto de fórmulas e convenções estrangeiras que irritava autores como Gógol, esse também bem-humorado, e Tchekhov, entre outros que prezavam por alguma originalidade artística.
O conto é de 1886. Estamos no consultório de um médico. O paciente, autor de teatro, se queixa de falta de ar e alguma tristeza ou depressão. A pergunta do médico é bem comum hoje, no originalíssimo cenário do jornalismo literário brasileiro:
“– Pois bem... E suas peças, quando as escreve?
– Minhas peças? Como lhe explicar – o dramaturgo encolhe os ombros. Tudo depende das circunstâncias...
– Poderia me descrever seu processo de trabalho...
– Antes de mais nada, meu senhor, vêm parar em minhas mãos por acaso ou por meio de conhecidos – eu mesmo nunca tenho tempo para ir atrás disso – alguma coisinha francesa ou alemã. Se ela presta, então eu a levo à minha irmã e alugo um estudante por cinco rublos... Então eles a traduzem, e eu, como o senhor pode ver, adapto-a aos costumes russos: ao invés de sobrenomes estrangeiros, coloco russos... e assim por diante... e isso é tudo... mas dá trabalho! Oh, como dá trabalho...”
O cineasta Woody Allen tentou trazer para o cinema essa ideia das janelas, de inspiração em Tchekhov. A mesma história contada ao modo do drama e da comédia: “Melinda & Melinda”. O resultado é uma película com humor fácil e barato, em contraste com o preço da pipoca. Talvez possa ser exibido nas salas de aula de escrita criativa, a maior diversão, e nada mais.
“Um sorriso que domina paisagens aniquiladas.” A frase está no livro Breviário de decomposição, do filósofo romeno – de expressão francesa – Emil Cioran (1911-1995). Quanto a isso do humor negro, ninguém pode superá-lo. Contudo, essa catalogação não basta para definir seu estilo: humor cáustico, niilismo e desesperança quanto a tudo e todos (“Eu creio nas dilacerações”). Condutor de uma “consciência doente”, ou “consciência do insolúvel”, que fecunda ou é fecundada pela lucidez de um “saber triste”, o autor de Do inconveniente de ter nascido, tem uma visão trágica da vida e estabelece um particular fim para as ilusões:
“O sofrimento abre-nos os olhos, ajuda-nos a ver coisas que de outra maneira não teríamos descoberto. Ele é, portanto, útil unicamente para o conhecimento, e, fora disso, serve apenas para envenenar a existência. O que, diga-se de passagem, favorece uma vez mais o conhecimento”.
5. Satíricon
Enquanto tragédia e comédia são gêneros complementares, o drama satírico tem características únicas. No passado, era ambientado em um mundo primitivo, com elementos de selvageria, mitológico como o dos sátiros, em ambientes agrários, repletos de ogros, peripécias sem fim, fugas, competições, opulentos banquetes e simpósios e encontros eróticos.
Um grande exemplo da sátira nesse ambiente rural? A vida e opiniões de Tristram Shandy, publicado em 1759, de Laurence Sterne (1713-1768). O romance é grande deboche da burguesia no campo, de onde vem o próprio escritor. É um clássico da literatura universal, clássico da bizarrice, do humor, outra obra-prima da sátira.
Sterne influenciou Machado de Assis (1839-1908) como nenhum outro autor. Mesmo quem não leu Sterne e até quem nunca leu Machado sabe disso. A gente ouve dizer isso nas aulas de literatura do Ensino Médio. Isso de “ouvir dizer” ou “saber” parece nos desobrigar de ler. A não ser que uma gringa americana, nas redes sociais, e não um professor nas redes de ensino, desperte nossa paixão exótica pela leitura do mal-humorado Dom Casmurro (1900).
É clara, também, a inspiração shakespeariana na obra de Machado. Ali há seus muitos otelos, como o rancoroso e ciumento Félix, em Ressurreição (1872), ou no tristíssimo e dramático Estevão, em A mão e a luva (1874): “Por mais aborrecível que pareça a ideia da morte, pior, muito pior que ela, é a de viver”; um dos humores de seu hamlet melancólico e trágico; ou o protagonista de Quincas Borba (1891); ou no poema “A morte de Ofélia”, de Falenas (1870), no qual se refere à namorada do príncipe Hamlet. Ou, ainda, em Esaú e Jacó (1904), onde vemos uma variante da célebre cena dos coveiros, de Shakespeare, quando Hamlet está no cemitério e se depara com o crânio do bobo da corte, Yorick. Aqui, Machado, nesta cena melancólica:
“Ainda uma vez, não há novidade nos enterros. Daí o provável tédio dos coveiros, abrindo e fechando covas todos os dias. Não cantam, como os de Hamlet, que temperam as tristezas do ofício com as trovas do mesmo ofício”.
Talvez Shakespeare tenha sido seu “professor de melancolia”. A expressão é do próprio Machado, e aparece no conto “Um apólogo”, de 1885. No entanto, Sterne foi, sem dúvida, seu melhor “professor de sátira e ironia”.
O gênero satírico teve outros excelentes mestres. Dentre eles, Erasmo de Roterdã (1466-1536) — Elogio da Loucura (1509), uma poderosa sátira à religião; Giovanni Boccaccio, (1313-1375), e seu Decamerão (entre 1348 e 1353), uma sátira erótica, cínica, dedicada às mais altas transgressões e perversões morais.
Ninguém foi e talvez nunca será tão amado (e odiado) no gênero como escritor francês François Rabelais (1483?-1553), com destaque para seus livros sobre os gigantes Gargântua e Pantagruel. Sua obra passeia entre o diabólico e o divino. Essas ambivalências presentes em toda perversão: apresentar desafios às leis da civilização. Quaisquer que sejam. Eis é o reino das sátiras. No caso de Rabelais, esses elementos – e mais sua escatologia, sua linguagem obscena – carregam o humor com outra voltagem. Assim, ele expõe as convenções e contradições do seu tempo.
Hoje, seria ou é um autor cancelado, sobretudo pelas feministas, por conta dos seus estereótipos: velhas grávidas, viúvas, freiras libidinosas, damas infiéis; quanto ao corpo da mulher, o retrato picaresco das estrias, dos pelos e da pelancaria, a zombaria quanto ao mênstruo, por exemplo, a ridicularia do corpo, esse grotesco feminino comum nos festejos populares mais alegres da Idade Média.
Mesmo detestado, o mercado sempre recebe novas traduções de Rabelais, cujas críticas aos burgueses e religiosos da época permanecem atuais, porque as sátiras têm isso: nem sempre buscam o riso, mas a crítica ou a denúncia. Afinal, autores como esses eram respeitados como grandes humanistas. Não estavam no mundo somente para fazer graça. Erasmo de Roterdã era teólogo. Boccaccio era um crítico literário importante, especializado na obra de Dante. Rabelais era padre e médico.
Nem só de gigantes da vida real, ou grotescos e glutões descomunais, na literatura, viveu a sátira antiga: o gigante Gulliver, de Jonathan Swift (1667-1745) é modelo bem popular dessa hilariedade associada também à crítica social.
Gargântua, Pantagruel, Gulliver e outros gigantes têm um pai mitológico: o ciclope Polifemo, de Homero. Não à toa, no Canto IX da Odisseia, esses ciclopes são retratados como “arrogantes e sem lei”. No caso do ciclope Polifemo, algo mais bizarro e assustador: “aí dormia um homem monstruoso”. Sua melhor versão está em um drama satírico de Eurípides (480-406 a. C), escrito cerca de 408 a.C. É a história de Sileno, que andava triste por ter sido abandonado pelos deuses e se tornado escravo do ciclope Polifemo, na ilha aos pés do Etna. Então chegam ali Odisseu e seus camaradas. Em uma das cenas, quando o estrangeiro Ulisses exige ser tratado com hospitalidade, o gigante dá uma risada e o ironiza. Polifemo explica aos viajantes o quanto essas leis da hospitalidade não têm a menor importância na sua caverna e, por isso, pode muito bem devorá-los. A meu ver, este é o melhor retrato do autor satírico. Também me parece a melhor expressão dos autores que mais gosto de ler, sempre na fronteira do humano/natural e do selvagem/implacável, em franca oposição ao mundo tolo dos ulisses: tagarelas, demagogos e civilizados.
Hoje, o gênero da sátira é pouco praticado, quase sem nenhuma grande expressão. Nomes como o escritor e romancista inglês Jonathan Coe, de 62 anos, mais lido nos anos 1980, são exceção. O legado da família Winshaw, um dos seus principais títulos, se destaca pela sátira política mordaz. Obras suas mais recentes satirizam implacavelmente a Era Trump. Esta frase dele, citada por seu tradutor para o português, Christian Schwartz, me faz pensar sobre nossa época: “O momento clama por absurdo, caricatura e avacalhação, pois são essas as únicas formas de capturar a realidade atual”.
Esta conclusão talvez explique os gigantes apapagaiados da política, das patriotadas, no mundo inteiro, hoje. Esses vão para além da piada, alcançam a sátira completa, péssima, de um tempo também péssimo, portanto excelente para o humor satírico mais grave, que parece não dar muito as caras nem as cartas na literatura e no teatro atuais, pelo menos.
6. O coro do felizes e satisfeitos
No geral, as elites são mal-humoradas e tristes. Para muitas delas, o humor é perigoso e deveria ficar restrito a algumas circunstâncias ou condições. Talvez daí nasceram as leis elitistas do politicamente correto. Não sei. Só estou narrando um jantar, em certo verão, na Grécia Muito Antiga, para demonstrar como o humor sempre foi usado como regulador social. Aconteceu assim também com os espartanos, com filósofos conservadores como Sócrates.
Xenofonte (c. 430-350 a. C) conta que em certo verão de 422 a. C., um homem chamado Calias convidara o filósofo e seus amigos a um banquete. Estamos falando de gente rica, não do pobre homem da Grécia Profunda. Na narrativa, Xenofonte insere Philip, um gelotopoios, um “produtor de riso”, um cômico, um bufão. Enfim, depois de algumas peripécias em busca de retirar algum riso dos convidados, Philip se vê vencido por dançarinos e músicos. Ao fim, ou para simplificar, termina por conseguir o riso dos convidados, quando ridiculariza os gestos e vozes dos outros artistas. Repito: estamos em um jantar da elite, de celebridades, de ricos e famosos. E aqui vai o conselho de Sócrates para o bufão: sua arte seria mais valiosa se fosse “mais reticente em assuntos sobre os quais não seria falar”. Desse modo, acabaria “com esse desconforto entre os convivas”.
A figura antagônica do bufão aparece lá pelo século V. Eram os puxa-sacos. Eram quase uma profissão nos jantares das elites. Em uma peça de Êupolis, chamada Os aduladores, temos o perfil dessa figura, em trecho superficialmente adaptado:
“Vou ao mercado. Quando descubro um homem rico, me fixo nele. E se, por acaso, o bobo rico fala algo, eu o elogio de forma ruidosa e finjo me deleitar com suas palavras. Então vamos ao jantar – tudo para conseguir um pedaço de bolo, mesmo do mais barato”.
O coro da peça ainda avisa que se o adulador não começar imediatamente com sua adulação durante o jantar será atirado porta afora. É importante manter o humor do anfitrião nas alturas. E você, quais dos dois levaria a um jantar: o puxa-saco ou o bufão? Quem gostaria de ser nesse simpósio ou banquete?
Diferente do deus do filósofo-poeta alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900), um deus da alegria, que dança, ou do arqueólogo francês Salomon Reinach (1858-1932), de um deus risonho,(“Tendo rido Deus [...] Ele gargalhou, fez-se a luz... Ele gargalhou pela segunda vez: tudo era água. Na terceira gargalhada, apareceu Hermes; na quarta, a geração; na quinta, o destino; na sexta, o tempo”), os cristãos dos primeiros séculos eram defensores de um Filho de Deus desprovido de alegria, incapaz de demonstrar qualquer sentido para o humor, que jamais ria, posto em um lugar onde “tinha que estar sempre sério”, como se reclama o verso de Alberto Caieiro.
Estranhamente, essa característica no seu Cristo, o afastava mais ainda de sua dimensão humana, aproximações que Nietzsche e Reinach fazem insistem de apresentar aqui. Essa discussão se Jesus era homem ou deus é bem longa. Tão dogmática quanto engraçada, quanto marcada por ingênuas ficções.
No século XVII, havia grande pressão em torno dessas questões. Isso só contribuiu para a produção de mais humor, de “piadas celestes” cheias de difamação e blasfêmia, com grande indulgência, da opinião pública. Até mesmo da corte. Para conservadores não se escandalizarem, o trecho abaixo não foi tirado do roteiro de paródias da abertura da Olimpíada de 2024. É citado por George Minois (História do riso e do escárnio, traduzido por Maria Elena O. Ortiz Assumpção), e se refere a Tallemant des Réaux (1619-1692), poeta, e riquíssimo, um dos precursores dos quadrinhos, autor de Historiette:
“Em 1646, o cavaleiro de Roquelaure, qualificado por Tallemant des Réaux de espécie de louco que, com isso, era o maior blasfemador do reino ... tendo encontrado, em Toulouse, pessoas tão loucas quanto ele, celebrou a missa num jogo de pela, comungou, conta-se, as partes vergonhosas de uma mulher, batizou e casou cães e fez todas as impiedades imagináveis”.
Tallemant des Réaux era uma figura formidável. Implacável. Desde Luís XIII (1601-1643), a quem detestava, suas críticas miravam os grupos literários da época, como o do castelo de Rambouilet, também bastante ironizado por Moliére (1622-1673). Não escaparam a esse cavaleiro de Roquelaure outras figuras contemporâneas: Pascal (1621-1625), La Fontaine (1623-1662), além de personalidades políticas da altura do cardeal de Richelieu (1585-1642).
Esse Roquelaure foi preso duas vezes por conta desse senso de humor. Nasceu rico, mas caiu em desgraça financeira. Antes de ser um huguenote, era pragmático. Sua conversão ao catolicismo lhe rendeu dinheiro muito útil para tocar a vida. Tinha inimigos em cada esquina da França. Mas havia gente poderosa a seu favor: não é possível “prender um homem de condição por bagatelas como essas”, dizia a corte. Se os crentes de um deus irado o ameaçavam, de novo, à prisão, o blasfemador Tallemant des Réaux, cavaleiro de Roquelaure, replicava, bem seguro: “Deus não possui tantos amigos como eu tenho no Parlamento”.
A despeito dos cristãos de 1646, Deus deve ter um grande senso de humor. Nessa época, a Bancada da Bíblia não vencia todas. Porque nem todos pensam de forma igual, deu certo para Roquelaure.
Natural: nem sempre se ri da mesma coisa. O humor, a comicidade, variam de um tempo para outro, de uma sociedade para outra, dos agentes envolvidos. Exatamente como varia o julgamento do comissário, no episódio do homem mordido pelo cão, no conto “O camaleão”, de Tchekhov. Tudo o quanto levamos muito a sério, hoje, pode não ter sido importante assim ontem, e talvez nem se leve em consideração amanhã, senão como uma anedota infantil.
Naquela mesma época do cavaleiro Roquelaure, um pouco antes, surgia o maior dos cavaleiros de todos os tempos, embora de triste figura, o Quixote, de Cervantes. O primeiro livro é de 1605. O segundo, de 1615. Estamos na Idade Média, considerada “uma época de tristeza”.
Não pode haver livro tão tenro e tão tenso, feito para tantos entretenimentos e entristecimentos. Nenhum livro pode ser mais divertido. Nenhum livro pode ser mais cômico. Nenhum pode ter conteúdo mais trágico. Nenhum engenho romanesco consegue ser mais profundo. Nenhuma obra consegue ser mais poderosa. Você jamais lerá sobre a loucura e a lucidez como da história d’O engenhoso fidalgo D. Quixote da Mancha. Quem não o leu, ainda não saiu do Jardim da Infância da Leitura. É um leitor inferior. Ou triste.
Do que rimos nós, quando lemos as desventuras daquele pobre cavaleiro andante e seu companheiro Sancho Pança? Por que é uma paródia os livros de cavalaria? Um pouco por isso. No entanto, há algo mais nesse “riso tumultuoso” que a obra produz em nós e altera nosso humor. O que nos abala o tempo todo nessa leitura é descobrirmos ali um sujeito de carne e osso, mais osso que carne, cheio de qualidades e defeitos. Rimos de sua precariedade. Rimos porque escarnecem dele o tempo todo. Rimos porque esse riso é uma defesa contra o choro. Rimos do seu corpo, sua sombra, seus movimentos, tanto quanto de como ele se vê e se apresenta, em seus excessos: “Oh, tu, (...) que ousas tocar as armas do mais valoroso andante que jamais tomou espada! Cuida no que fazes, e não as toque, se não queres deixar a vida em paga do teu atrevimento”.
O Quixote nos leva a dois momentos pelos quais o personagem passa o tempo todo: a exaustão emocional e física. Lê-lo, dói. O Quixote uma humaníssima mescla de muitas cores e tecidos, sucessos e fracassos. Em todos os lugares, da Trebisonda ou das terras para além da Taprobana ou Pindorama, dos barões ou cavaleiros, se nos pomos no lugar do Quixote ou de Sancho Pança, o livro é um espelho, como desses côncavos e convexos, onde nos vemos, ora engraçados, ora terrivelmente deformados, no que há de mais censurável em nossos próprios defeitos.
O herói de Cervantes, enfim, esse se defronta com a tristeza infinita diante do mundo vulgar, no universo das cavalarias. Quando o lemos uma segunda vez, nos sentimos mal de termos rido dele. Então, sem que nem mesmo o autor nos tenha pedido, “com lágrimas nos olhos, como outros fazem, leitor caríssimo”, perdoamos e dissimulamos suas faltas, sem mesmo sermos “seu parente nem seu amigo”. Todavia, nosso igual, nosso irmão, desocupado autor.
Outra vez, lemos sobre nós mesmos. O Quixote, de Cervantes, é verdadeiro caleidoscópio das nossas emoções e do nosso humor. Rimos, portanto, de sua falha. E sua falha, sua maior façanha, é tornar-se humano. Melhor que eu, o próprio Cervantes, que detestava citações, no Prólogo, dá a receita (de empatia?) para mais ampla leitura e identificação com seu herói: “Procurai, também que, lendo vossa história, o melancólico se mova ao riso, o risonho ria ainda mais, o simples não se enfade...”
O medo do tédio, do desânimo, da tristeza é, portanto, coisa bem antiga.
7. O admirável Mundo Novo da melancolia
Marte é vermelho. A Terra é azul. Quando Neil Armstrong nos viu lá de cima, viu nossa imensa melancolia. Em sua teoria das cores, Goethe descreve o azul como uma cor que pode induzir sentimentos de tristeza. Na psicologia das cores, de Eva Heller, essa cor está associada à melancolia e introspecção.
O mundo da ficção científica tem esses tristes tons azulados. De Aldous Huxley (1894-1963) a George Orwell (1903-1950) esse é o panorama.
É assim, também, com um dos maiores escritores de ficção científica, Ray Bradbury (1920-2012), onde o azul e a melancolia estão muito presentes nos seus romances e contos. Talvez porque esse seja um traço do povo norte-americano de sua época. Você já leu, dele, Crônicas marcianas (1950)? A cidade inteira dorme e outros contos breves (2008)? Leia. Ali a melancolia é um paralelepípedo irremovível. O plasma onde aquelas criaturas se movem. Ela nos diz que o futuro não é mais que a realidade presa ao passado. Um letreiro de néon, merencório, em mundo lunar, de impossibilidades.
Esse sentimento aparece, de cara, em muitos dos seus títulos, inspirados em textos de outros autores nada solares, mesmo quando falam do Sol: As frutas douradas do sol (1953), inspirado no poema “The Song of Wandering Aengus” (1897), de W.B. Yeats. “Algo sinistro vem por aí” (1962), uma citação em Macbeth, de Shakespeare. E, ainda, em referências a “I Sing the Body Electric”, verso famoso de Walt Whitman.
A ficção científica americana é um pouco resultado das questões sociais e políticas. A Grande Depressão (1929-1939), a Segunda Guerra (1939-1945), a Guerra Fria (1947-1991), além de outros movimentos culturais como a contracultura e os movimentos pelos direitos civis, esses entre as décadas de 1950 e 1960.
Bradbury passou por tudo isso e esse sentimento do mundo, da época, está bem marcado em suas narrativas. Por isso, para mim, ele é quem melhor representa a ficção científica do século XX. E, embora existam essas atmosferas gasosas em sua obra, ele mesmo não me pareceu alguém amargurado ou pessimista. Em 1988, entrevistei-o para a revista Massangana. Ele tinha 88 anos.
“– O senhor crê que já estamos no fim, e que não há nada mais do mundo senão uma profunda nostalgia?”, perguntei.
Ele respondeu:
“– Imaginamos um futuro que será bem-sucedido. Eu sou um otimista, e nós conseguimos chegar até aqui, não conseguimos? Olhe agora, de quão longe viemos: desde os primatas – se daí viemos – ou desde as cavernas. Fomos à Lua e iremos a Marte e para além do universo, então acredito que nosso futuro é seguro e maravilhoso”.
Contemporâneos e conterrâneos de Ray Bradbury, da FC ou não, disputando o mercado editorial ou a fila do pão com ele, eram ainda mais nostálgicos e melancólicos, ou assim parecem em suas obras. Basta ler J.D. Salinger (1919-2010) e seu desencanto. Truman Capote (1924-1984) e o vazio para além do glamour, em Bonequinha de luxo (1958). Sylvia Plath (1932-1963) e a experiência feminina na era pós-guerra, ela mesma lutando com seu planeta particular: a depressão. E como não recordar do teatro de Tennessee Williams (1911-1983) para quem o ambiente familiar é sempre triste e sombrio? Ou John Steinbeck (1902-1968), autor que influenciou Bradbury), reflexo do estado de espírito americano durante a Grande Depressão?
Há muito sofrimento psicológico na vida desses escritores citados. Álcool, drogas, como com Capote, perdas insubstituíveis, como para Tennessee Williams, a experiência no front, na Segunda Guerra, no caso de Sallinger.
Aquela América, da conquista do Velho Oeste à conquista da Lua. Sempre foi o planeta da guerra e da melancolia. Sua literatura é só uma das provas.
Mas, voltando à ficção científica, quem canta o corpo ou homem elétrico, o homem do foguete, canta o homem melancólico? Talvez seja uma pergunta a vermos respondida pelos replicantes melancólicos, preocupados com o sentido da vida, em Androides sonham com ovelhas elétricas? (1968), de Philip K. Dick (1928-1982), outro exemplo onde as questões do humor, o humor negro, principalmente, são elementos importantes na ficção científica.
Há uma cena hilária, ou ambiguamente triste, na qual a esposa de Deckard, o protagonista, decide passar horas e horas em profunda depressão usando, para isso, um dispositivo capaz de alterar seu humor ou provocar algum tipo de empatia e compaixão.
Hoje, as pessoas aprendem sobre empatia com ferramentas como o Design Thinking, a partir de storytellings e debriefs, outro brinquedo importado dos Estados Unidos excelente para a produtividade e os negócios. Maravilhas da psicologia corporativa: inclui empresas e religiões. Talvez estejam buscando as soluções de Androides sonham... : naquela distopia envolta em néon, mal-humorada como um punk velho, onde as pessoas não rezam. Cristo inclusive nem existe. Foi substituído por outro mártir: William Mercer. O cara foi lapidado enquanto subia uma montanha. Apedrejado até à morte.
Assim, quando as pessoas querem se compreender ou acessar uma área superior de sua alma, elas se conectam à “caixa de empatia”. Desse modo, os personagens de Dick podem sentir, de verdade, a dor do outro. No caso, os sofrimentos do messias Mercer. A esposa de Deckard, no romance, é frequente usuária dessas caixas. Meu Deus, isso é a precarização do teatro.
Sigamos em frente. O planeta azul dá voltas. Enquanto lemos a ficção científica cult, o mundo acelera e as caixas de empatia já são reais. Pesquisas do Massachusetts Institute of Technology (MIT), aqui, numa tradução livre, comentam dos projetos:
“(...) Não precisamos imaginar o futuro da ficção científica para perceber o impacto desse dispositivo. Hoje, há várias situações nas quais a empatia, gerada por um dispositivo assim, pode ajudar a promover mudança nas pessoas, como os haptics (sensores simuladores do tato), projetados para estímulos. É fácil imaginar que esse dispositivo possa ser usado para mostrar o ponto de vista de um soldado em um campo de batalha. Um exemplo relevante é a empatia pelos refugiados de áreas devastadas pela guerra, como a Síria. Ao visualizar e sentir a experiência de um civil atordoado em uma área de bombardeio, muitas pessoas se sentiriam mais motivadas a ajudar os refugiados”.
Contudo, os livros de autoajuda, para uso pessoal ou da empresa, os jogos de realidade ampliada ou os brinquedos do MIT não são capazes de acessar a tanta proximidade como faz Harper Lee (1926-2016), na sua “caixa de empatia”, seu romance realista e cheio de vitalismo, O sol é para todos (1960). A tradução do título, no Brasil, já sugere ideias de compaixão e justiça. O romance é uma denúncia contra a apatia das pessoas às desigualdades sociais e o racismo. Em cena, um advogado e sua filha, chamada Scout:
“– Em primeiro lugar, Scout – ele disse – , se aprender um truque simples, vai se relacionar melhor com todo o tipo de gente. Você só consegue entender uma pessoa de verdade quando vê as coisas do ponto de vista dela.
– É?
– Precisa se colocar no lugar dela e dar umas voltas”.
8. A república do clonazepam
Foi esse mesmo Dom Quixote, mais entediado, quem proclamou a república brasileira em 15 de novembro de 1889, sob forma de anarquia constitucional representativa. Assim está no livro de História. Pelo menos na História do Brasil pelo método confuso, de Mendes Fradique (1893-1944), pseudônimo do médico capixaba José Madeira de Freitas. Sucesso editorial no país, durante a década de 1920, o método confuso de Mendes Fradique consiste em uma grande gozação. Seu sarcasmo, contudo, termina por nos falar do Brasil a partir da República Velha, de modo a nos vermos o tempo todo ali. Uma grande mistura de épocas e de personagens, como fosse escrito por algum Zé Limeira, poeta real ou somente imaginado do Nordeste Profundo.
Essa história de Mendes Fradique é uma paródia quixotesca não dos livros de cavalaria, mas dos livros didáticos, onde a verdade se mistura à sátira que resulta numa crítica das mais ácidas à formação de nosso povo e república. “A República do Brasil foi feita antes do almoço”, diz a epígrafe atribuída a Eça de Queirós. A este ponto já estamos pela metade do livro e não importa se isso é verdade ou não, porque a partir dessa leitura construímos nosso próprio juízo, mediado pelo melhor fiel e professor: o humor.
Para simplificar, eis o nascimento de nossa República. A citação é longa, mas difícil de parar de ler:
“Aquele lá é D. Pedro II: admira intimamente a República, mas admira-a de modo sincero, não se expande para guardar as conveniências: tê-la-ia talvez desposado se ela tivesse outra conduta se ele não fosse casado com uma senhora ciumentíssima, a Monarquia, notável pela honestidade e pela sabedoria.
Aquele outro lá é o visconde de Ouro Preto, estadista arguto; conhece o fraco do imperador e vigia-o; odeia a República; é um espião de D. Monarquia, nos passos do monarca.
Junto dele está Robespierre, neurastênico, voluntarioso, atacado de boas intenções.
– E a mulher? – indaga D. Quixote.
– A mulher é a República.
– ?!?!?!
Havia ainda outros personagens menos notáveis. D. Quixote expôs ao sr. Oliveira Lima seu intento; este fez-lhe ver que não se dava com a República, mas havia um amigo comum – Deodoro.
Entretanto, não foi preciso.
Nesse mesmo momento, a mulher, notando o elmo de Mambrino por trás do ombro do sr. Oliveira Lima, veio até a porta, onde, com agradável espanto, encontrou D. Quixote.
Aquela figura lendária encheu-lhe a alma romântica e piegas de uma paixão extravagante e boêmia.
D. Quixote tremeu, tremeu, e não quedaria silencioso se ela não o animasse com uma baforada de fumo em plena cara.
Despedindo-se friamente dos convivas, deu o braço a d. Quixote, que a trouxe à presença do povo brasileiro, dizendo:
– Povo amigo! Está cumprida a minha missão. Aí tendes a República, que tanto reclameis; e eu só lastimo não vo-la ter podido entregar como pretendia: salva e virgem!
E o povo:
– Oh! Ainda que fosse...
Viva a República!”
Como se lê, não falta verdade em Mendes Fradique. À falta de uma melhor organizada e aprofundada História Cultural do Humor ou da Loucura do Brasil, Mendes Fradique nos atende bem. Ou talvez nos falte um manual de psiquiatria mais atualizado. Neste país, a gente ouve o tempo inteiro vivas ao transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, vivas à depressão, vivas aos espectros. Muita gente agora adora se apresentar, assim:
“Prazer, meu nome é fulano, sou TDAH”.
“Ah, prazer, tenho ideação suicida e me chamo sicrana”.
Se a melancolia era uma obsessão no final da Idade Média e quase uma epidemia entre os artistas no Renascimento, se o spleen e o tédio eram os grandes sintomas da modernidade, a grande obsessão das pessoas, hoje, é vender seus transtornos de humor e doenças como qualidade do espírito.
O país é o reino do Rivotril. Do transtorno do humor. Do autodiagnóstico. Tristíssimo. Fora completamente do estereótipo de um povo alegre e fagueiro, somos uma nação criada por várias melancolias: a indígena, e as nostalgias portuguesa e africana. O banzo, africano, misto de tristeza e nostalgia foi, antigamente, considerado mais doença mental que forma de resistência contra a escravidão, como alguns interpretam. Segundo o historiador português António Brásio (1906-1985), os negros foram “atacados pela loucura do banzo”. Claro, você dirá, tinha de ser um português. Não ria. É uma história triste que envolve muitas humilhações, pobreza, suicídios, infanticídios e genocídios.
De onde vem nossa tristeza? Moacyr Scliar cria uma excelente imagem, de a melancolia desembarcando no país como “doenças viajando em navios”, em seu Saturno nos trópicos: a melancolia europeia chega ao Brasil (2003).
Se você quer mesmo entender o humor, não a felicidade, mas a tristeza que não tem fim, vá à biblioteca e procure por esses três estudiosos: Paulo Prado (1869-1943): Retrato de Brasil: ensaio sobre a tristeza brasileira; Gilberto Freyre: Casa-Grande & senzala; e Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Para começar.
Nesta nação dos calmantes, onde todos parecem felizes e melancólicos ao mesmo tempo, um dos temas preferidos do humor é a raça. Desde os estereótipos do português burro aos traços mais desumanizantes do indígena animalizado e infantilizado, e, no caso desses povos quanto dos negros, a uma constante erotização.
Há ainda a carnavalização: a pessoa sadia ri e sorri. A pessoa triste possivelmente está doente. Na civilização do consumo e dos transtornos de humor cada vez mais numerosos, as pessoas sorriem nas selfies, sorrisos largos de felicidade, com seus bicos de pato ou seus olhares entediados, de peixe morto. Do cristianismo e da medicina que associavam a melancolia ao demônio, a um tipo de “melancolia da tarde”, descrita por Machado de Assis, no capítulo VI, de Memórias póstumas... ou da meia-noite ou do meio-dia, para nos lembrarmos do livro do escritor e ativista americano Andrew Solomon, Um atlas da depressão; ou, ainda, o “demônio das antíteses”, como definiu Scliar, somos esses animais estendidos feitos de preguiça e apatia, de inteligência e êxtase.
No Brasil de 1922, o Modernismo prometia reestabelecer a inteligência nacional sob perplexidades e seduções futuristas, em contraponto ao Brasil arcaico, de jecas e tatus. Na literatura, a zombaria com arma para romper a mau humor da velha guarda, estavam em Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e até no jovem ainda não tão sério Sérgio Buarque, que escrevia textos de humor satírico sob pseudônimo, embora todos soubessem de onde vinham. A ideia era quebrar a “monumentalidade intelectualista da cultura brasileira”, como diz Elias Tomé Saliba, autor de Raízes do riso (2008), entre outros, e membro da seríisima International Society of Luso-Hispanic Humor Studies.
“Se o passado nos condena, o futuro é sempre promissor”, diz o exaltado Menotti del Picchia, em 1923. O futuro não era mais a Velha Europa doente mas a América saudável. Quando nós, mais à esquerda, reclamamos de que o Brasil ficou de costas para a América Latina e de frente para os Estados Unidos, a tendência vem desse tempo. De lá para cá, da moda às importações de costumes e pautas, como a mais recente exportação, made in USA, a linguagem woke, é tudo verdade. São somente marcos. Stanislaw Ponte Preta, pseudônimo de Sergio Porto (1923-1968), diria bem, mas já nos anos 1960, da ditadura militar: “É difícil ao historiador precisar o dia em que o Festival de Besteira começou a assolar o país”.
Fiquemos com a premissa científica: o bom humor geralmente é associado à inteligência e à saúde, sobretudo mental. Sorrir é terapêutico. Talvez seja como prometia o título, irônico, da seção de tirinhas humorísticas, na tradicional revista Seleções do Reader's Digest: “Rir é o melhor remédio.” Não havia ainda o Rivotril.
9. "Nunca é tarde e ainda é muito cedo"
Segundo nos conta o neurocientista e estudioso do humor, Scott Weems, certa vez o comediante Gilbert Gottfried (1955-2022) se apresentava, numa noite de 2001, em Nova York, no Friar’s Club. O clube é tão conservador e elitista, que somente em 1988 aceitou a primeira mulher como sócia: e porque era Liza Minnelli.
A apresentação acontecia somente uma semana após o 11 de Setembro. “A cidade ainda cheirava a queimado”, diz Weems. De entrada, Gottfried ganhou a plateia com uma piada sobre muçulmanos. Depois, falou, no microfone, com aquela sua voz alta e irritante:
“Esta noite tenho que sair cedo. Tenho que voar para Los Angeles. Não consegui um voo direto e terei de fazer uma escala no Empire State Building”.
A plateia congelou. As vaias começaram a surgir:
“Ainda é muito cedo para brincar com isso!”
E quando é a hora certa? A forma certa?
Do ataque à revista Charlie Hebdo, em 2011, até hoje, quais os novos limites do humor?
Os limites são a lei e, mais ainda, a interpretação da lei. O assunto se relaciona diretamente à liberdade de expressão. No Brasil, o artigo 5º da Constituição em alguns de seus incisos garantem a “livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato” como também a “livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”.
Essas são as linhas gerais. Mas há as entrelinhas. São quase 80 incisos de direitos diversos e garantias. A liberdade de pensamento é parte da retórica.
No geral, tudo que você disser para exercitar o humor, pode ser usado contra você no tribunal. Para melhor compreensão, deve-se levar em conta o artigo 1º da Constituição, o princípio mais importante de todos, o que garante a dignidade da pessoa humana, com “um valor intrínseco e inalienável, independentemente de sua origem, raça, sexo, religião, condição social, ou qualquer característica pessoal, o qual não pode ser violado”, como acentuam os doutores Fernando Capez e Guilherme Farid Mischi Bou Chebl, especializado em Direito Penal, no seu artigo “Os contornos jurídicos do humor”.
Entre esses dispositivos, estão a Lei 7.116, do Racismo, as leis que tratam da honra de pessoas ou grupos, as que garantem a paz social, o regime democrático, e de combate à violência.
Embora o bom humor seja comum em todas as culturas, não há nada que seja universalmente engraçado. Portanto, ao praticar seu arco e flecha, é bom ficar atento e evitar, por exemplo, motes como o Holocausto da Segunda Guerra (1939-1945); o tráfico de escravos (entre os séculos 15 e 19), o genocídio da Armênia (1915-1923) ou de países como Ruanda (1994), o drama dos imigrantes contemporâneos, entre outros alvos. Mais próximos de nós, o incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, em 2013, são alguns exemplos de tragédias humanitárias sobre as quais brincar pode lhe levar, com grande probabilidade, a um tribunal. Ou da internet ou da justiça. Já foi pior.
A professora Adele Barker, de literatura e cinema, da Universidade do Arizona, nos conta que em 1953, na morte de Josef Stálin, eram cerca de 2,5 milhões de pessoas presas no Gulag, o campo de concentração, para trabalhos forçados, dos soviéticos. Duzentas mil pessoas estavam presas por conta de um dos caputs do código penal da época, que considerava insultos, anedotas, parlendas, epigramas, tudo isso, propaganda antissoviética. Existe uma piada que se pode contar, hoje: “Qual é a diferença entre Stálin e Roosevelt? Roosevelt coleciona as piadas que as pessoas contam sobre ele e Stálin coleciona as pessoas que contam piadas sobre ele”. Piadas como esta, assim se nota, muito estrategicamente ventiladas pelos meios de propaganda norte-americanos.
Mas não somente a ditadura soviética: noutros países, como na França do Antigo Regime, (antes da Revolução Francesa) não se podia contar piadas, como também era crime as ouvir ou anotá-las.
Sim, já foi pior. Mas não quer dizer que não possa piorar.
Em busca de um corolário, pode-se ainda falar: “Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem”. Assim me ensinou o imperador e filósofo Marco Aurélio (121 - 180 d.C).
Eis a simples mecânica da vida. Aceitar a aprender com a dor. O humor deixa tudo ao preço mais justo. Decreta o fim de certo vitimismo. É como, por um instante que seja, possamos repetir o verso do poeta mexicano Amado Nervo (1870-1919): “Vida, nada me deves! Vida, estamos em paz!”
CONTEÚDO NA ÍNTEGRA NA EDIÇÃO IMPRESSA
Venda avulsa na Livraria da Cepe