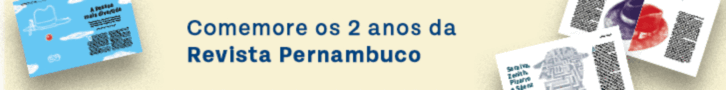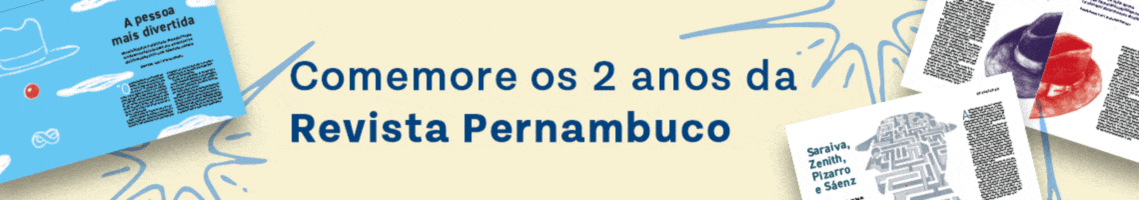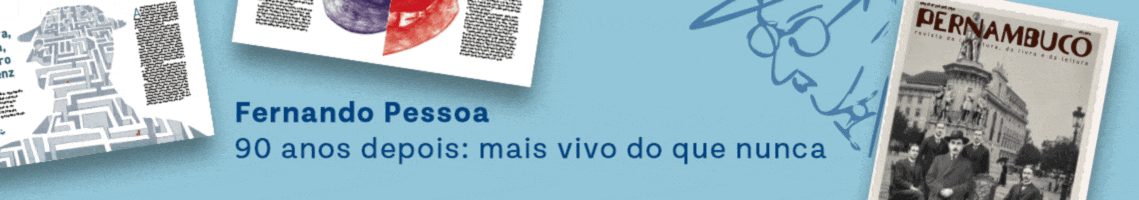Para lembrar o réptil feito de cera e magia do Papiro Westcar, que inicia este ensaio, incluímos ainda nesse mundo da sátira o atormentadíssimo e trágico Dostoievski (1821-1881), e seu conto satírico “Crocodilo” (1865). A história, na verdade, é um “relato verídico de como um cavalheiro de idade e aspecto conhecidos foi engolido vivo e inteiro por um crocodilo...”
Conta sobre um funcionário público, Ivan Matviéitch, vivendo nas entranhas de um animal, a se conscientizar de sua desgraça. É uma da sátira sobre a filosofia, a política, a ciência e mais sobre a economia, poderíamos dizer.
Numa anticronologia, há ali tintas de Kafka (embora A metamorfose só tenha sido publicada 50 anos depois, em 1915) e mais pinceladas do Murilo Rubião (1916-1991) – no seu conto “O ex-mágico da taberna minhota”, só publicado em 1947) –, o russo deixou esse conto inconcluso, contudo ali está bem-definido o forte acento satírico e não especialmente do realismo trágico nos seus romances, por exemplo.
Os exemplos na literatura se ampliam.
O próprio Kafka, citado agora, já garantiria outro artigo, com o seu humor sem margem para qualquer consolação. Ou como disse seu conterrâneo Milan Kundera (1929-2023), em A arte do romance (1986), sobre o cômico em Kafka, que se estabelece “privando as vítimas da única consolação que elas assim possam esperar: aquela que se encontra na grandeza (verdadeira ou suposta) da tragédia”.
Por mais antipáticos que pareçam o sarcasmo e a ironia na expressão do humor, no fundo, trata-se de um reconhecimento de sermos da mesma espécie e de que nossa luta contra a natureza já tem um vencedor: a morte. Então, que possamos rir, porque, como nos ensinou Rabelais: “o último destino humano é rir”. Mesmo segurando fios de eletricidade soltos e desencapados o tempo todo.
No estudo do humor, a melancolia é parada obrigatória. Há uma teoria, obsoleta, a dos quatro humores, que tentava demonstrar o quanto o comportamento humano era influenciado por alguns fluidos corporais: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra.
Segundo essa teoria humoral, estaríamos sujeitos a quatro tipos de “temperamentos": sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico.
A melancolia (etimologicamente, melaina chole), ou acídia, estaria ligada a distúrbios da chamada “bile negra”, que poderia causar variados estados mentais: se mais fria a bile, poderia levar à apatia e indiferença; se mais quente, a estados eróticos “proibitivos”, em especial nas mulheres.
A melancolia é um humor misto de medo e tristeza.
A literatura, o cinema, o teatro, a música adoram personagens melancólicos. Talvez porque para fazer valer a interrogação de Aristóteles: “Por que todos os homens de gênio, no que concerne à filosofia, à poesia ou às artes, são tão melancólicos?”
“Plaine de deuil et de melancolye” (“Pleno de luto e de melancolia”), uma canção composta em 1545 pelo francês Josquin Desprès (c.1440-1521), é um desses exemplos antigos, aqui em tradução livre:
“Cheio de luto e melancolia,
vendo meu mal que sempre se amplia
e que no fim já não posso suportar.
Forçado sou a me confortar
a te devolver o resto da minha vida”.
O tom e o tema não são tão diferentes de “Melancolia” (música de Fernando César), gravada 400 anos depois (1956) pela atriz e cantora brasileira Doris Monteiro, nascida em 1934 e morta em 2023:
“A vida passa e perde a graça
Melancolia
Folhas caindo, alguém partindo
Melancolia
Trazem um dia pra nosso mal
Tristeza e pranto
Melancolia
Ponto final”.
Certamente, o pesquisador Jean Starobinski (1920-2019), autor de A tinta da melancolia, não pensava em Josquin Desprès ou Doris Monteiro quando se referia a certo tratamento para a esse estado de humor, trecho traduzido aqui por Rosa F. d’Aguiar:
“A música, se aproximando muito da poesia, também foi tratamento sugerido pelos especialistas do tratamento moral. Embora a seus olhos a melancolia se cristalize em torno de um núcleo intelectual, de uma ideia fixa, ela deve ser atingida e modificada ao nível dos sentimentos e das paixões, isto é, num ponto mais profundo que aquele do raciocínio e do pensamento conceitual. (...) a música aparece-lhes como o meio privilegiado que saberá atingir diretamente o ser afetivo, sem passar pelas representações e pelas ideias. Age imediatamente na alma”.
Na literatura brasileira, passando pela alienada Macabéa, de Clarice Lispector, ou pelos personagens machadianos, maníacos/melancólicos, de O alienista e Dom Casmurro; pelo tristíssimo Jeca Tatu, de Monteiro Lobato, ou a melancolia de Fabiano, sinhá Vitória, em Vidas secas (1938), de Graciliano Ramos, não faltam exemplos. No caso de Vidas secas, na construção de um dos maiores personagens da literatura brasileira, a meu ver, a cadela Baleia, esse sentimento de tristeza e apatia é terrível. Não à toa, a figura do cão estava associada a esse humor desde a antiguidade.
Assim, a lista de melancólicos “literários” não termina. É mais ou menos como o verso de “A felicidade”, de Tom & Vinicius: “Tristeza não tem fim”.
Na literatura e teatro universais, ninguém pode ter humor tão verdadeiramente melancólico como o príncipe melancólico Hamlet. Ou o colérico e ao mesmo tempo melancólico, o Cavaleiro da Triste Figura, o Quixote, de Cervantes. Falaremos sobre eles, ainda.
Se o humor é uma válvula, um escapamento, a ironia literária, dentre os vários tipos de ironia, é um gatilho. Ela tem caráter geralmente crítico, como é o caso indefensável dos contos de Voltaire (1694-1778). Falo de Mennon (1750), Zadig (1757) e Cândido (1758). É impossível abraçar tudo aqui. Mas fica a lembrança de um dos mais irônicos e venenosos autores da Terra.
Uma das funções da ironia é fazer o leitor buscar seu próprio rumo no texto, além do escrito. Mais: além do que ele mesmo lê. Ela não nasce por decreto ou técnica. É uma força latente, transconsciente. Ocorre mais no universo dos personagens, da trama ou da linguagem em si, que no paupérrimo mundo do autor. É uma trilha evanescente para ele, esse escavador de vazios. Isso o fascina, é sua terra e sua tara. Ele só se completa quando o leitor lê o que ele não escreveu. Não somente pela troca de sinais, pelo efeito retórico, a ironia vulgar, o riso ou choro vulgares. A ironia é, sobretudo, linguagem. Por isso seu reino é o mesmo da literatura. Talvez alguns versos do poema “Autopsicografia”, de Fernando Pessoa (1988-1935) possam explicar, em parte: “... Na dor lida sentem bem,/ Não as duas que ele teve,/ Mas só a que eles não têm”.
Os exemplos desse humor na literatura, repito, não param.
Para um ficcionista, a ironia está entre suas melhores performances ou transgressões: se completa no prazer de invadir de verdade uma outra mente, a mentalidade de alguém ou de um tempo, uma maneira de pensar, o estado de espírito de quem (não) o lê, como a luz do sol ao atravessar a copa das árvores.
Essa ironia é uma atitude diante da questão da linguagem, e também a força da hybris ao desafiar os deuses da nossa existência e experiências.
Para entender esse provocante jogo e seus paradoxos, o leitor não precisa ser tão autodestrutivo quanto Philip Roth. Nem ser especialmente leitor de Freud, é claro. O Nobel de Literatura em 1949, William Faulkner (1897-1962), por exemplo, nunca o leu. Assim ele diz em entrevista a Jean Stein Vanden Heuvel, na Paris Review, em 1956: “Todo mundo falava de Freud quando eu vivia em Nova Orleans, mas nunca o li. Nem Shakespeare o leu. Duvido que Melville o tenha lido, e tenho certeza de que Moby Dick não o fez”.
Esse mesmo irônico Faulkner da entrevista comparece com seu humor indisfarçável, na “trilogia dos Snopes”, ambientada no “Sul Profundo” estadunidense. Seus romances que tratam da ganância dos americanos no pós-guerra. É o mesmo humor que aparece quando o autor aborda o racismo, a violência e o horror, como no conto “Folhas rubras” (1930), outra obra-prima.
Assim, temas comuns à condição humana (o envelhecer e o morrer, a maldade, a falha moral, o defeito, que nos fazem rir), nos levam também a criar e alimentar defesas psíquicas, esconder a agressividade, grosso modo. O humor, tanto quanto as artes, é uma dessas saídas, ligadas à vida, em franca contraposição à morte. Para a psicanálise, simbolicamente, um tipo de sublimação, de repressão. Na vida real, uma forma de não perder totalmente a graça de sobrevivermos aos sofrimentos. De sair da posição de vítimas de nossa condição, para ver a vida através de outras janelas.
4. As janelas de Tchekhov
Segundo o dramaturgo russo Anton Tchekhov (1860-1904), a realidade pode ser vista tanto pela janela do cômico como pela do trágico. Além dos seus contos humorísticos, “Dois jornaleiros – conto inverossímil”, ou “Sem lugar”, ambos de 1885, podemos nos lembrar do seu primeiro conto publicado, “Carta a um vizinho erudito”, de 1880, que ilustra bem essa ideia de ver o mundo com algum humor, por diferentes aberturas, por extremos e ironias, aqui na voz de seu personagem Siêmi-Bulatov:
“Pois se um homem, o governante do mundo, o mais inteligente dos seres que respiram, viesse de um macaco estúpido e ignorante, então ele teria uma cauda e uma voz selvagens. Se fôssemos descendentes de macacos, então seríamos levados agora aos ciganos para visitar as cidades e pagaríamos por nos mostrarmos um ao outro, dançando sob as ordens do cigano ou sentados atrás das grades do zoológico”.
Como não se lembrar do conto sarcástico e bem-humorado, “O camaleão”? É mesmo uma história engraçada, e, ao mesmo tempo, terrível: certo dia, numa feira pública, um cachorro morde o dedo de um homem. Se estabelece a confusão. Diante disso, o inspetor de polícia é convocado.
“É simples”, ele grita: “o animal deve ser abatido e seu dono, multado”.
Mas então se descobre que o cão pertence ao general. Aí tudo muda de figura, e a opinião do oficial agora é outra. Não o cão: o homem é o culpado. Há outras peripécias no conto, que o aprofundam em outras camadas, mas esse humor e sarcasmo estão bem presentes na obra de Tchekhov.
CONTEÚDO NA ÍNTEGRA NA EDIÇÃO IMPRESSA
Venda avulsa na Livraria da Cepe