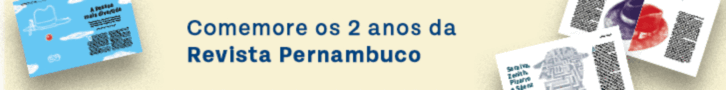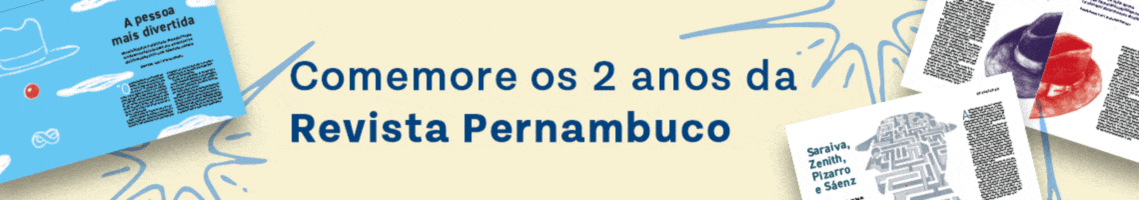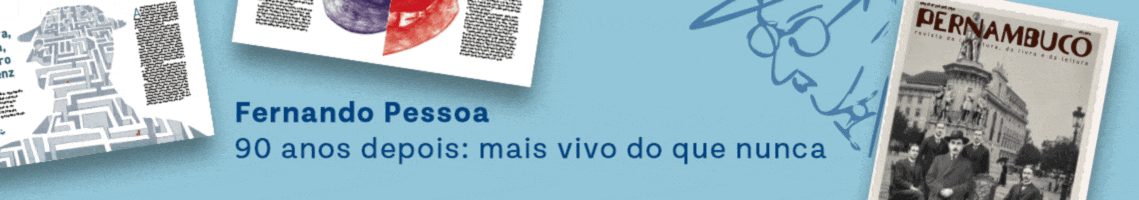Virginia Woolf disse que o senso de humor é a primeira vítima quando se fala uma língua estrangeira. Talvez devesse ter acrescentado algumas palavras restritivas em nome da precisão: quando se fala uma língua estrangeira sem dela ter domínio suficiente para fazer graça com as palavras – para, navegando por um complexo quadro de referências compartilhado, expressar e compreender a alma das histórias cômicas e dos ditos espirituosos.
Isso ocorre porque o senso de humor tem raízes fundas na linguagem, como a poesia. Talvez seja mesmo a mais elevada expressão da inteligência social humana, aquilo que nos leva a reconhecer de imediato, pelo brilho no fundo do olho ou pelo sorriso de canto de boca, que à nossa frente está um semelhante, alguém que como nós nasceu, ralou os joelhos, fantasiou monstros no escuro, brincou de pique, se apaixonou; alguém que sabe que um dia vai morrer. Tenho medo de quem não tem senso de humor, ou melhor, de quem tem um senso de humor tão diferente do meu, que o maravilhoso ato de rirmos juntos se torna impossível.
É por isso que a IA pode ser capaz de reproduzir e reciclar piadas – por enquanto, convenhamos, de forma hilariamente canhestra –, mas por definição não tem a menor pista do que seja o senso de humor. Podemos supor que alienígenas hipotéticos também não tenham; nem guaxinins, orcas ou platelmintos. O humor é humano. E mesmo assim uma grande parte da crítica literária garante que ele é um recurso menor, até mesmo baixo, do qual escritores dotados de verdadeira ambição artística deveriam manter distância.
Eis um troço que acaba com o meu humor. Seria bom esses defensores da suprema gravidade literária nos esclarecerem quando foi que a suposta regra entrou em vigor, pois é evidente que ela não valia nada quando, na virada entre os séculos XVI e XVII, dois sujeitos muito engraçados – e que viveram o mesmíssimo período histórico, morrendo com apenas um dia de diferença – inventaram a moderna literatura ocidental. Não faltam gargalhadas nas obras de Miguel de Cervantes e William Shakespeare, nem mesmo aquelas do tipo que uma sensibilidade contemporânea classificaria como grosseiras, por estarem ligadas ao humor escrachado ou físico.
O dramaturgo inglês chegou a ser um cultor do trocadilho, forma concentrada de poesia aplicada que há algum tempo ganhou do senso comum o epíteto de “mais baixa forma de humor”. Paulo Rónai já botou essa ideia torta em seu devido lugar, lembrando que o trocadilho tem nobreza – se muita gente abusa dele de modo cretino, o problema está, evidentemente, no abuso e na cretinice, não no trocadilho. Este, em sua forma mais inteligente, serviu até a Jesus Cristo: “Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja”.
Adiantou o Rónai dar a letra? Adiantou nada. O lobby anti-humor tem poder. Vai ao ponto de ignorar o fato clamoroso de que o maior escritor brasileiro é também um dos grandes humoristas da história da literatura. “Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis”, escreveu Machado de Assis, usando a pena da galhofa e a tinta da melancolia de Brás Cubas, o defunto autor, num dos romances mais ferozmente cômicos de que se tem notícia. E outra vez não adiantou nada.
Se fica assim provado que a regra furada dos sisudos também não vigorava no século XIX, será que ela entrou em cena no XX, junto com o Modernismo? Tampouco é o caso, como prova, entre muitos outros, o impagável James Joyce. Quem sabe então o funesto evento do falecimento do humor literário possa ser datado do pós-Segunda Guerra, na ressaca dos horrores de um conflito mundial em que morreram 80 milhões de pessoas? Água outra vez.
De lá para cá houve, para mencionar uns poucos nomes, Jorge Luis Borges, Samuel Beckett, Nelson Rodrigues, Campos de Carvalho, João Ubaldo Ribeiro, Clarice Lispector... Espera um pouco – Clarice também? Claro que sim. Basta citar a última frase do conto “A galinha”, em que uma família de classe média se enternece com o patético desejo de viver demonstrado por uma penosa comprada na feira e a poupa de se tornar o prato principal de domingo, transformando-a na “rainha da casa”: “Até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos”.
Quebra de expectativa, desajuste sutil entre forma e conteúdo, ironia, sátira, comédia de erros, inversão de papéis, paradoxos engenhosos, traços exagerados para expor como ridículo o que é ridículo – o humor tem mil facetas, das mais rombudas às mais refinadas, das mais solares às mais sombrias. Tantas que seria aborrecido listá-las aqui. Mais do que a mecânica, o que me interessa apontar é sua potência expressiva, que ao contrário do que muita gente supõe ainda é – e será cada vez mais – imprescindível para a arte em seu desafio de se manter relevante num mundo assustador, à beira do colapso ambiental e mais uma vez enamorado do fascismo.
Volta e meia, ouço alguém dizer que é impossível satirizar monstros tirânicos que são caricaturas em si mesmos, palhaços sinistros como Donald Trump, Jair Bolsonaro e Javier Milei. Ou se queixar de que não se pode mais fazer graça com nada, sob pena de cancelamento, num ambiente em que as palavras são policiadas de todos os lados por grupos de pressão. Recomendo calma. Sendo enraizado na linguagem, é claro que, como esta, o humor está submetido ao fluxo da história. O que funcionava ontem talvez já não funcione hoje; o que funciona hoje pode não resistir até amanhã de manhã.
Nada disso quer dizer que a gente deva deixar o humor de lado, como se a capacidade de rir das nossas desgraças não fosse um dos traços mais encantadores da espécie – quem sabe o único redentor. Quer dizer apenas que precisamos ser humoristas melhores.
Sérgio Rodrigues é escritor e jornalista, colunista de língua e linguagem da Folha de S.Paulo e autor, entre outros livros, dos romances O drible e A vida futura