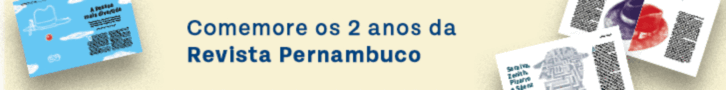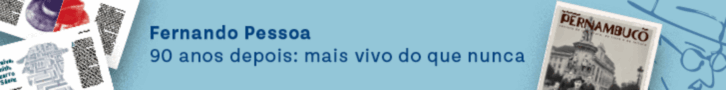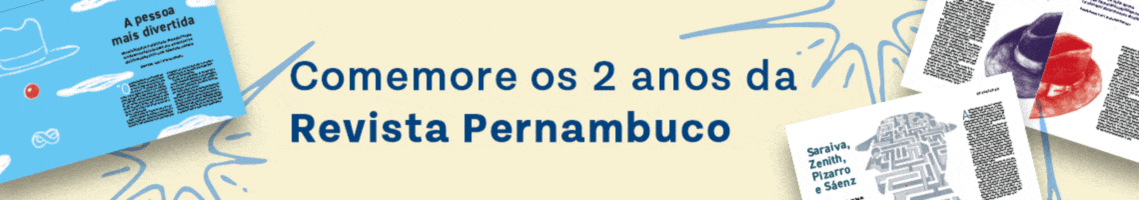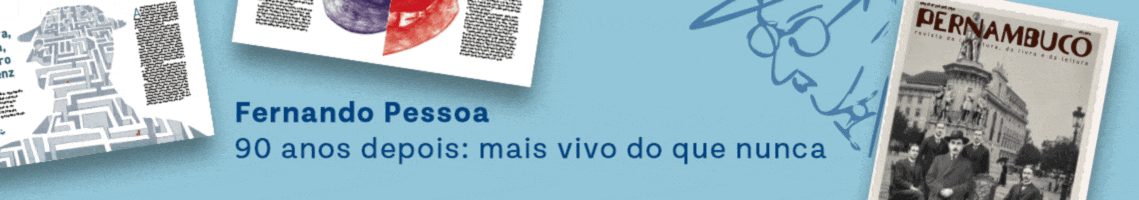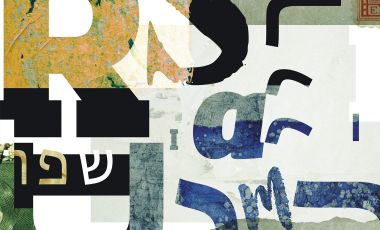Em 1949, o poeta João Cabral de Melo Neto (1920-1999) revela ao poeta Manuel Bandeira (1886-1868) a intenção de ressuscitar outro poeta: José da Natividade Saldanha (1796-1830), uma das vozes mais importantes da Confederação do Equador. Em A escola das facas (1980), o poema “Um poeta pernambucano” traz algo como a descrição da vida daquele “filho de padre e mulato quase negro” (e revolucionário), com quem Cabral de alguma forma termina por estabelecer afinidades.
Naquele mesmo volume, João Cabral ainda eleva a figura de outro revolucionário: Abreu e Lima (1794-1869). Mas a intenção do poeta em mostrar o percurso de Natividade Saldanha, quase nas minúcias de sua vida, serve para dar brilho às marcas históricas ligadas à vida do poeta oitocentista e à sua produção literária.
Em 2017, editei e publiquei Poesias (cuja primeira edição é de 1875), de José da Natividade Saldanha (Cepe Editora).
Neste 2024, dentro das comemorações do bicentenário da Confederação do Equador, coordeno a segunda edição da obra, agora digital, para inaugurar o selo editorial do Arquivo Público de Pernambuco. A edição fica disponível desde já aos leitores da revista Pernambuco e do Brasil.
Fiz questão de dedicar aquela nova edição de um poeta revolucionário do passado aos poetas revolucionários de Pernambuco posteriores a ele. Motivo similar a este se pode ver no interesse invulgar de Cabral pela obra de Natividade Saldanha. Ela não traz muitas invenções. Pelo contrário, é bastante conservadora quanto à forma: sonetos, odes, quadras, elegias, cantatas, idílios... Isso, contudo, não impede Cabral de encontrar virtudes nos versos e na vida do conterrâneo.
Sua vida & morte foram “cinematográficas”. Viveu como revolucionário. Foi perseguido por conta de suas ideias e sua cor. Esteve à frente de um governo que ousou ser republicano, bem antes de isso ser possível no Brasil. Empenhado em abolir a escravidão muito tempo antes da Abolição.
Além de sua obra poética, publicou alguns opúsculos de interesse para a história do direito e da política na América Latina. Exemplo disso é sua Dissertação jurídica, cujo tema é o matrimônio em suas relações entre o direito canônico e as questões divinas. Escrita em português, mas publicada em Caracas, na gráfica de José Núñez de Cáceres, em 1825. Ainda publicou, em espanhol, o Discurso teológico político sobre la tolerancia, en que se acusa y refuta el escrito titulado La Serpiente de Moisés, também em Caracas, impresso na gráfica de Tomás Antero, em 1826.
Quem se interessar por conhecer mais detalhes de sua vida, deve recorrer, como recorri, ao seu contemporâneo, o também revolucionário Antônio Joaquim de Mello (1794-1873) e a um estudo de Argeu Guimarães (1892-1967). Mas quem quer ler um verbete feito com muita justiça pode fazê-lo agora, sem mudar de página e de tela, no perfil escrito por Artur Mota (1879-1936), quando se refere aos nossos mártires e heróis:
“A figura do herói não justifica o motivo da estima pública pelo poeta pernambucano. A sua auréola de popularidade provém da circunstância do malogro, sobretudo dos martírios que soube curtir, com estoicismo, durante o seu amargurado exílio. O mártir é mais admirado do que o herói. O poeta é mais amado do que o revolucionário. Apreciemos, por conseguinte, Natividade Saldanha na sua dupla função artística e social”.
A imagem heroica destoa barbaramente daquela apresentada pelos versos de João Cabral para nos contar a cena final da vida de Saldanha: “Numa noite em Bogotá, /de temporal terremoto,/ vindo de um latim que dava,/ foi-se no enxurro de um esgoto”, que fica mais clara e terrível ainda no depoimento de João Francisco Ortiz:
“Numa noite de chuva, ao passar pela vala que corre em frente ao hospital de S. João de Deus, resvalou e caiu, e ficou provavelmente sem sentidos com a pancada que recebeu, porque não pôde safar a cabeça de dentro das águas, e afogou-se ali, num ribeiro insignificante, quem antes pudera livrar-se das ondas encapeladas do canal da Mancha. Pobre Saldanha…”
No oferecimento daquelas Poesias, e vendo o interesse de Saldanha pela América Latina, eu tinha em vista poetas revolucionários do continente, mesmo aceitando o argumento de alguns historiadores não acharem tão válidas essas relações da Confederação do Equador com outros levantes libertários na América Latina.
Meu argumento: o século XIX foi o século das rupturas, das independências, da América Latina. Este é um marco político dos mais significativos. A partir desse século se começa a discutir a democracia, a participação popular, as eleições. Os grandes momentos na luta pela independência no continente, de forma mais gradual ou radical, são liderados por visionários como Simón Bolívar (1783-1830) e José de San Martín (1778-1850).
Bolívar contribuiu para a independência e formação da Venezuela (1811), Colômbia (1819), Peru (1821), Bolívia (1825) e Equador (1830). José de San Martín esteve à frente de várias regiões da América do Sul, e sua atuação foi determinante para a independência da Argentina (1816) e do Chile (1818), ao lado de Bernardo O’Higgins, e no Peru.
Esses são alguns exemplos dos movimentos libertários na América Latina coincidentes ou nos arredores da Confederação do Equador. O século XIX, portanto, marca a luta contra o domínio colonial europeu, e suas vitórias contribuíram significativamente para a formação dos estados-nações latino-americanos. Claro: uma coisa é se tornar independente, outra coisa é organizar um estado nacional. Esses países tiveram um passo a passo bastante distinto ainda naquele século.
Há os contrapassos. O clímax desses processos de independência na América Latina se deu entre 1808 a 1824. Ou seja, esse auge vai até o ano no qual explodiu a Confederação. Havendo esse tubo, ou essa ola “revolucionária” no período, a Confederação aconteceu precisamente quando a onda descia, quer dizer, o país se tornava uma monarquia, enquanto todas as ex-colônias espanholas (exceto o México, por curto período) se faziam republicanas, e seria exagerado falar em democracia, nesse período, em relação à Confederação. Sempre houve a elite no meio do caminho.
Há outro ponto de contato, ainda, a se considerar nessas relações temporais, ideológicas: a experiência histórica da antiga colônia britânica, os Estados Unidos, uma federação de estados independentes, pode ter servido de modelo para os líderes da emancipacionista Confederação do Equador. Tanto os “confederados” estadunidenses como os da Confederação brasileira estavam ligados por certa influência das ideias republicanas e do modelo de divisão territorial e distribuição do poder político.
Mesmo assim, nesse “melhor dos mundos”, nos EUA, embora independentes (1776), o Estado nacional só se estabelece definitivamente depois da guerra da secessão (1861-1865), onde norte-americanos mataram pelo menos 650 mil norte-americanos.
Aqui, no Brasil, as rupturas não foram tão abruptas até chegarmos à república. Todavia, esses princípios e práticas adotadas pelos Estados Unidos após sua independência, e a divisão de poderes entre o governo federal e os estados, terminaram por influenciar a Confederação do Equador e a atual organização política no Brasil. Não é à toa nosso país, na fase inicial da sua República, ser conhecido como “Estados Unidos do Brasil”. Somente em 1967, no governo militar, o país se torna a “República Federativa do Brasil”.
Porém, sob essa projeção da experiência estadunidense pulsava um coração latino-americano. A Confederação, tivesse dado certo e a separação se desse, de fato e de direito, esse novo país urdido pelas províncias nortistas teria uma constituição inspirada na colombiana. A comprovação de que, sob tais inclinações políticas, a Confederação foi impulsionada pelos mesmos princípios libertários, representados no desejo de autonomia e justiça social, comuns a esses movimentos todos.
Por aqui, de Pernambuco ao Ceará, muitos líderes, inspirados nos ideais da Revolução Francesa e nos acenos libertários na América Latina, viam na Confederação uma oportunidade de se emancipar do jugo português e estabelecer um sistema mais descentralizado. Com bem menos ufanismo do que se costuma propagar hoje em relação ao movimento emancipacionista que foi a Confederação.
Figuras de proa, como Frei Caneca e Cipriano Barata (1762-1838), juntamente com outros letrados e políticos locais, conseguiram mobilizar amplos setores da sociedade em prol daquela causa da autonomia regional. Na pauta, a defesa de princípios como o federalismo, a liberdade de imprensa – ecos da Revolução Liberal do Porto (1820) – e fim da escravidão.
Junto às ideias iluministas, talvez seja bom destacar outra plataforma filosófica e pragmática: o liberalismo, entendido como a defesa da liberdade individual, a defesa da propriedade privada e, lógico, a limitação do poder do Estado. Um dos seus grandes pensadores é o filósofo Adam Smith (1723-1790), com profunda influência, até hoje, na política e na economia. Suas ideias têm como centro a defesa do livre mercado, da descentralização do Estado.
É possível que correntes filosóficas assim tenham também servido de base para a filosofia da Confederação, além de um último ponto, não menos importante: o nacionalismo. Simplificando, essa corrente de pensamento valoriza a identidade e os interesses nacionais de um povo. Eram essas as ideias defendidas pelos filósofos Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) e Giuseppe Mazzini (1805-1872), na luta pela unidade e autonomia das nações, com elementos ideológicos e práticos presentes na defesa da Confederação, a partir das particularidades do, na época, é claro, Norte brasileiro.
O leitor encontrará boas fontes de leitura e pesquisa sobre a Confederação, ou a “Revolução de 24”, no acervo do Arquivo Público do Estado. São séries (Arsenal da Guerra, Assuntos Militares, Correspondências para a Corte, Ouvidores das Comarcas, com destaque para as Ordens Régias...), coleções e documentos avulsos desse período, incluída curiosa proclamação aos “Pernambucanos, amigos, compatriotas meus...”, do brigadeiro-general Francisco de Lima e Silva, despedindo-se do governo civil e militar, fazendo referências à Revolução de 24, que chama de “Guerra civil”.
Se a arte verdadeiramente popular é feita por anônimos, a história parece se valer de nomes com tendência ao borrifamento. Natividade Saldanha é um desses nomes.
O outro, o Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, iniciou sua luta política em 1817. Em 1822, publica Dissertação sobre o que se deve entender por pátria do cidadão e deveres deste para com a mesma pátria. O título sozinho já é um manifesto.
Quando, em 1824, as províncias do Norte se colocam contra o governo central do Império e assim se constitui a Confederação do Equador, abrindo-se o combate franco, Frei Caneca tem papel fundamental. Cuida de registrar esses episódios nas Cartas de Pítia a Damião (“A pátria de direito é preferível à pátria de lugar”), de 1823, e no glorioso Typhis Pernambucano, jornal que editava entre 1823 e 1824.
Como por ironia à ideia de equilíbrio, tendo sido o frei um estudioso e professor de Geometria – trato desse aspecto em conto em sua homenagem no livro Guerra de ninguém (Iluminuras, 2015) –, a historiografia se ocupa de sua vida e de outros revolucionários de forma bastante irregular; mas ele e outros escritores e poetas de revolução merecem melhor destaque.
Com exceção do excelente Frei Joaquim do Amor Divino Caneca (Editora 34), com organização e introdução de Evaldo Cabral de Mello, que reúne suas obras, a vida do Frei Caneca pede maiores estudos e menos esquecimento. O ano de 2025 registrará 200 anos de sua morte.
Nesses casos onde a literatura, os escritos políticos, religiosos, revolucionários, combativos de toda ordem, os pecados não são todos nem somente da historiografia brasileira. Mas das Américas.
Claro, Cuba tem um poeta como herói nacional: José Martí (1853-1895) e seus Versos sencillos ou textos como “Nuestra América”. Note, ele não disse: “Nuestra Cuba”, pois havia uma ideia no ar: o bolivarianismo original que, claro, tem a ver com Bolívar e com os países historicamente bolivarianos como a própria Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Panamá e Venezuela e cujo ponto político e econômico “pacífico”, mas levado a qualquer consequência, é o repúdio à intromissão estrangeira na política e economia dos seus países-irmãos.
Então, você pode ouvir o nome de José Martí ainda hoje nas esquinas de Havana.
Um uruguaio comum ainda se lembrará de José Enrique Rodó (1871-1917), que largou completamente a cátedra e a literatura para se dedicar à revolução.
Mas, quem pode se lembrar, na Colômbia, de poetas como José Fernández Madrid (1789-1830), figura fundamental para a difusão das ideias independentistas no seu país? Ou de Camilo Torres Tenorio (1766-1816), vital à independência da Nova Granada (a atual Colômbia) que, assim como Natividade Saldanha, no Brasil, foi o responsável pela redação dos primeiros documentos revolucionários, seus manifestos de independência?
No Peru, quem ali se recorda de Manuel José de Laverdén (1754-1809)? Embora argentino e não peruano, Laverdén escreveu poemas inflamados que inspiraram o povo a lutar contra o domínio espanhol. Ou, mais ainda, de José Joaquín Olmedo (1780-1847)? Equatoriano, teve atuação literária, por conseguinte política, decisiva para a independência não somente do Peru, como também de outros países sul-americanos? Quem se lembra? Ou de Manuel José Quintana (1772-1857)? Este era espanhol. Mas militava como poeta nas causas independentistas da América Latina.
E no Chile. Quem não se lembrar de Bernardo O’Higgins (1778-1842), certamente não se lembrará de Manuel Rodríguez Erdoiza (1785-1818).
E não faltarão “desaparecidos” no continente. Vozes esquecidas por debaixo das revoluções.
Na Argentina, Vicente López y Planes (1784-1856) talvez possa hoje parecer somente nosso Osório Duque Estrada (1870-1927). Mas há diferença entre estes autores de hinos nacionais: o argentino teve suas ideias libertárias profundamente enraizadas na luta popular.
Quando você for ao México, pergunte lá por José Joaquín Fernández de Lizardi (1776-1827). Era chamado de “O Pensador Mexicano”. Lutava contra o domínio espanhol. Sua obra mais conhecida, talvez não corretamente lembrada é El periquillo sarniento, considerada o primeiro romance da América Latina, publicado em 1816, durante a Guerra da Independência do México, entre patriotas e realistas, estes os representantes da Coroa Espanhola, numa das mais significativas lutas pela independência de uma nação, na nossa América Latina, três anos antes da deflagração da Confederação do Equador.
José Martí, o poeta e líder revolucionário cubano, morreu durante a Batalha de Dos Ríos, em Cuba.
Rodó, autor de Ariel, morreu devido a complicações de saúde, decorrentes de uma pneumonia.
O poeta colombiano José Fernández Madrid morreu durante o Massacre de Cúcuta, também conhecido como Massacre de los Comuneros. Já o outro colombiano, Camilo Torres, morreu durante a batalha de Bárbula, na Venezuela.
Laverdén, se sabe por alto, morreu de um ataque cardíaco, poucos meses antes da Revolução de Maio, ocorrida em Buenos Aires.
José Joaquín Olmedo morreu de tuberculose.
Manuel Rodríguez Erdoiza foi assassinado em circunstâncias nunca explicadas.
O argentino López y Planes viveu uma vida longa, dedicada à política e à literatura.
Nosso Natividade Saldanha morreu em uma sarjeta, em Bogotá.
Frei Caneca teve como última “residência” a cadeia pública do Recife, onde hoje funciona o Arquivo Público do Estado.
Foi condenado à forca.
Seus carrascos se negaram a enforcá-lo, e ele foi executado a tiros de arcabuz, no Forte de Cinco Pontas, no Recife.
Sua morte é lembrada como um dos episódios mais trágicos na história do Brasil e um símbolo na luta pela democracia e pelos direitos humanos.