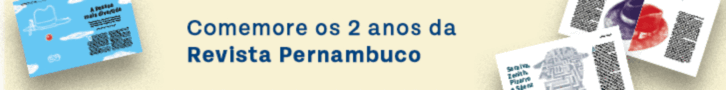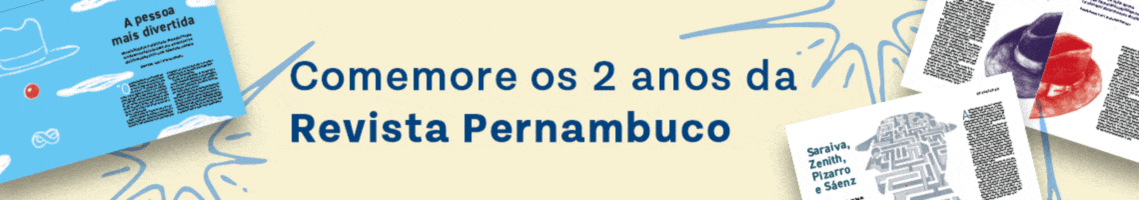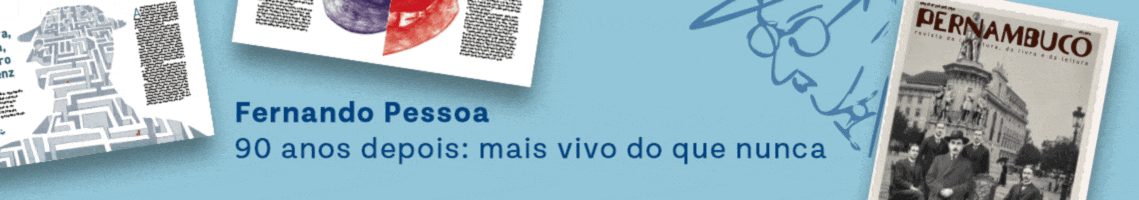O misto de crônica, memórias e entrevistas Sempre Paris, da jornalista Rosa Freire d’Aguiar é um livro que se lê de uma vez, com prazer, repleto de informações importantes, e igualmente recheado por histórias com leveza e humor.
A publicação traz um bom apurado do que era a capital francesa nas décadas de 1970 e 1980: a efervescência cultural que se espalhava pelos cafés e livrarias da cidade luz, a presença maciça de intelectuais refugiados das ditaduras que dominavam o continente sul-americano. E as crises políticas mundiais que repercutiam na Europa.
O relato de Rosa Freire se divide em duas etapas. Na primeira parte do livro ela narra memórias do período. De cara, conta o impacto da chegada, um cômico “embate” entre ela e a porta retrátil que a assustou no Aeroporto de Orly. Ainda desconhecida da brasileira, a porta foi seu cartão de visitas da cidade que a surpreenderia pela mistura entre o moderno e o arcaico.
“Chego a uma porta ampla, envidraçada. Largo a mala no chão para abri-la e, surpresa, a porta se abre sozinha. Olho para os lados, alguém estaria rindo da moça vindo de uma terra lá debaixo do Equador?”, conta Rosa, que fez dessa lembrança o marco do seu primeiro – e engraçado – contato com a cosmopolita Paris.
Como repórter das revistas Manchete – que a enviou como correspondente – e em seguida da recém-lançada Isto É, Rosa Freire pode acompanhar em mais de uma década na cidade, e bem de perto, negociações políticas fundamentais.
Em 1981, chegou a viajar com François Mitterrand, durante sua campanha rumo à Presidência da República, ela no banco do carona e ele na poltrona de trás do veículo. Também esteve no grupo de jornalistas que embarcou em um dos voos inaugurais do avião supersônico Concorde, em janeiro de 1976, no governo de Giscard d´Estaing.
Mas uma das narrativas de Rosa é densa, e mostra que a história se repete em círculos. Em 1982, fez sua primeira viagem à já conturbada Faixa de Gaza. E registrou a seguinte cena.
“Em Rafá, no sul da Faixa de Gaza, encontrei a menininha Rollah, de três anos, que desaprendera a falar e só repetia alhudud – fronteira – desde que os israelenses tinham fincado diante de sua casa uma cerca de arame farpado de dois metros de altura”, escreve.
Apesar da força de seus relatos e da contextualização política europeia, o livro aborda, principalmente, a atmosfera cultural e intelectual que exalava de Paris. Uma cidade que contava à época de sua chegada com “150 suplementos e revistas literárias”, que ela tentava acompanhar. E que possuía nada menos do que 1500 livrarias, número maior, segundo a autora, do que todas as existentes, em 1973, no Brasil.
Rosa também recorda, com bom humor, que o programa dos jovens parisienses na sexta-feira à noite, não era ir aos cafés nem aos dancings. Mas assistir na televisão a “Apostrophes”, de Bernard Pivos, que tinha duração de cerca de duas horas.
“Este, sim, foi um fenômeno francês: um programa semanal de televisão de quase duas horas, em que meia dúzia de escritores discutia sobre um tema. A cláusula pétrea é que todos deviam ter lido os livros de todos. Isso dava muita graça ao programa”, conta Rosa, relembrando que em 15 anos de vida o “Apostrophes” recebeu brasileiros como Chico Buarque, Sebastião Salgado e Jô Soares.
Entrevistas
Apesar da fluidez do texto e dos episódios curiosos que registra na primeira parte do livro, é a segunda que faz Sempre Paris ter valor inestimável.
Nela estão 21 entrevistas realizadas pela repórter com intelectuais de várias áreas. Difícil não ficar inquieto diante do pensamento indignado do filósofo Alain Finkielkraut, que Rosa escolheu para abrir a série de entrevistas.
Sua ácida crítica à evolução dos meios digitais e das novas tecnologias, é de uma atualidade fenomenal. “Vivemos a utopia da cretinização. É uma loucura, pois as pessoas pensam que hoje, ao conseguirmos inventar máquinas geniais, estamos mais inteligentes.”
Ao conversar com o escritor Georges Simenon ouviu que “o jornalismo é uma porta aberta para o mundo. Em poucos anos, um jornalista acumula experiência que outros levam anos para adquirir, e nem sempre conseguem”. Simenon explicava o fato de ter exercido o papel de repórter por muitos anos o havia qualificado para escrever. Parecia um depoimento feito de encomenda para Rosa, que atuou durante três décadas na profissão.
Outro com quem a autora teve uma conversa marcante foi com o dramaturgo Eugène Ionesco, onde a morte e a velhice ganham destaque. Nas confissões que fez a Rosa, ele afirmou que os últimos anos de vida são os mais irritantes, pois “você já sabe tudo o que poderia saber, ou seja, nada sabe e não saberá mais nada”. “É terrível, é inadmissível. E você continua vivo, você não quer ir embora.”
Duas mulheres entrevistadas pela autora também chamam a atenção hoje e provavelmente causaram frisson na época em que falaram. Élisabeth Badinter, “voz atuante no feminismo dos anos 1960”, provocou furor ao colocar em xeque a naturalidade do amor materno, um tema, vale destacar, que retornou forte em escritos contemporâneos. Simone Weil era outra personagem polêmica: foi ministra da Saúde na França, nos anos 1970, e lutou pela legalização do aborto e por outras causas que garantissem a liberdade feminina.
Mas entre as muitas entrevistas, duas, pela proximidade com que nos falam, são tocantes. Rosa flagrou um angustiado Julio Cortázar, que sofreu o exílio político e cultural, apesar de ser celebrado no exterior por obras como O jogo da amarelinha.
“O exílio cultural é infinitamente mais doloroso para um escritor que trabalha em estreita relação com seu contexto nacional e sua língua. Ele destrói de vez a ponte que me ligava a meus compatriotas, leitores e críticos. Sem dúvida aí está uma vitória do regime: cortar o país de sua cultura.” Devido ao teor político das suas falas, essa entrevista de Cortázar foi censurada. Está sendo divulgada pela primeira vez em Sempre Paris.
Também comove a entrevista com um envelhecido Ernesto Sabato, que vinha perdendo progressivamente a visão e que já não podia mais escrever. E surpreende que uma das suas abordagens principais seja sobre ciência, pois ele como matemático e físico de profissão, testemunhou a criação da fissão atômica que desembocaria na bomba nuclear. Descoberta que o fez largar o laboratório de Irene Joliot-Curie e dedicar-se à literatura. “O mal é uma constante da condição humana... Deus pode ter sido um grande cientista ao ordenar o universo. Deus jamais seria um romancista”, declarou o autor de O túnel.
Logo após essas grandes conversas e narrativas, em meados da década de 1980, Rosa Freire d`Aguiar seguiu um caminho alternativo ao jornalismo, dedicando-se à produção de livros e traduções de clássicos da literatura mundial, a exemplo de Montaigne, Céline e Marcel Proust. Ela também organizou o espólio intelectual do seu marido, Celso Furtado, um dos maiores pensadores do desenvolvimento e subdesenvolvimento econômico.
Cinquenta anos depois, a reunião desse material que nos faz mergulhar nos relatos de alguns dos mais importantes pensadores e escritores do século XX, nos alerta que a maioria das questões relevantes à época continuam em pauta. O livro, portanto, soa como atemporal.
Certamente por isso, foi o vencedor na categoria livro do ano do Prêmio Jabuti de 2024. Premiação que surpreendeu a própria Rosa Freire d’Aguiar, que confessou na ocasião que não esperava que isso pudesse acontecer. Talvez nem ela mesmo tenha percebido a proximidade e a atualidade de temas que há meio século vêm sendo remexidos, mas que pouco avançaram. E que continuam postos na mesa à espera de uma solução.