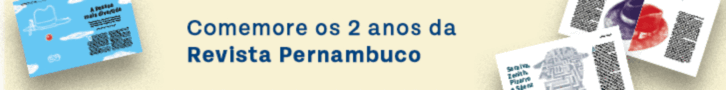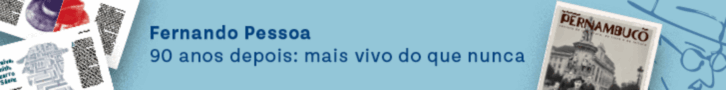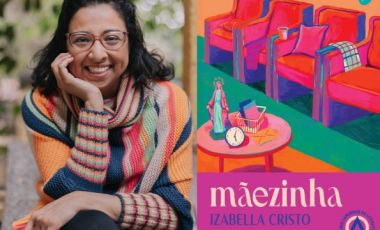O que é ser velho? A resposta vai depender do século, do local e da comunidade da qual se faz ou fazia parte. Se a pessoa em questão fosse um africano (da época em que o tráfico ameaçava suas vidas no continente), certamente seria um membro respeitado da tribo, que viveu muitos anos por honrar os ancestrais. Caso fosse um europeu do mundo greco-romano ou na Idade Média, seria considerado um estorvo, e um ser horrendo, pelos padrões do Renascimento. No Brasil pré-cabralino, o vigor dos velhos indígenas era notável: relatos sobre suas condições físicas e corpos conservados rodaram o mundo na época do Descobrimento.
No Século 19, na época do Império, por sua vez, o velho viveu o auge do seu prestígio: nesse período, moços de 20 e poucos anos faziam o possível para parecer com mais idade, portanto, respeitáveis. Foi a melhor fase para ser velho no Brasil afirma a historiadora Mary del Priore. Ela chegou a essa conclusão, após a publicação do livro Uma história da velhice no Brasil, no qual esmiuçou a saga de velhos desde a Grécia antiga até a época atual, com foco na sociedade brasileira, que tem uma relação com seus idosos cheia de altos e baixos. Uma fase da vida, segundo Mary, que sempre foi pouco estudada e valorizada. Mas que agora, com o crescimento cada vez maior de idosos pelo mundo, especialmente no Brasil, necessita de um olhar mais acurado. Questionada sobre a pergunta inicial, “o que é ser velho”. Mary nos devolve com a seguinte frase. “Somos classificados como velhos pelo olhar do outro, pela sociedade que valoriza a produtividade e a juventude.”
Mary del Priore afirma, ainda, que durante a realização da sua pesquisa, percebeu que “a velhice foi silenciada ao longo da história. Era uma fase associada à inutilidade, ao pecado, ao abandono. A sociedade só passou a enxergar os idosos quando eles passaram a reivindicar espaço.” E alerta para um problema a ser pensado, com celeridade, por toda sociedade: a morte assistida. “Países na Europa, América Latina e vários estados americanos já propõem uma legislação para que os velhos tenham liberdade de escolher como desejam terminar suas vidas. Este será o tema dos próximos anos.”
O livro escrito por Mary del Priore fixa-se principalmente no Brasil, mostrando como se desenvolveu a relação com os idosos e com a morte, desde os anos 1500, até os dias atuais. Mas também analisa o conceito de morte e velhice em várias épocas distintas, revelando que, normalmente, o olhar dos mais jovens nunca foi favorável aos idosos.
Entre muitos exemplos, Mary resgata o ano de 1549, quando Tomé de Souza trouxe mil pessoas - degredados, colonos pobres e fidalgos do governo - para desbravar a Bahia. “A expectativa de vida delas era ínfima: 21 anos. Quem não morresse por acidente, violência ou envenenamento poderia até viver quase tanto quanto os homens de hoje. Mas era praticamente improvável”, explica a autora.
“A instabilidade e a precariedade do cotidiano se encarregaram de torcê-los, triturá-los e de quebrá-los. O mundo era cruel, e a morte batia à porta, não deixando quase ninguém chegar a ter cabelos brancos. Quem partia nas entradas e bandeiras sabia de antemão que podia não voltar… Retratos dessas primeiras velhices? Raros.”
Velhos podem não ter deixado rastros, mas sabiam bem o que era o peso da velhice. No século XVI, a ideia da decrepitude do corpo provocada pelo tempo era dominante entre os europeus. Se na Idade Média menosprezava-se o “farrapo humano” no qual a idade transformava o corpo; no Renascimento, enquanto se exaltava a beleza do jovem, piorava a opinião sobre o ser envelhecido. “A feiura do velho parecia ainda mais odiosa.”
“Mas quem eram os velhos?”, pergunta-se Mary del Priore, e responde: as primeiras tentativas de definir fases da vida remontam à Grécia Clássica a velhice chegava por volta dos 50 anos. Na Idade Média, pesquisadores tentavam ser mais precisos e a estimavam entre os 45 e os 60. Nos anos 1500, o médico judeu Amato Lusitano - foi até mais condescendente e lúcido - registrou em Centúrias Medicinais, publicadas em 1551, os seguintes dados: a velhice chegava aos 60 anos, mas não significava, obrigatoriamente, decrepitude ou degradação física. Um olhar raro.
Enquanto Amato trabalhava em Portugal, pesquisadores que chegavam à América se depararam com o que consideraram o “paraíso”. Os viajantes acreditavam ter chegado ao Éden não apenas pelas belíssimas paisagens, mas pelo vigor dos seus habitantes. No Peru, não era a fonte de juventude que fazia milagres, mas um sistema social bem organizado, que funcionava como uma espécie de INSS, oferecendo aos idosos toda a assistência e segurança necessárias. “Registros da Igreja Católica, em certos vilarejos incas, comprovam que existia uma forte proporção de centenários que fumavam, bebiam e tinham uma surpreendente atividade sexual”, registra a historiadora.
No Brasil, jesuítas e aventureiros também se depararam com a exuberância e vitalidade dos diversos povos encontrados. Um jovem seminarista francês, Jean de Léry, em Viagem à Terra do Brasil, conta a experiência que teve no país. E descreve os velhos indígenas homens como seres superiores.
“Mais fortes, mais robustos, mais entroncados, mais bem dispostos e menos sujeitos às doenças, havendo muitos poucos coxos, disformes, aleijados ou doentios. Apesar de chegarem muitos a 120 anos (sabem contar a idade pela lunação) poucos são os que na velhice têm os cabelos brancos ou grisalhos, o que demonstra não só o bom clima da terra, mas ainda que pouco se preocupam com as coisas deste mundo.”
O teólogo associava a longevidade ao desconhecimento pelos indígenas do que “causava” o envelhecimento nas cidades europeias: “a desconfiança, a avareza, os processos e intrigas, a inveja e a ambição.” Velhos bebiam, fumavam, eram antropófagos, porém tinham atividade física e sexual, formavam um conselho informal a fim de orientar o cacique ou morubixaba. Eram respeitados e obedecidos.
Enquanto os homens eram exaltados, as mulheres foram execradas. A índia velha, com os peitos caídos, tornou-se sinônimo de índia-bruxa. Sua feiura não era um mal, era “O Mal”. Os europeus imediatamente as taxaram de diabólicas e feiticeiras. “Mamas penduradas, caras enrugadas e disformes eram símbolos de feiura tanto moral - a heresia - quanto física - a velhice. Retratá-las a meio caminho entre realidade e ficção, por outro lado, revelava o preconceito que já existia na Europa: velhas eram consideradas bruxas.”
O cristianismo, na verdade, não demonstrava interesse nem piedade pelos velhos. E os pregadores o condenavam. Santo Agostinho foi um deles. “Gostaríamos de poder unir a beleza com a velhice, mas tais desejos são contraditórios; se te tornas velho não espere conservar a beleza, ela fugirá da aproximação da velhice e não podemos habitar numa mesma pessoa a força da beleza com as lamentações da velhice.” Resumindo: o prolongamento da vida não era desejável. Só trazia desgostos e cansaço. E o risco de ser abandonado para não afetar o sustento da família.
Mestiços e negros
Se durante os primeiros anos da colonização do Brasil os velhos eram hostilizados, muitas vezes abandonados e excluídos da vida social, no Século XIX as coisas começaram a mudar. Foi a época, segundo Mary del Priore, em que os anciãos tiveram o ambiente mais receptivo e mais apoio da sociedade.
“A partir do início do século XIX, as cidades litorâneas prosperaram, os velhos encontravam forças na relação com os outros. Sim, na qualidade das relações sociais, como bem determinou a historiadora Kátia Queiroz Mattoso em estudos sobre a Bahia que podem ser replicados por toda parte.”, escreveu Mary del Priore.“Nessa época, a vida pública se misturava à privada, e nelas, redes de apoio mútuo suavizavam o peso da responsabilidade e da possível solidão. A mestiçagem, já avançada, ajudava a contornar segregações e preconceitos.”
Desde a década de 1530, o Brasil começou a receber escravos africanos. Com eles veio também uma maneira de viver e ver a velhice. Ser velho, para os negros, era um dom dos deuses. Entendia-se que a pessoa devia sua longevidade ao fato de ter vivido de acordo com as leis de seus ancestrais. As velhas também ganhavam importância: quanto mais filhos tivessem parido, mas participavam das decisões das comunidades.
Os escravos mais velhos, ao chegar ao Brasil, agiam nas senzalas como pacificadores. Sua ausência elevava o nível de tensão nelas. O princípio de ancestralidade tornava o velho um ser respeitável e até venerável na sua comunidade. Fora dela, corria o risco de se tornar um inútil. Velhos escravos também passaram a aproveitar a morte dos seus senhores para comprar sua liberdade. Mas com cuidado: deixar a comunidade implicava no risco de ser abandonado.
Altos e baixos
Se até o início do Império, a velhice era algo percebido apenas pelos cronistas e viajantes estrangeiros, no Século XI, de fato, tudo ia mudar. A maioria dos velhos passou a ser gentilmente suportada pela família. Um exemplo explícito: ao redor do Imperador Dom Pedro I [24 anos, em 1822], considerado insensato e despreparado para governar, não faltou a presença dos mais velhos. José Bonifácio (59 anos), seu principal auxiliar, já trazia os cabelos brancos. Cândido José de Araújo Viana, marquês de Sapucaí, tinha óculos e cabeça grisalha, apesar de ter apenas Antônio Pereira Rebouças, aos 58 anos, também era grisalho e quase cego.
Para igualar-se a esses sábios experientes, os jovens tinham que parecer velhos. Nesse momento raro da História, idade avançada era sinal de prestígio, e ter barba, também. Os jovens faziam promessas para que ela crescesse e os tornassem confiáveis. Títulos davam respeitabilidade equivalente a uma cabeça branca. Candidatos a eles incluíam negociantes, letrados e mestiços ricos, que seguiam à risca o figurino do “velho respeitável”: “vestidos em sobrecasacas escuras, a caixa de rapé no bolso, batendo nos escravos e nos filhos com bengalas vindas da Índia. Para distinguir as horas que no passado eram marcadas pelos sinos, usavam relógios reluzentes, os patacões.”
“E as dentaduras?”, pergunta Mary del Priore no livro. “Quem as introduziu foi um dentista americano”. Elas eram apresentadas nos jornais, indicadas para a mastigação e digestão. Eram quase um remédio, nunca uma questão estética.
No final do século, por sinal, apareceram os moços-velhos. Como explicou Gilberto Freyre, “foram aparecendo bacharéis de vinte e poucos, vinte e tantos, trinta anos, as suíças e barbas davam a impressão de idade provecta.” Foram tomando o lugar, de fato, dos velhos de verdade. Mas, foi principalmente nesse século que os grandes patriarcas reuniam a família, aglutinavam poder e garantiam as posses e o prestígio. Homens velhos ou envelhecidos pelas responsabilidades que lhes consumiam.
O Século 20 chegou, e com ele o fim de uma Era. Caiam as últimas muralhas de usos e costumes de um tipo de sociedade patriarcal. Nesse período, médicos argumentavam: “O que é a idade? É a expressão do valor fisiológico do indivíduo.” Os anos já não eram o único critério.
A escritora Carolina Nabuco registrou as décadas iniciais do século XX, comentando que a Primeira Guerra Mundial deu início a outra Era. “Sofríamos profundas mudanças nos hábitos sociais e familiares. Maior tolerância e relaxamento tomaram a sociedade. Tudo parecia contribuir para a fusão das classes e das idades. O “você” se tornou de uso corrente abolindo as diferenças de idade e posição.”, escreveu.
Gente como Carolina Nabuco (que morreu aos 91 anos) foi envelhecendo junto com as mudanças Uma velhice diferente da geração anterior. Na década de 1920, surgiram os primeiros aposentados, com a Lei Eloy Chaves, instituída em 24 de janeiro de 1923, através do Decreto nº 4.682. Ela criou as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) para os trabalhades ferroviários. Um marco inicial da Previdência Social no País.
CONTEÚDO NA ÍNTEGRA NA EDIÇÃO IMPRESSA
Venda avulsa na Livraria da Cepe