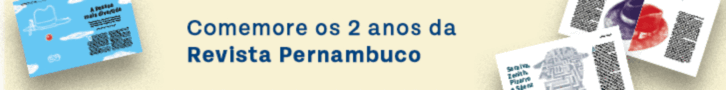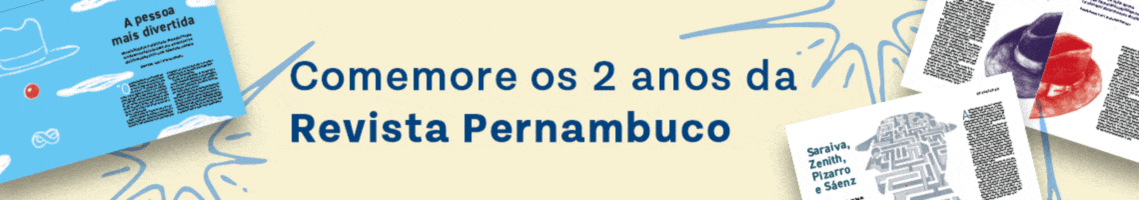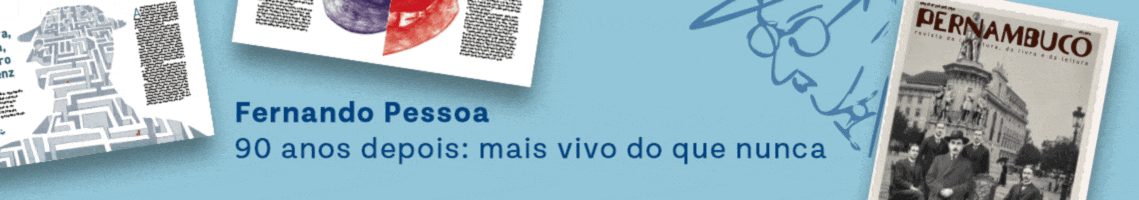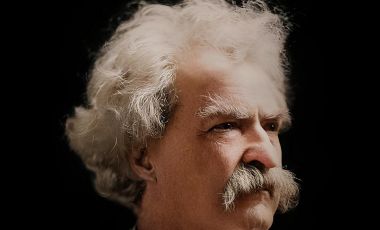A editora Record relança Rasif, mar que arrebenta, contos de Marcelino Freire. A primeira edição, da Edith, é de 2008.
De lá para cá, nesses 17 anos, o autor publicou os contos de Amar é crime (Edith, 2010), o romance Nossos ossos (Record, 2013; Prêmio Machado de Assis) e o mais recente Escalavra (Amacord, 2024), além de Bagageiro, um curioso livro de “ensaios” (José Olympio, 2018). Em 2011, também pela JO, publicou Seleta - Por pior que pareça, com 13 textos escolhidos por ele, que marcam sua trajetória de contista. Entre eles estão “Muribeca”, “Homo erectus”, “Trabalhadores do Brasil” e “Da paz”.
O mercado editorial conhece letra a letra o nome de Marcelino Freire, que antes se autopublicou em AcRústico (1995) e EraOdito (1998). Mas, recebeu melhor reconhecimento a partir dos livros publicados por Plínio Martins, do Ateliê Editorial, dos contos de Angu de sangue (2000) e Balé ralé (2003). Além deles, em 2005, publicou Contos negreiros, pela Record. Com ele, Marcelino venceu o Prêmio Jabuti.
Conheci seu primeiríssimo livro, M saiu do vermelho, escrito ainda no Recife. Inscrito sob pseudônimo, M... — de Marcelino — venceu importante concurso de Pernambuco, cujo prêmio era a publicação do livro. Isso nunca aconteceu. M... terminou se espraiando, se arremessando, e se arrebenta até hoje na obra de Marcelino. De alguma forma, é seu livro mais publicado, de tão secretamente entranhado em outros seus.
À época, Marcelino era “poeta”. Frequentava o grupo Poetas Humanos, junto com a escritora Adrienne Mirtes, o artista Jobalo (morto em 2024), Denis Maerlant, Pedro Paulo Rodrigues e Regi Soares. Lembro-me também de Felipe Caval, livreiro na Livro 7. Estive com o grupo algumas vezes. Uma delas ali no Mustang, um bar underground, à época. Estávamos no comecinho de 1991.
Se éramos a capital manguebeat, nossa literatura era o mangue sem graça, onde circulavam engenheiros, médicos, bacharéis, bedéis, poseurs de escritores, atolados em instituições do século 19, como a Academia Pernambucana de Letras e a União Brasileira de Escritores e outros clubes. Havia algum oxigênio nas oficinas de Raimundo Carrero, de quem Marcelino foi aluno.
Aquele grupo dos Poetas Humanos era bastante crítico. Não se identificava com o passado. Nem propriamente com as dúzias de poetas independentes daquela geração, criada nos recitais nos bares e campi das universidades, conhecidos pelos fanzines e algumas publicações das Edições Pirata. Desconfiavam de tudo; desconfiar é dos humanos, poetas ou não.
O grupo ao qual pertencia Marcelino estava disposto a protestar, como boa parte dos desvalidos. Cuidavam de ler e reler sua própria poesia, contos, peças, ou o que viesse também de alguns forâneos da cena cultural do Recife. Se quisessem dizer algo novo, e não “de novo”. Na Recife escura daquele tempo, respiravam hálitos de uma decadence avec elegance (para lembrar de uma canção da época, de Lobão, tocada na radiola de fichas do Mustang Bar).
Eram todos jovens. Preferiam viver “Dez anos a mil/ Do que mil anos a dez.” Marcelino tinha menos de 25 anos de idade. Já era o self-made-writer de hoje. Estudava cinema. Frequentava cineclubes. Escrevia roteiros. Assinamos um desses — curiosamente chamado “Balada” — eu, ele e Flávia Lacerda. Seus textos eram montados por alguns grupos de teatro de Pernambuco. O autor foi ator dos nove aos 19 anos. Em entrevista ao jornal Cândido, do Paraná, em 2013, confessa seus pudores e timidezes:
“Desisti quando descobri que eu tinha muito pudor para ser ator. Se um diretor chegasse e pedisse para eu tirar a roupa, eu murcharia na hora. Não conseguiria me expor. Escrevendo, eu tiro a minha roupa e a dos outros. Daí, toda vez em que eu escrevo algo, penso em um ator, uma atriz. Enceno as cenas que crio. É uma alegria quando um grupo teatral me procura para levar meus contos ao palco... Há peças que foram montadas — e estão sendo montadas — no Recife, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador.” Leva a sério a brincadeira: “Não sei por que Fernanda Montenegro ainda não me procurou.”
A relação de sua obra com os palcos se consolidou com a montagem do espetáculo Angu de Sangue, em 2003, por André Brasileiro, no Recife. No elenco, estavam Fábio Caio, Gheuza Sena, Hermila Guedes, Ivo Barreto e Marcondes Lima. Assim, criou-se o Coletivo Angu, que levou aos palcos do Brasil outras criações de Marcelino Freire, como Rasif, mar que arrebenta, Ossos, ambas baseadas em livros seus. Ossos teve outra adaptação, de Daniel Veiga, com direção de Kleber Montanheiro, em 2021, que circulou por São Paulo.
Hoje, grupos de teatro do Brasil inteiro montam seus textos. Sempre é possível encontrar sua obra em uma livraria ou em um teatro. Em Rasif, lemos o conto “Roupa suja” e vemos como teatro e literatura são a mesma coisa em sua obra, para além das rubricas e catalogações.
Não amava as beatles songs nem os Rolling Stones
Naqueles anos 1990, Marcelino era um garoto nem gordo nem magro, nem alto nem baixo, quase o tempo todo tímido. Um garoto grave. Sempre grave. O humor era de ferro. Faca-Caos-Lama-Lâmina.
Não havia garotas a fim. Não cantava Help, Ticket to ride ou Lady Jane e Yesterday. Não queria os versos dessas baladas do rock nacional dos anos 1990, mas pegaria os ra-tá-tá-tás da metralhadora para transformá-los em literatura.
M desistiu da rentável carreira de bancário. Do diploma de bacharel em Letras. M foi embora. Em 1991, nos despedimos. Até hoje, M mora em São Paulo. A Fundarpe não publicou seu livro. O banco perdeu um gerente. A universidade perdeu um professor-doutor. O Brasil ganhou Marcelino-escritor.
Saindo do Recife, M saiu do vermelho.
Mas, note: São Paulo o visitou antes de aquele ônibus partir da rodoviária do Recife e estacionar no Terminal do Tietê. Quando tinha 20 anos de idade, tornou-se leitor do poeta Roberto Piva (1937-2010), que curtia mais Jim Morrison, os ritmos do candomblé e do samba-canção, com a cabeça entorpecida pela geração beat. Marcelino se ligou ele mesmo a 2.600 quilômetros de distância.
Chegou a São Paulo, com Angu de sangue, inconcluso, no alforge. Ali estavam “Belinha” e “Muribeca”, ainda escritos no Recife.
Marcelino foi acolhido por críticos do porte de João Alexandre Barbosa (1937-2006), que assina a apresentação de Angu de sangue. Em 2001, aparece na importante antologia Geração 90, manuscritos de computador, do ensaista/escritor Nelson Oliveira. Em 2009, é inserido na Enter: Antologia digital e escolhas, uma autobiografia intelectual, de Heloísa Teixeira, ex-Buarque de Hollanda (1939-2025). Outros joões, Gilberto Noll (1946-2017) e Silvério Trevisan, entre muitos outros, gostaram dos seus escritos.
As datas de vida e morte neste perfil significam muito. Referem-se a amigos que foram levados para a São Paulo e Rasif ontológicos, de Marcelino. Revelam um fato importante entre as gerações: literárias ou não, elas geralmente estão ligadas ou separadas por medos e rancores. No caso de M, seu talento apagou esses medos. Os rancores se transformaram em alegrias e encontros. Marcelino juntou o que o mercado separava. O que as universidades repudiavam, por não entenderem. Não era a “nova” literatura. Mas também não era algo feito “de novo”. Era uma nova forma de andar, de cabeça erguida. Isso entenderam seus contemporâneos. Entenderão as gerações depois desta.
Se o conto era um gênero bem cultivado no Brasil, nos anos 1970, a década seguinte foi menos auspiciosa em tal safra. A partir de 1990, a voz de Marcelino Freire deu novas sementes ao gênero, no mercado editorial e no difícil terreno da leitura no país. Sua poesia & prática no teatro, na literatura, marcada pela leveza em meio à violência, é considerada uma das mais importantes na cena literária do Brasil em quase três décadas. Justamente porque extrapolou a literatura, no sentido estrito, específico, técnico, de reduzida intenção estética, para alcançar seu sentido lato, amplo, extensivo, coletivo: solidário.
Assim, Marcelino se transformou no maior mecenas pobre da América Latina. Conduz a Balada Literária, um dos maiores eventos culturais e literários do Brasil, da paulista Vila Madalena para o Brasil afora, desde 2006.
Nas três vezes anteriores, o termo mercado aparece neste perfil pode ter sido usada com ênfase demais. O autor, coerente com sua trajetória, deu menos importância do que deveria às regras e desejos do Todo-Poderoso mercado. Para ele, a palavra está mais ligada à feira de sábado e ao açougue da cidade de nossos ossos, Sertânia, onde nasceu. Sem romantismos.
Durante esses anos, experimentou formas & fôrmas, publicou por várias editoras, muitas iniciantes (Edith, Mariposa Cartonera), criou selos para algumas e, no seu trabalho de divulgador, organizou antologias como Os cem menores contos brasileiros do século (2018), já na 5ª edição, para o Ateliê Editorial.
Rasifs se encontram até arrebentar
Há a palavra.
A palavra “Recife” deriva do termo árabe ár-raçif, cujos significados vão de “calçada”, “laje “ até “muro de proteção marítima”. A palavra chegou ao Recife por conta da presença moura na Península Ibérica (711–1492). Os portugueses a trouxeram de caravela.
No caso do Recife, a palavra se refere diretamente ao dique de corais no nosso litoral.
Marcelino conheceu o termo e os traços da arquitetura árabe nas construções antigas no Recife e Olinda: são muxarabis, casas com treliças, arcos ogivais, ainda vistos nessas cidades.
Há o povo.
Recife abriga comunidades do mundo árabe. Não confundir com mundo islâmico. Os árabes do Recife são em sua maioria descendentes de imigrantes de origem libanesa e palestina. Eles se concentraram no bairro praieiro do Pina, onde as ondas do Atlântico se/nos arrebentam.
A cidade não tem mesquita. Árabes mais crentes se reúnem para orações regulares no Centro Islâmico do Recife, na rua da Glória, o bairro judeu onde morou Clarice Lispector.
Há também a grana.
Em 2025, Recife firmou um acordo de cooperação com a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira com a Argélia, Egito, Mauritânia e Tunísia. Em Pernambuco, segundo o site Pernambuco em foco, o estado movimentará perto US$ 94 milhões, somente neste ano.
E há a poesia.
“O mar é — mergulha nele quando está calmo… sobre pérolas; mas cuidado quando se agita.”, ensina um dos maiores poetas árabes de todos os tempos: Al-Mutanabbī (913–965). O poeta é citado pelo escritor brasileiro — crente em Deus o Clemente, o Misericordioso, e do profeta Maomé — Malba Tahan, que morreu no Recife, em 1974.
Rasif, de Marcelino, é sobre essa Mauritsstad ou Mauriciópolis, um porto de passagem e ancoragem — de povos, línguas e dores. Um livro para aprendermos a respeitar o mar agitado. Ou sabermos somente contemplá-lo, da praia, como Manuel Bandeira, em “Oceano”, poema de A cinza das horas (1917). A partir de Rasif, todas as ligações se tornam possíveis entre histórias distantes, reais e imaginadas, pelas mil e uma forças da literatura. Uma delas, a de Marcelino.
Essa terceira edição de Rasif, preservou gravuras de Manu Maltez, que sofrem um pouco quando alcançam duas páginas. O prefácio de Santiago Nazarian e o projeto gráfico de Thereza Almeida também foram mantidos. As epígrafes de Miró da Muribeca (1960-2022) e de Lia de Itamaracá são cabeços de amarração. Por isso continuam lá. Elas definem bem a paternidade, maternidade e filiação do livro ao Recife. Há outra epígrafe, ao conto “ponto.com.ponto”, típica história de amor não correspondido, da alma brasileira, da saudade e da pressa. São versos de “Carinhoso”, de Pixinguinha (1897-1963); ali poderiam estar também os versos de outro pernambucano, Antônio Maria (1921-1964), para ficar tudo no coração do Recife: “Mas tem que ser depressa/ Tem que ser pra já/Eu quero sem demora/ O que ficou por lá”, como está no Frevo nº 2. Ao final de tudo, outra epígrafe, ou homenagem a Bandeira, do Recife: “Não faço versos de guerra/ Não faço porque não sei./ Mas num torpedo suicida/ Darei de bom grado a vida/ Na luta em que não lutei.”
Tudo bem apropriado para os tempos de guerra em que vivemos.
Assim, o livro, como o mar, reacaba e recomeça.
O volume de Rasif, também como o mar, cabe no bolso. Explode a cabeça.
A edição vem com aviso na quarta capa: revista e ampliada. Mas não diz detalhes.
Marcelino me explicou: os contos “Inocente”, cujo personagem é um pedófifo, e “tupi-guarani”, não estão nessa nova edição. “Mudei o final de ‘Roupa suja’. Acrescentei um texto, inédito em livro: ‘Trabalhos infantis’”.
Hoje, aos quase 60 anos de idade, Marcelino é mais gordo que magro, usa óculos para ler e roupas coloridas, não especialmente alegres, pois continua grave. Mora na mesma rua Purpurina, na vila, embora a cidade hoje seja outra vilã. Sua literatura não é feita para sorrir nem rir de si próprio. M é seu próprio homem-bomba. Seu livro é uma prova de amor, de ferro, retorcido. É uma arma de reparos, de ajustes. De precisão. Em lamuriosos ra-tá-tá-tás.
Ah, ainda há os marcelinos.
É visto nas centenas de eventos de leitura e literatura pelo país adentro e afora. Todos sabemos que pratica ubiquidades para combater obviedades. Certa vez foi visto em Meca, em São Paulo e em Sertânia e Bagdá, ao mesmo tempo, na horinha em que o mar arrebentava no Recife.